Blanc de Noirs: Quando as tintas viram brancas

A designação Blanc de Noirs, que surge nos rótulos das garrafas, identifica vinhos brancos feitos com uvas tintas. Nesses rótulos, não se nomeiam as castas usadas, que podem ser várias, sendo mais interessante verificar o resultado do que as uvas utilizadas na feitura do vinho. A técnica (se assim se pode chamar) é tão antiga […]
A designação Blanc de Noirs, que surge nos rótulos das garrafas, identifica vinhos brancos feitos com uvas tintas. Nesses rótulos, não se nomeiam as castas usadas, que podem ser várias, sendo mais interessante verificar o resultado do que as uvas utilizadas na feitura do vinho. A técnica (se assim se pode chamar) é tão antiga como o próprio Champagne, uma vez que, quer Dom Pérignon, quer o seu sucessor, o Frère Pierre, se preocuparam em descobrir como poderiam fazer um vinho branco a partir das uvas disponíveis, no caso a tinta Pinot Noir. O famoso monge beneditino ficou para sempre “coroado” como criador do champanhe. Não é verdade, até porque o que mais o preocupava era, a contrario, perceber como poderia eliminar a efervescência que notava nos vinhos, na Primavera a seguir à colheita.
Deixemos-lhe os louros e vamos em frente. Foi, então, a partir de finais do século XVII, que a técnica se desenvolveu, usada para fazer champanhes ao gosto da época, com elevado teor de açúcar residual. Foi preciso esperar até 1874, para que Louise Pommery colocasse, no mercado, uma autêntica bomba: o primeiro Champagne realmente seco, algo inédito e inusitado para a época. O rosé, que em Champagne resulta de um lote de vinhos branco e tintos, vinificados separadamente, ainda hoje é um produto mais raro e mais caro que o branco.
A designação Blanc de Noirs pouco se usa em Champagne, porque a grande maioria é mesmo feita segundo essa técnica, sobretudo a partir de Pinot Noir, mas também de Pinot Meunier.
Entre nós, e sobretudo depois de 2015, quando foi criada a categoria “Baga-Bairrada”, começou a ver-se com mais frequência nos rótulos a designação Blanc de Noirs.
Na Bairrada, a categoria Baga-Bairrada contempla vinhos brancos ou rosados feitos a partir da casta Baga, sujeitos a regras especiais (cor, estágio, etc.) e com essa distinção a ter de vir indicada no rótulo. Até um espumante tinto feito de Baga poderia entrar na categoria, mas, segundo Pedro Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, “até hoje não houve nenhum”. Há, actualmente, 33 referências Baga-Bairrada activas, inicialmente com um desenvolvimento rápido após a criação da categoria, mas, “agora menos, a partir do momento que se alterou o tempo de estágio obrigatório, de nove para 18 meses”. De qualquer forma, com a designação Baga-Bairrada, estamos a falar de 400 000 garrafas por ano, o que é obra.
Na prova que fizemos foi evidente uma grande diversidade de estilos, não sendo evidente, de todo, um padrão aromático que possa identificar a categoria
Estilos bem diversos
Na restauração, a categoria Blanc de Noirs não tem um estatuto que mereça destaque. Raramente se propõe um espumante ao cliente por ser desta categoria ou o cliente o pede com esta designação. Foi o que nos contou Gonçalo Patraquim, sommelier, actualmente a trabalhar nos Açores, no Double Tree by Hilton, Lagoa, S. Miguel. Em vez de “pensar” o espumante em função da cor ou do perfil, Gonçalo Patraquim entende que olha mais “de fora”, ou seja, em função do menu ou do gosto que percepciona no cliente, tanto pode propor um Blanc de Noirs, como um branco de castas brancas (o que é mais habitual). Já no caso de haver um pairing de carácter regional, aí sim, faz mais sentido propor um vinho desse tipo, para ligar melhor com o prato escolhido.
É verdade que nem sempre é fácil distinguir um branco de um Blanc de Noirs. Gonçalo Patraquim, aponta “uma maior percepção de fruta vermelha e menos citrina neste tipo, e será por aí que poderemos tentar adivinhar que estamos perante um Blanc de Noirs. Mas não é fácil”, conclui.
Na prova que fizemos foi evidente uma grande diversidade de estilos, não sendo evidente, de todo, um padrão aromático que possa identificar a categoria. Enquanto na Bairrada a presença da Baga pode ser padrão para vários vinhos, já no Dão ou no Douro, com outras castas e outros tempos de estágio, a diversidade é maior. Com um leque de escolhas assim, e com uma enorme diversidade de preços, o consumidor tem muito por onde escolher.
Uma questão de cor
Ao usar uvas tintas para fazer um espumante branco, temos sempre alguma tonalidade rosada que resulta da prensagem. Pode ser maior ou menor conforme o teor de cor das uvas usadas e da prensagem que se efectuou. Vulgarizou-se a prática da descoloração do mosto, tornando-o com um aspecto mais citrino e menos rosado. Os métodos são vários, desde o carvão vegetal no vinho, bentonite no mosto ou bentonite-caseína no mosto.
O método mais radical denomina-se PVPP (polivinilpolipirrolidona), mas é menos usado por retirar muitos dos bons compostos aromáticos do vinho, ficando o vinho muito “rapado”, termo geral usado para este efeito. Sem usar qualquer produto para retirar cor, a solução é fazer uma prensagem muito, muito suave, sendo normal uma muito leve tonalidade rosada nos espumantes Blanc de Noirs. Para se ter uma ideia do que se obtém de uma prensagem suave, podemos dizer que, a partir de 4000 quilos de uva que entram na prensa, se obtêm 2050 litros da cuvée, a melhor das três partes que resultam da prensagem, descartando-se a primeira e a última, mais rústicas e tânicas, e usadas para outros fins.
(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2025)
*Nota: A ordem dos vinhos apresentados é aleatória
-

Original
Espumante - 2019 -

São Domingos
Espumante - 2015 -

Raposeira Blanc de Noirs
Espumante - 2018 -

Quinta do Poço do Lobo
Espumante - 2022 -

Marquês de Marialva Cuvée Blanc de Noirs
Espumante - 2015 -

Aliança
Espumante - 2021 -

Ribeiro Santo Excellence
Espumante - 2020 -

Real Senhor Blanc de Noirs
Espumante - 2021 -

Casa de Santar Vinha dos Amores
Espumante - 2018 -

Vértice
Espumante - 2013 -

Quanta Terra Éclat
Espumante - 2020 -

Murganheira Vintage
Espumante - 2016 -

Kompassus Assemblage Colecção Privada
Espumante - 2016
SOUSÃO: Entre amores e ódios

Sabemos que tem história antiga e, à falta de melhor prova, acredita-se que tenha nascido no Minho, de parentesco (ainda) incerto. É a casta tinta mais plantada na região, ainda que não fosse dominante nas zonas de Monção e Melgaço. Com referências que remontam ao século XVIII, surge em finais do século XIX já como […]
Sabemos que tem história antiga e, à falta de melhor prova, acredita-se que tenha nascido no Minho, de parentesco (ainda) incerto. É a casta tinta mais plantada na região, ainda que não fosse dominante nas zonas de Monção e Melgaço. Com referências que remontam ao século XVIII, surge em finais do século XIX já como nome actual de Vinhão. No Douro ganhou o nome de Sousão, sinónimo. Ao organizarmos esta prova, resolvemos integrar só vinhos com a indicação de Sousão e, por essa razão, escolhemos apenas um da região dos Vinhos Verdes.
A sua introdução no Douro parece estar relacionada com o abandono da baga de sabugueiro usada durante décadas e décadas, para dar cor aos vinhos. De facto, muitas das mais tradicionais castas do Douro, como Bastardo, Tinta Francisca, Malvasia Preta, Cornifesto, Tinto Cão e Mourisco, entre outras, eram reconhecidamente com pouca cor e a baga de sabugueiro, introduzida nos lagares onde se pisavam as uvas, ajudava a dar cor, uma das características (ainda hoje) procurada nos vinhos que se querem transformar em Vinho do Porto. A Sousão é a rainha da cor, não pela polpa (por isso não é considerada casta tintureira), mas pela extrema intensidade corante da película.
Uma vez chegada ao Douro, a Sousão não deixou créditos por mãos alheias. Faz parte das castas que têm crescido em área, sobretudo desde que se começou a apostar fortemente nos DOC Douro; partilha algum protagonismo com a Alicante Bouschet, uma variedade que, apesar de estar presente nas vinhas velhas, é agora que conhece um alagamento do plantio, gradualmente substituindo a Tinta Barroca e mesmo a Tinta Roriz. Quem usa Sousão reconhece-lhe, além das virtudes corantes, a constância da acidez, que conserva bem mesmo em ambiente de maior calor, factor a ter em conta em tempos de alterações climáticas. “Adoro a casta, sobretudo para fazer um lote de DOC Douro, juntamente com Touriga Nacional e Tinto Cão, que é o meu lote favorito!”. Quem o diz é Luís Soares Duarte, enólogo com largos anos de experiência na região. Reconhece que além da boa acidez, tem um pH baixo, “não é raro encontrar uvas com pH de 3.1 e 14º de álcool provável”. Luís Soares Duarte não esconde que é a componente vegetal que muito o atrai na Sousão, ao lado da “cor mais bonita comparativamente à da Alicante Bouschet”. Para Vintage e LBV, a Sousão pode ser uma excelente arma, pela componente fenólica, embora não seja das mais aromáticas. Mas alerta: “às vezes extrai-se demais e perdem-se algumas das subtilezas que tem, como seja as notas de farmácia e tinta da China”, conclui.
A Sousão é a rainha da cor, não pela polpa vermelha, mas pela extrema intensidade corante da película

Já Álvaro Lopes, chefe de viticultura da Real Companhia Velha, que também usa a casta na Quinta das Carvalhas, apesar de lhe reconhecer as virtudes do factor cor, afirma o seguinte: “porta-se muito mal em vinhas de exposição sul e baixa altitude, caindo facilmente em sobrematuração, o que gera vinhos desequilibrados.” Segundo Álvaro Lopes, para fazer face às alterações climáticas a opção deverá passar por outras castas, como Donzelinho, Tinta Bastardinha (Alfrocheiro) e Tinta Francisca. Se é fundamental num lote de DOC Douro? “Não me parece, até a bairradina casta Baga (que existe dispersa nas vinhas velhas) é preferível à Sousão!”
Diogo Lopes, enólogo, só trabalha a casta no Alentejo, na Herdade Grande. No entanto, reconhece que, com o “novo” clima que temos pela frente, a casta Sousão pode ser um trunfo, não só pela acidez que conserva, como também por aguentar muito bem o impacto da madeira, mesmo nova. “A passagem na madeira ajuda a equilibrar a rusticidade da casta e estou em crer que, ainda que em extensão moderada, se pode apostar na casta aqui no Alentejo. Na Herdade Grande é mesmo o varietal com mais sucesso que temos.”
A casta, não nasceu para ser consensual, antes para provocar acesas discussões. Já não tanto quanto à questão de como deve ser bebido o vinho, se na caneca, se no copo, assunto ultrapassado entre enófilos, mas sim como casta que, cheia de manias e caprichos, pode dar direito a controvérsia. E há lá coisa que se goste mais?
A casta não nasceu para ser consensual, antes para provocar acesas discussões
Mudam-se os tempos
Nas últimas décadas, a Sousão tem conhecido uma significativa alteração de perfil. Se recuarmos até aos anos 80 e 90 do século passado, os Verdes tintos de Vinhão carregavam consigo uma verdadeira chancela “etnográfica”, pois só eram apreciados localmente, onde os consumidores gostavam daquela combinação explosiva que afasta qualquer crítico de vinhos e que inviabiliza o vinho em qualquer concurso: muita cor, excessiva carga vegetal no aroma e, consequente, ausência de fruta, muita acidez, muitos taninos espigados e, frequentemente, baixa graduação alcoólica. Não foi assim de estranhar que tenha ouvido um técnico da Comissão Vitivinícola afirmar: “não comunicamos este vinho nos mercados externos, para além do mercado da saudade.”
Entretanto optou-se por outras práticas vitícolas, os procedimentos em termos de enologia, alterou-se o clima, mudou o gosto do consumidor e, por via disso, os vinhos também mudaram. O desafio agora é, cremos, conseguir que o vinho não perca o seu ADN e, ao mesmo tempo, corresponda ao gosto actual, onde se privilegia um bom equilíbrio entre corpo, acidez e taninos. Baixar intencionalmente a acidez, retirar todos os taninos ou forçar a perda de cor não será seguramente o caminho.
Os vinhos que agora apresentamos têm uma paleta de estilos que permite recuperar o consumidor que andou de costas voltadas ao Sousão/Vinhão. Porém, dá para perceber que se está ainda em fase de “reconhecimento” do terreno: não é por acaso que, à excepção do vinho da Quinta do Vallado, todos os outros são feitos, digamos, em quantidades homeopáticas. Alargam o portefólio e não interferem com a folha Excel…

Em jeito de balanço
Atendendo a que os vinhos apresentam estilos muito variados, é possível agrupá-los pelo perfil apresentado por cada um. Praticamente todos têm uma característica comum: podem ser guardados durante alguns anos. Mas atenção a este tema: os que foram aqui provados dão a ideia (a confirmar em provas futuras) que a longevidade não deverá ultrapassar os cinco ou seis anos, sob pena de se perderem algumas das características mais marcantes da casta.
Feito o balanço, agrupamos os vinhos assim: num perfil mais simples e até, eventualmente, mais consensual – Quinta de Ventozelo e H.O –, com um estilo já um pouco mais evoluído – Quinta dos Aciprestes, Vale da Raposa e Herdade Grande Late Release – e uma versão mais clássica, se tivermos como modelo os Verdes tintos – Quinta de Santa Cristina, Maçanita e Monte Branco; se o nosso gosto apontar para um Sousão, digamos, mais “domesticado”, vamos escolher entre Vallado, Quinta do Côtto, Costa Boal e D. Graça; e se o nosso palato não se incomodar com a presença da madeira e achar que ela envolve a casta e a modela, ficamos com Quinta da Rede e Quinta de São José.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2025)
-

Quinta de Ventozelo
Tinto - 2022 -

Vale da Raposa
Tinto - 2021 -

H.O.
Tinto - 2019 -

Costa Boal
Tinto - 2018 -

Vallado
Tinto - 2021 -

Quinta dos Aciprestes
Tinto - 2017 -

Quinta do Côtto
Tinto - 2022 -

Quinta de S. José
Tinto - 2019 -

Quinta de Santa Cristina Cave
Tinto - 2019 -

Quinta da Rede
Tinto - 2023 -

Monte Branco
Tinto - 2021 -

Maçanita Letra A
Tinto - 2022 -

Herdade Grande Late Release
Tinto - 2017 -

D. Graça
Tinto - 2021
TINTOS DO ALENTEJO: A plenitude de uma região

O Alentejo estende-se da fronteira com Espanha até à Costa Vicentina, desce a Serra de São Mamede, em Portalegre, e propaga-se até ao Algarve. A região, amplamente banhada pelo sol, é moderada por influências marítimas no litoral e pela continentalidade no interior, proporcionando amplitudes térmicas diárias. Apresenta a maior diversidade de solos do país – […]
O Alentejo estende-se da fronteira com Espanha até à Costa Vicentina, desce a Serra de São Mamede, em Portalegre, e propaga-se até ao Algarve. A região, amplamente banhada pelo sol, é moderada por influências marítimas no litoral e pela continentalidade no interior, proporcionando amplitudes térmicas diárias. Apresenta a maior diversidade de solos do país – xistosos, graníticos, argilosos e arenosos, sobretudo –, o que se reflete diretamente no perfil dos vinhos. Portanto, é natural que revelem expressões muito diferentes.
Da herança romana à excelência atual
Habituamo-nos a pensar que o Alentejo é uma região vitivinícola recente, porque confundimos o boom de crescimento com a história do próprio território, que já vai longa. O cultivo da vinha remonta à época romana, como comprovam vestígios arqueológicos encontrados na região, entre eles, grainhas de uva nas ruínas de São Cucufate, localizadas junto à Vidigueira, e antigos lagares atribuídos a esse período. As talhas de barro usadas para fermentar e conservar o vinho também são uma herança romana na região.
O Alentejo viveu várias épocas de ouro e crises profundas: a invasão muçulmana; a aposta do Marquês de Pombal no desenvolvimento do Douro; a praga de filoxera; a primeira guerra mundial e a campanha cerealífera do Estado Novo.
Embora já existissem as referências emblemáticas de Mouchão, Tapada do Chaves, Quinta do Carmo ou José de Sousa, o verdadeiro impulso dos vinhos alentejanos deu-se nas duas últimas décadas do século passado, com a demarcação da região em 1988/89. As grandes marcas, que então surgiram, conquistaram o consumidor através dos vinhos redondos e macios, com fruta madura, muita presença e consistência.
Em 1985, nasceu a marca Esporão. A empresa também viria a ser pioneira no enoturismo, abrindo as portas ao público em 1997. A Fundação Eugénio de Almeida lançou, por sua vez, duas marcas representativas do Alentejo: Cartuxa (1986) e Pêra-Manca (1990). Ambas alcançaram grande sucesso em Portugal e no Brasil, e não só mantiveram a fama, como se tornaram clássicas, competindo, hoje, lado a lado, com as novas estrelas em ascensão.
Na década de 90 aconteceram mudanças significativas no estilo de vinhos alentejanos, com a contribuição de dois grandes enólogos: João Portugal Ramos, que iniciou depois o próprio projecto, e o australiano David Baverstock, que assumiu a responsabilidade de enologia no Esporão em 1992. Antigamente, os vinhos alentejanos ou não passavam por madeira, ou estagiavam em vasilhas usadas, normalmente barricas de 500 litros ou tonéis de maior capacidade. Utilizava-se, sobretudo, carvalho português e, por vezes, até castanho. Com estes dois enólogos, introduziu-se o uso de madeira nova e de meias barricas de carvalho francês e americano. Os vinhos tornaram-se mais estruturados e texturados, com notas de especiaria e a doçura subtil da madeira.
Na primeira década de 2000, surgiram, entre muitos outros produtores, a Herdade do Rocim, a Fitapreta e a Herdade da Malhadinha, que actualmente estão bem consolidados e são amplamente reconhecidos.
Habituamo-nos a pensar que o Alentejo é uma região vitivinícola recente, porque confundimos o boom de crescimento com a história do próprio território, que já vai longa
Investimento na terra
As características do Alentejo e o sucesso junto do consumidor motivaram produtores de outras regiões e até empresários estrangeiros a investir neste território vitivinícola. Apenas alguns exemplos: em 2010, o casal suíço Erika e Thomas Meier adquiriu a Herdade da Cardeira, localizada a Norte de Borba; em 2015, o casal brasileiro Alberto Weisser e Gabriela Mascioli comprou a histórica Tapada de Coelheiros, em Arraiolos; empresário alemão Dieter Morszeck investiu na Quinta do Paral, na Vidigueira, onde reabilitou e ampliou a vinha existente, e comprou parcelas com mais de 70 anos, na zona de Vila de Frades; David Baverstock, em parceria com o empresário inglês Howard Bilton, inaugurou a adega Howard’s Folly, em Estremoz.
Nos últimos cinco a oito anos, produtores do Douro, cientes do potencial do Alentejo, começaram a investir na região. Foi o caso da Symington Family Estates que, em 2017, expandiu as operações para o Alentejo, dando início ao projecto da Quinta da Fonte Souto, em Portalegre, com 43 hectares de vinha entre os 490 e 550 metros de altitude. No mesmo ano, a empresária Luísa Amorim, responsável pela duriense Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e pela Taboadella, no Dão, com o cunho pessoal e familiar, fez renascer a Herdade da Aldeia de Cima, na Serra do Mendro, junto à Vidigueira. Em 2021, António Boal, conhecido pelos vinhos do Douro e de Trás-os-Montes, expandiu a Costa Boal Family Estates para o Alentejo, através da aquisição da Herdade dos Cardeais, perto de Estremoz. Na mesma época, o enólogo duriense Manuel Lobo uniu duas propriedades da família sob a marca Lobo de Vasconcellos Wines.
As sub-regiões do Alentejo: 8 + 1?
A Denominação de Origem Alentejo inclui oito sub-regiões oficialmente reconhecidas: Borba, Évora, Granja-Amareleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos e Vidigueira. Contudo, há um território que reúne todas as condições para se tornar a nona sub-região: Beja. Numa área tão vasta e diversa em solos, relevo e clima como o Alentejo, esta possibilidade não é de todo improvável.
Nos arredores de Beja, faz-se vinho há mais de mil anos. Porém, durante o Estado Novo, os agricultores foram obrigados a dedicar-se ao cultivo do trigo, tornando este distrito o principal produtor de cereal do país. Entretanto, à volta de Beja nasceram projectos de referência, com volumes de produção interessantes, consistência na qualidade, notoriedade e forte aposta no enoturismo, contribuindo para o novo dinamismo vitivinícola da zona. Referimo-nos à Herdade da Malhadinha Nova (1998), Santa Vitória (2002), Herdade dos Grous (2004) e Herdade da Mingorra (2004), que já atingiram massa crítica suficientes para justificar a criação de uma nova sub-região DOC no Alentejo.
Segundo os dados mais recentes do IVV, a Alicante Bouschet assumiu a liderança no Alentejo, com 17,6% da área plantada
Alicante Bouschet e Co.
Aquando da demarcação da região, a área de vinha do Alentejo registava 11 510 hectares. Desde então, não parou de crescer, atingindo, em 2014, 26 066 hectares. Não há dúvida de que hoje a Alicante Bouschet define a identidade dos vinhos alentejanos, especialmente quando falamos de topo de gama. A casta, de origem francesa, chegou a Portugal no final do século XIX. Pela sua longa história e méritos comprovados, conquistou a “cidadania” na região, onde tem mais tradição do que no país de origem.
Segundo os dados mais recentes do IVV, a Alicante Bouschet assumiu a liderança no Alentejo, com 17,6% da área plantada, ultrapassando a Aragonez, que ocupa, agora, o segundo lugar, com 17,2% (embora nos cadastros da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, esta variedade ainda surja em primeiro, devido a um método de contagem diferente).
Produz generosamente, ultrapassando, facilmente, 15 toneladas por hectare, obrigando a controlar a produção (através da poda curta e monda em verde) entre as sete e oito toneladas por hectare, no máximo, para preservar a identidade. Amadurece tarde, mas a maturação completa é de extrema importância, porque tem película e polpa rica em compostos fenólicos. Não estando bem madura, exprime rusticidade, taninos duros e notas vegetais. Plantada no sítio certo, com produção controlada e ao atingir o ponto óptimo de maturação, revela a essência mais nobre: concentração, volume de boca, força, elegância e longevidade. A intensidade corante é o cartão de visita, já que se trata de uma casta tintureira (com polpa corada). Contribui com isto tudo no lote e não se intimida a solo. Só nesta prova de 36 vinhos, a Alicante Bouschet marcou presença em 25, dos quais três são monovarietais.
Líder nacional em área plantada, a Aragonez também está omnipresente no Alentejo. Confere grande estrutura tânica, mas peca por falta de acidez, sendo combinado, geralmente, com castas que entreguem outras qualidades ao lote. As parceiras mais frequentes são Trincadeira, Alicante Bouschet, Touriga Nacional e, por vezes, Cabernet Sauvignon.
A Trincadeira ainda ocupa o terceiro lugar em área plantada, mas não goza da popularidade de outrora, estando em franco declínio. É uma casta antiga, referida desde 1711, e uma das mais tradicionais do Alentejo. Gosta de condições quentes e preserva bem a acidez, mas apresenta algumas vulnerabilidades. Os cachos compactos, combinados com uma película fina e frágil, tornam-na susceptível às podridões. Além disso, a película não a protege do calor excessivo, fazendo com que os bagos se desidratem, enquanto chuvas abundantes podem fazer os bagos inchar e rebentar. Paulo Laureano descreve-a com carinho: “É uma casta muito feminina: se fizermos tudo bem, cada pequena coisinha, ela é extraordinária; se nos enganarmos numa coisa insignificante, é um desastre.” A Trincadeira continua a ter um papel importante nos lotes tradicionais do Alentejo, frequentemente em parceria com Aragonez e Alicante Bouschet. Aromaticamente, apresenta notas vegetais, herbáceas e apimentadas, para além da fruta.
A Syrah é a quarta casta mais plantada neste vasto território e continua em expansão. Há 35 anos, praticamente ninguém a conhecia e não constava na lista das castas autorizadas da região. Entrou “incognitamente” nos encepamentos e nos vinhos alentejanos pela Cortes de Cima, em 1991, e logo conquistou a atenção e o entusiasmo. Hoje, é uma das paixões gerais dos produtores e consumidores da região.
Para a Touriga Nacional, o Alentejo não é o habitat de eleição, mas a maturação longa traz vantagens na adaptação ao clima regional. Suporta bem a seca, mantendo os bagos túrgidos. Aromaticamente expressiva, é muito apreciada nos lotes, embora, por vezes, se torne um pouco dominante.
Há outra casta do Norte que conquista cada vez mais adeptos na região: Touriga Franca. De ciclo longo, adaptou-se bem às condições alentejanas: não perde folhas basais durante a seca e apresenta bom desempenho tanto em lotes, como em vinhos monovarietais, nos anos mais favoráveis. Nesta prova, esteve presente um monovarietal de Touriga Franca da Plansel.
A Castelão, casta tipicamente alentejana dos tempos passados, tem vindo a perder, literalmente, terreno, e a Cabernet Sauvignon, que chegou ao Alentejo antes da Syrah, nunca atingiu o mesmo protagonismo, mantendo-se relativamente estável nas plantações. Esperava-se que, por ser tardia, se adaptasse ao calor da região, mas o clima é demasiado quente para a casta. O enólogo e produtor Hamilton Reis explica que a Cabernet Sauvignon passa rapidamente “de carácter vincadamente verde a sobremaduro”. Na primeira situação, “os taninos mostram dureza e amargor” e, na segunda, “ficam flácidos e com doçura”, comprometendo o equilíbrio. Pedro Batista, da Fundação Eugénio de Almeida, acrescenta que a célebre casta francesa no Alentejo não apresenta consistência, produzindo “vinhos extraordinários dois anos em cada dez”.
Mais duas castas francesas procuram, no Alentejo, condições melhores do que as da sua origem: Petit Verdot e Petite Sirah. A primeira é uma variedade de ciclo longo e muito tardia, que precisa de sol para amadurecer os taninos; em Bordeaux, não teria qualquer hipótese para brilhar, mas, na referida região portuguesa, encontrou o clima favorável. A segunda, Petite Sirah, sinónimo da casta francesa Durif, foi criada, no século XIX, por François Durif, a partir do cruzamento de Syrah com Peloursin Noir. Quase desapareceu em França, mas alcançou grande sucesso na Califórnia e está presente em alguns países do Novo Mundo. No Alentejo, já começa a afirmar-se, superando castas como Tinta Caiada, Tinta Miúda e Tinta Grossa. Amadurece relativamente tarde e revela preferência por climas quentes e secos. Com cachos compactos e bagos pequenos de casca espessa, rica em antocianinas, produz vinhos muito concentrados e estruturados.
Entramos agora nas castas de nicho. Algumas já tiveram grande representatividade na região, mas, agora, estão fora de moda. A Moreto é uma casta antiga, presente no Alentejo desde o século XIX. Vigorosa e bastante produtiva, revela melhor o carácter quando provém de vinhas mais velhas ou é implantada em solos pobres, onde o vigor e a produtividade são naturalmente controlados. É rústica e muito resistente ao calor, o que explica a sua presença histórica na região, acima de tudo nas zonas mais quentes. Amadurece lentamente e tarde, sendo uma das últimas a ser vindimada, mas nunca atinge teores de álcool elevados. Aromaticamente, não é muito intensa, apresentando fruta vermelha delicada e tem vocação especial para vinhos de talha, mas raramente entra nos topos de gama.
A Alfrocheiro é uma das variedades mais antigas de Portugal. Progenitora de Moreto, Castelão e muitas outras castas, é uma casta muito produtiva, se não for controlada, delicada e tem capacidade para produzir vinhos entusiasmantes. Normalmente, entra nos lotes e raramente chega aos vinhos topo de gama. Nesta prova, esteve presente em dois vinhos provenientes de vinhas velhas: Vinhas da Ira, da Mingorra, e Os Paulistas Chão dos Eremitas, de António Maçanita.
A Tinta Caiada é originária do Nordeste de Espanha, onde é conhecida como Parraleta. Em 1900, Cincinato da Costa descrevia-a, na obra O Portugal Vinícola, como “uma casta de grande produção e rendimento, cultivada em larga escala no Alentejo e geralmente apreciada por dar muito vinho”. Referia ainda que “acomoda-se a todos os terrenos, não chegando, no entanto, a amadurar bem nos terrenos baixos e húmidos”. A casta terá recebido o nome Tinta Caiada, devido ao “enfarinhado abundante” que reveste os bagos, lembrando uma poeira branca. Actualmente, são poucos os produtores a apostar nesta variedade, destacando-se a Herdade da Cardeira, a Adega Maior e João Portugal Ramos, nos quais assume protagonismo em vinhos monovarietais.
A Tinta Miúda (conhecida por Graciano, em Espanha, tem muito mais expressão, sobretudo no Norte), existe na região de Lisboa, onde tem dificuldade em amadurecer bem, além de que se revela sensível à podridão. No Alentejo, apresenta bons resultados, com maturação tardia e capacidade de preservar acidez natural sem ganhar muito açúcar (a Baga também tem um pouco este papel no Alentejo). É um componente importante de lotes e Luís Duarte, enólogo na Herdade dos Grous, é fã assumido desta casta. Os vinhos Reserva da casa tinham, inicialmente, no lote Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah, mas, a partir de 2007, esta última foi substituída com sucesso por Tinta Miúda. Torre da Palma é outro topo de gama com Tinta Miúda no lote.
Aquando da demarcação da região, a área de vinha do Alentejo registava 11 510 hectares. Desde então, não parou de crescer, atingindo, em 2014, 26 066 hectares
O típico blend do Alentejo
A Alicante Bouschet é, hoje, a espinha dorsal do blend típico do Alentejo, muitas vezes em parceria com outras castas que também conferem estrutura e até complexidade ao vinho, como a Syrah, a Aragonez e a Touriga Nacional. Às vezes, surge Trincadeira e Cabernet Sauvignon, para mostrar outras facetas e, muito raramente, as castas mais delicadas, como Alfrocheiro, Castelão, Tinta Caiada, Tinta Miúda e Moreto, na qualidade de “sal e pimenta”.
Nos vinhos clássicos é possível acompanhar a evolução do perfil da região ao longo do tempo. Os primeiros Cartuxa Reserva, produzidos desde 1987, eram feitos a partir de Trincadeira, Aragonez e Alfrocheiro, e não se repetiam todos os anos, como recorda o enólogo Pedro Batista. No final da década de 1990, início dos anos 2000, a Alicante Bouschet começou a ganhar protagonismo, geralmente acompanhada por Trincadeira ou Aragonez. No Cartuxa Reserva, apresentado nesta prova, a base é Alicante Bouschet e Aragonez, com um toque de Cabernet Sauvignon.
Outro exemplo clássico é o Garrafeira dos Sócios da CARMIM, criado em 1982 como oferta premium exclusiva para os associados da cooperativa. Os primeiros lotes eram elaborados com castas tipicamente alentejanas, como Castelão, Moreto e Tinta Caiada, entre outras. Mais tarde, o destaque passou para Aragonez e Trincadeira, e a Cabernet Sauvignon começou a integrar o lote. Nos vinhos mais recentes, a Alicante Bouschet assume a maior responsabilidade, como nesta edição, em que a casta predomina, com 55% do lote, tendo a Aragonez um papel secundário, com 30%, e a Cabernet Sauvignon a assumir-se como figurante, com 15%.
A grandeza nasce da precisão
É natural que as castas que retratam uma região estejam sujeitas a modas e tendências, mas também à evolução. Podemos recordar, com um toque de nostalgia, os grandes alentejanos de outrora, que as novas gerações provavelmente nem chegarão a conhecer, a menos que os entusiastas, como António Maçanita, que apostam na preservação das vinhas velhas e nas castas ancestrais, se encarreguem de manter viva essa memória e assegurem que a identidade vínica do Alentejo não se dilua na modernidade. Convém também lembrar: o que ontem foi inovador, amanhã torna-se clássico.
As formas de vinificação também evoluem com o tempo e estão sujeitas às mesmas modas e tendências. Se, nos anos 90, se introduziu a barrica nova de carvalho francês e de capacidade mais reduzida, hoje nota-se o regresso a depósitos de maior volume, não necessariamente de carvalho, e o betão está novamente em destaque. Não estamos perante um ciclo fechado, mas sim de uma nova volta de espiral. Afinal, o grande vinho é sempre uma triangulação de casta, sítio e enologia.
O Esporão Private Selection surgiu, em 1987, como Garrafeira de uma selecção de barricas do Esporão Reserva. Na década de 1990, com David Baverstock, então enólogo responsável, foram plantadas as castas Syrah e Alicante Bouschet, com o objectivo de criar um topo de gama “mais forte, firme e estruturado”. Em 2000, apresentaram oficialmente o Esporão Private Selection. Ao longo dos anos, o lote foi composto por Alicante Bouschet, Aragonez e Syrah; em 2016 entrou a Touriga Franca e, na colheita de 2019, incluíram a Touriga Nacional. Mais importante do que as castas, é o facto de representarem o lote de vinhas, sendo, o vinho, pensado na raiz. A abordagem enológica é ajustada a cada casta e parcela. A Aragonez, a Touriga Franca e a Touriga Nacional fermentaram em lagares de mármore com pisa a pé, mas estagiaram em vasilhames distintos: a Aragonez em balseiros de 5000 litros, a Franca em barricas de 500 litros e a Nacional em barricas de 225 litros. A Alicante Bouschet fermentou em cubas de betão e estagiou em barricas novas de 500 litros.
Este é apenas um exemplo de como a precisão na vinha e na vinificação cria um vinho de grande afinação e complexidade. Os vinhos podem ser feitos das mesmas castas, enaltecendo o traço de uma região, mas a diferença está nas pinceladas finas, na interligação de todos os componentes. Enfim, na precisão.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2025)
-

Torre de Palma Reserva da Família
Tinto - 2017 -

T Quinta da Terrugem
Tinto - 2015 -

Rocim Crónica #328
Tinto - 2022 -

Reguengos Garrafeira dos Sócios
Tinto - 2021 -

Quinta do Paral
Tinto - 2019 -

Quinta da Fonte Souto Vinha do Souto
Tinto - 2019 -

Mingorra Vinhas da Ira
Tinto - 2018 -

Marias da Malhadinha Vinhas Velhas
Tinto - 2021 -

Howard’s Folly Cristina
Tinto - 2019 -

Herdade do Sobroso Élevage
Tinto - 2023
-

Quinta da Viçosa Single Vineyard
Tinto - 2021 -

Quetzal Família
Tinto - 2017 -

Plansel
Tinto - 2023 -

Marmelar
Tinto - 2019 -

Mainova Matremilia
Tinto - 2020 -

Herdade do Peso Parcelas
Tinto - 2020 -

Havendo Tempo
Tinto - 2021 -

Conde d’Ervideira Private Selection
Tinto - 2021 -

Comendador Leonel Cameirinha
Tinto - 2018 -

1808 Field Blend
Tinto - 2017
-

Aldeia de Juromenha Signature
Tinto - 2021 -

Abegoaria dos Frades
Tinto - 2022 -

Tapada da Fonte
Tinto - 2023 -

Santos da Casa Fazem Milagres
Tinto - 2021 -

Santa Vitória
Tinto - 2023 -

Herdade Paço do Conde
Tinto - 2018 -

Herdade dos Grous
Tinto - 2023 -

Tapada de Coelheiros
Tinto - 2021 -

Ravasqueira Premium
Tinto - 2014 -

Quinta dos Cardeais
Tinto - 2019
GRANDE PROVA: PORTO LBV, o futuro aqui tão perto

Era uma vez um bar de vinhos em Lisboa que nasceu no ano da Expo 98. Ali, à revelia do que a legislação autorizava na época, decidiu-se servir vinho a copo; não uma zurrapa que resultava dos restos acumulados das garrafas deixadas nas mesas, mas sim, vinho de marca, de boa marca, servido em bons […]
Era uma vez um bar de vinhos em Lisboa que nasceu no ano da Expo 98. Ali, à revelia do que a legislação autorizava na época, decidiu-se servir vinho a copo; não uma zurrapa que resultava dos restos acumulados das garrafas deixadas nas mesas, mas sim, vinho de marca, de boa marca, servido em bons copos e à temperatura correcta. Ali havia dois Menus de Prova, nome aportuguesado de menu dégustation, constituído por quatro momentos (para usar a terminologia actual). Num dos menus, a sobremesa era servida com Porto LBV e, no chamado Menu Especial, o tal Porto passava a ser Vintage. Tudo raro na época, dos copos Riedel ao menu de prova e com a ousadia do Porto. Menu fixo e, logo, quem o encomendasse, tinha o Porto para beber. Ah e tal “não gosto muito de Porto”, mas, como estava “à mão” e incluído no preço, vamos beber. As surpresas foram mais que muitas. O que mais se ouvia, perante o LBV, eram frases do género: “mas isto é vinho do Porto? Mas eu nunca bebi nada assim! Isto é maravilhoso!” E assim foram muitas as garrafas que ali se consumiram e muitos os consumidores que foram conquistados.
Vamos ver a história de outro ângulo: num dos mais conhecidos restaurantes de Lisboa, daqueles que vendem centenas de garrafas por dia, reparo que, na cave, há muitas garrafas de Porto. Indago: porquê tantas garrafas, se não servem Porto à mesa? Resposta desconcertante de quem manda na casa: “o problema é que se os clientes começam a beber Porto e nunca mais se vão embora e o que eu quero é rodar as mesas!” Não é preciso dizer mais. Se a restauração não aposta no Porto e se as empresas não apostam na restauração ou, para ser mais justo, na promoção em geral, e se o IVDP faz menos do que deveria pela promoção do Porto no mercado nacional, não há grande futuro pela frente. Mesmo que fosse servido como “oferta da casa” ou “mimo do Chef” ou outra designação pomposa, uma garrafa de Porto LBV faria felizes 10 a 15 clientes. Dizer que seria uma boa maneira de os convidar a voltar é tão óbvio que nos abstemos de o comentar.
Verdadeiramente especial
O LBV integra as Categorias Especiais de Vinho do Porto, dentro da família Ruby, os Porto de tonalidade vermelha e vocacionados para a evolução em garrafa, como o Vintage. Na outra família encontramos os Tawnies, os vinhos do casco, onde vamos encontrar as referências com indicação de idade, e os Colheita, todos longamente estagiados em madeira.
Tal como aconteceu com outras categorias de Porto, o LBV nasceu sem nome identificativo; era um Porto que não era Vintage, que tinha ficado para trás e que algumas casas engarrafavam com alguns anos, na expectativa de poderem vender com outra marca. Algumas, como a Ramos Pinto, tinham mesmo vinhos da década de 20 do século passado correspondentes a essa categoria. Assim, quando finalmente a legislação saiu em 1973, e entrou em vigor em Janeiro de 1974, algumas casas – com base nas contas correntes que tinham no IVDP – resolveram colocar no mercado vinhos com a designação LBV, engarrafados entre o 4º e o 6º ano após a vindima, de boa concentração de cor e mais acessíveis, para serem consumidos novos.
Ao operador eram deixadas várias opções: fazer um LBV previamente filtrado ou, em alternativa, engarrafar vinho sem filtração, com essa indicação (facultativa) no rótulo; esta categoria permitia ainda que um vinho fosse guardado na empresa muito mais tempo do que o previsto na lei, podendo então ser usada a designação Bottled Aged.
Nesta Grande Prova vamos encontrar LBV dos três tipos. Algumas empresas têm crescido muito nesta categoria, como a Taylor’s, que faz do LBV a sua principal referência, com cerca de 1.500.000 garrafas/ano. Trata-se de um vinho filtrado e que, por via disso, tem todas as características para ser um “Porto de restaurante”, uma vez que não requer decantação nem manuseamento especial e, sem problema, pode viver com qualidade até um mês depois de aberto. Tudo boas razões que, infelizmente, a nossa restauração não parece querer aproveitar. Ainda no grupo Quinta and Vineyard Bottlers (a que pertence a Taylor’s), a Fonseca faz “somente” 66.000 garrafas. Cremos que pelo facto da sua marca emblemática não ser um LBV, mas sim o Ruby Reserva Bin 27, um Porto que se situa a meio caminho entre o Ruby e o LBV. A Croft, mais comedida, faz cerca de 26. 500 garrafas.
Em Portugal e no mundo
Mesmo o consumidor mais avisado tende, por vezes, a olhar para o LBV como um Porto de consumo enquanto jovem. Tal não deve ser encarado como regra: apesar de ser bebível logo que é colocado à venda, o LBV mantém boas condições de prova durante décadas. Recordo-me de um LBV não comercializado, de um ano menos bom (1969) e que Peter Symington, então enólogo da empresa, resolveu engarrafar para comemorar o nascimento do filho. Passados 50 anos o vinho continua a dar boa prova.
O grupo Symington Family Estates é também muito forte nesta categoria: a marca Graham’s faz 740.000 garrafas, muito acima das restantes marcas do grupo; mais recentemente, também levou a cabo uma edição especial do LBV Graham’s Malvedos 2018, feito unicamente com uvas desta quinta, num total de 36.000 garrafas.
Os principais grupos do sector apostam forte nesta categoria, diversificando muito os mercados de destino. O grupo Kopke (antiga Sogevinus) faz 600.000 garrafas de LBV distribuídas pelas várias marcas; a Granvinhos vende 225.000 garrafas; a Sogrape, engarrafou 120.000 unidades em 2024, com maior foco nas marcas Ferreira e Sandeman, significativamente mais do que engarrafou em 2025. Para a Sogrape, o mercado interno representa 54% das vendas.
Este tipo de Porto presta-se muito para o engarrafamento de BOB, ou seja, vinhos com a marca do comprador (seja um distribuidor ou grande superfície) e isso é válido, quer para o mercado interno, quer para a exportação. A Granvinhos, tradicionalmente muito forte no mercado francês, faz cerca de 150.000 garrafas com a marca do comprador e qualquer visita que possamos fazer a uma loja de vinhos ou supermercado no centro/norte da Europa, vamos encontrar, com certeza, Porto LBV com marcas que não conhecemos.
Quando a categoria nasceu, o mercado inglês terá sido o destino inicial (muito por força das empresas inglesas do sector) mas, hoje, o mercado europeu, os EUA e o Canadá absorvem a maioria da produção, com o Brasil a mostrar igualmente algum interesse. E, claro, o mercado interno, beneficiando da exposição em termos de locais de enoturismo e onde é possível provar e comprar estes vinhos, quer no Porto (e Gaia), quer no Douro.
Vamos lá com calma ou a correr?
Por norma, os LBV são engarrafados logo que a lei autoriza, ou seja, ao 4º ano após a vindima. Quer isto dizer que poderíamos estar a provar agora o 2021 mas, dessa colheita, nesta prova, só tivemos um vinho, do Vallado; a esmagadora maioria dos vinhos avaliados nasceram na colheita de 2020 e, aqui e ali, algum mais antigo, como a Quinta do Grifo. Quanto a antiguidade, já se sabe, por experiência anterior, o LBV da Warre é sempre o vinho mais antigo destas provas. Longamente estagiado em cave, este, agora provado, tem a bonita idade de 15 anos, mas, como se percebe, apresenta uma saúde de ferro. Trata-se de um modelo de LBV que não teve seguidores noutras casas, mas que fazemos força para que continue. Com uma relação preço/prazer absolutamente esmagadora, é sempre dos vinhos que mais gostamos de provar. Depois de quatro dezenas de vinhos provados, fica-nos a eterna dúvida: devemos beber o LBV novo ou esperar por ele e deixá-lo dormir em cave? As respostas seguem dentro de momentos…
(Artigo publicado na edição de Outubro de 2025)
-

Kopke
Fortificado/ Licoroso - 2020 -
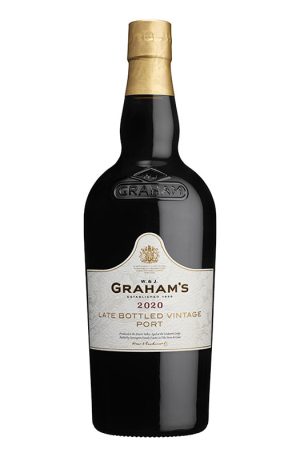
Graham’s
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Fonseca Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Ferreira
Fortificado/ Licoroso - 2021 -

Churchill’s
Fortificado/ Licoroso - 2019 -
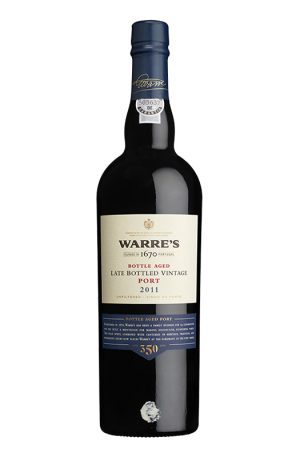
Warre’s Bottle Aged
Fortificado/ Licoroso - 2011 -

Ramos Pinto
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Quinta da Gaivosa
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Burmester
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Andresen Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2020
-

Vasques de Carvalho
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Van Zellers & Co Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Rozès Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Quinta do Noval Single Vineyard Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Quinta de la Rosa
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Quinta das Carvalhas
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Quinta da Romaneira Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Poças
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Pacheca Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2018 -

Menin
Fortificado/ Licoroso - 2019
-

DR
Fortificado/ Licoroso - 2016 -

Dow’s
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Dalva
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Cruz
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Croft
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Cockburn’s
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Borges
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Barros
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Vista Alegre Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Vieira de Sousa Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019
-

Velhotes
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Messias Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Cálem
Fortificado/ Licoroso - 2019 -

Vallado
Fortificado/ Licoroso - 2021 -

Taylor’s
Fortificado/ Licoroso - 2020 -

Sandeman
Fortificado/ Licoroso - 2021 -

Quinta do Grifo
Fortificado/ Licoroso - 2015 -

Quinta do Crasto Unfiltered
Fortificado/ Licoroso - 2017 -

Quinta de Ventozelo
Fortificado/ Licoroso - 2021 -

Offley
Fortificado/ Licoroso - 2021
GRANDE PROVA: BRANCOS DE LISBOA

Conta-se uma adivinha nas aulas de marketing, sobre qual o som que o hipopótamo faz. Alegadamente “dodot-dodot…” e toda a gente se ri. É um exemplo de má passagem de comunicação, já que o hipopótamo estava nas fraldas Ausónia (os mais velhos lembrar-se-ão da canção: “Ausónia elásticos lá lá, sempre seco lá lá lá.”). Também […]
Conta-se uma adivinha nas aulas de marketing, sobre qual o som que o hipopótamo faz. Alegadamente “dodot-dodot…” e toda a gente se ri. É um exemplo de má passagem de comunicação, já que o hipopótamo estava nas fraldas Ausónia (os mais velhos lembrar-se-ão da canção: “Ausónia elásticos lá lá, sempre seco lá lá lá.”). Também Lisboa a cidade branca aporta uma série de referências, que é preciso ir ao google confirmar. “A Cidade Branca” não é um filme de Wim Wenders, esse é o “Lisbon Story”. A Cidade Branca é um filme anterior, um clássico de Alain Tanner, com um jovem Bruno Ganz como estrela. A cidade branca é também uma expressão intrigante para qualquer pessoa que veja Lisboa de longe, por exemplo da Ponte 25 de Abril ao entardecer. As casas esparramam-se sobre as colinas, numa visão realmente deslumbrante. Mas nada parece branco. Procura-se, por entre as clássicas cores rosa e amarelo-ocre, onde estará o branco de cal que terá trazido essa fama à cidade. Mas apenas se encontra a ocasional fachada de pedra calcária. Branco? Nem por isso. Então de onde vem essa ideia? Da luz. A luz da lisboa é branca, entra pelos olhos dentro e faz o habitante local procurar a sombra e cobrir os olhos com a mão. O turista prefere ficar ao sol, é a forma de nos distinguirmos deles. Vê-se logo a separação dos dois grupos.
Mas falemos de vinho: há também uma óbvia separação entre grupos. A velha Lisboa, herdeira da Estremadura, era uma região de tintos. Aliás, dizia-se que Portugal era um país de tintos. “Era” fica bem dito, porque os anos passam, todo o sector trabalhou duro para encaixar a ideia de que temos uma gastronomia e um clima que convidam aos vinhos brancos. Viticultura e enologia juntaram-se, a crítica apoiou, os consumidores ficaram contentes e todos evoluíram. Neste momento, nas minhas notas de prova faço muitas recomendações de pratos de carne com vinho branco, o que me indica que também o velho estilo de branco jovem, fácil, frutado e directo também é só mais uma das opções. Há outros estilos que se vão impondo, e a gama de vinhos brancos que se encontra neste momento país-fora é variada e impressionante.
Esta prova de brancos topos de gama da região de Lisboa foi prova disso. Os produtores enviaram as suas armas pesadas e há uma gama extraordinária de vinhos de grande qualidade, com incrível variedade de castas, seja a solo, seja em lotes, diversas técnicas de vinificação e tipos de estágio, e de certa forma. para minha surpresa, muitas idades: entre 2019 e 2024. So much para outro mito que se vai esboroando, o de que os brancos se têm de beber jovens e que o branco do ano anterior ao último já só serve para temperar as iscas. Not true, e de uma forma bastante definitiva (entra meta-filosofia, para reflexão estival): é já tão evidente que os clientes não pensam assim, que os produtores têm confiança em guardar os seus melhores vinhos, para lançar os topos de gama com vários anos em cima.
Castas várias, lotes diversificados, diferentes idades e evoluções, produtores pequenos e grandes, novos e clássicos, os brancos de Lisboa chegaram à idade adulta e valem a pena
UMA REGIÃO DIVERSA
A região de Lisboa é muito variada e, segundo Carlos João Pereira da Fonseca (Companhia Agrícola do Sanguinhal e Vogal da Direcção da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa) tem uma diversidade única no país. Carlos João explicou-me que a região tem Bucelas, onde se fazem grandes Arintos. Talvez tenha sido Nuno Cancela de Abreu, com o Morgado de Santa Catherina, a fazer o primeiro grande branco com madeira em Portugal. Tem Carcavelos, uma região única com um grande trabalho nos licorosos. Tem Colares, com chão rijo e chão de areia, ambos com características completamente diferenciadoras. Vamos subindo e há a zona de Arruda dos Vinhos até Sobral de Monte Agraço e Alenquer, com muito menos influência atlântica, regiões tradicionalmente de tintos. Lisboa tem as zonas marítimas de Óbidos e Torres Vedras, que sempre foram zonas de brancos. Há ainda as Encostas de Aire e os medievais de Ourém, mais focadas nos tintos. E depois há a Lourinhã, com mais influência marítima, e que faz vinhos mais leves, para a tão conhecida aguardente.
Carlos João Pereira da Fonseca acrescentou ainda que só com grande trabalho na vinha é que se começaram a fazer vinhos tintos do lado do mar. Quando começou a plantar vinhas, nos anos 1980, ampliou a área de tintos, era então apenas 20%. Plantou castas de ciclo mais curto e conseguiu melhorar muito a qualidade dos vinhos sem perder o seu carácter. A região produz muito, é a segunda maior a seguir ao Douro, e a terceira em termos de vendas de vinhos certificados. Recentemente, voltaram a apostar nas brancas, e o encepamento de castas brancas aumentou para os actuais 40%.
A lista de castas autorizadas para vinhos brancos pela CVR é muito extensa e abrange muitas castas autóctones, nacionais e internacionais. Entretive-me a contar as castas mencionadas nas fichas técnicas dos 33 vinhos provados nesta prova. Em 44 castas mencionadas (entre varietais e lotes, apenas num vinho não sei as castas), 17 são Arinto, cinco são Viosinho, quatro são Vital, quatro são Malvasia ou Malvasia de Colares, duas são Viognier, duas são Fernão Pires/Maria Gomes, e as restantes aparecem apenas uma vez: Cercial, Riesling, Jampal, Sercial, Sémillon, Alvarinho e Roussanne. Para mim, a grande surpresa foi o aparecimento repetido da casta Viosinho, uma importação recente, que mostrou grande adaptação ao terroir, e cuja adopção tem crescido. Não é surpresa o Arinto, já que é originário de Bucelas, como não é surpresa que ainda apareça a Vital, uma casta histórica, de grande longevidade e que já há anos atrai atenção, embora tenha escapado por pouco à extinção. Mesmo a Malvasia de Colares está em perigo, mas a determinação das gentes de Colares vai salvá-la. A Chardonnay e o Viognier já têm histórico de algumas décadas na região, e as restantes parecem responder ao objectivo de ter, no mercado, vinhos diferenciados, uma característica que a região abraça com gosto, aproveitando o facto de ter também muitos micro-terroirs valorizados por um público atento.
Tudo o que vejo acontecer na região de Lisboa me entusiasma em crescendo. A quantidade e variedade de vinhos brancos topos de gama e os resultados empolgantes desta prova, tudo me diz que a variedade e a experimentação nos tintos também vai chegar em breve ao topo. Cada vez mais vai valer a pena escolher vinhos de Lisboa e desfrutar desta antiga, mas moderna, região de vinhos. Inshallah.
(Artigo publicado na edição de Setembro de 2025)
-

Quinta de S. Sebastião
Branco - 2020 -

Quinta de Pancas
Branco - 2024 -

Quinta da Folgorosa
Branco - 2020 -

Morgado de Sta. Catherina
Branco - 2023 -

Monte Bluna
Branco - 2022 -

CH by Chocapalha
Branco - 2022 -

Casal Sta. Maria Pêndulo
Branco - 2022 -

Casa das Gaeiras
Branco - 2020 -

Quinta do Monte d’Oiro
Branco - 2022 -

Colares Chitas
Branco - 2020
-

Quinta da Murta
Branco - 2022 -

Morgado de Bucelas Cuvée
Branco - 2023 -

Monstros de Lisboa
Branco - 2024 -

Maria do Carmo
Branco - 2019 -

Madame Pió
Branco - 2023 -

Félix Rocha
Branco - 2021 -

Dona Fátima
Branco - 2022 -
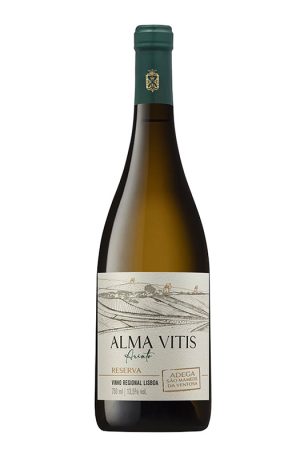
Alma Vitis
Branco - 2021 -

Quinta Vale da Roca
Branco - 2022 -

Quinta do Rol Atlântico
Branco - 2021
-

Quinta do Pinto
Branco - 2021 -

Quinta do Lagar Novo
Branco - 2021 -

Peripécia
Branco - 2022 -

Mosquel
Branco - 2023 -

Mare et Corvus
Branco - 2023 -

Corrieira Juntos
Branco - 2023 -

Adega d’Arrocha
Branco - 2023 -

Vale da Mata
Branco - 2024 -

Quinta do Boição Vinhas Velhas
Branco - 2021 -

Quinta de San Michel
Branco - 2022
Grande Prova: Monção e Melgaço – O expoente do Alvarinho

Se fossem necessárias algumas razões, bastariam duas para justificar o presente trabalho: por um lado, a fama secular dos vinhos desta sub-região e, por outro, a sua originalidade centrada na casta Alvarinho que ganhou, e bem, um lugar especial nos consumidores nacionais e estrangeiros. Mas voltemos atrás para recordarmos o nosso colega João Paulo Martins […]
Se fossem necessárias algumas razões, bastariam duas para justificar o presente trabalho: por um lado, a fama secular dos vinhos desta sub-região e, por outro, a sua originalidade centrada na casta Alvarinho que ganhou, e bem, um lugar especial nos consumidores nacionais e estrangeiros. Mas voltemos atrás para recordarmos o nosso colega João Paulo Martins quando este referia, nas edições do seu Guia de Vinhos de Portugal nos finais dos anos 90, que existiam Vinhos Verdes e, depois, existiam os Alvarinhos, numa clara alusão ao elevado padrão qualitativo destes últimos, e sempre com destaque para os provenientes de Monção e Melgaço. Claro está que os Verdes de hoje nada têm a ver com os dos anos 90, numa evolução que acompanhou a da generalidade dos brancos nacionais. Mas os vinhos de Monção e Melgaço continuam a ser algo de muito especial, diferente em todos os sentidos, com uma notoriedade histórica onde, já naquela altura, pontificavam marcas como Cêpa Velha, Deu-la-Deu ou Palácio da Brejoeira, todas elas verdadeiros marcadores de um perfil de Alvarinho proveniente de um território de excelência.
Solos e altitudes
Mas afinal que território é este? Protegido por montanhas, com um microclima mais continental do que a média da restante região dos Vinhos Verdes (ou seja, com maior amplitude térmica), Monção e Melgaço caracteriza-se climatericamente por invernos frios e chuvosos e verões que se podem qualificar como quentes. Tanto assim é que, no verão, entre Caminha no litoral e Monção, separada do mar por uma cadeia montanhosa, a diferença de temperatura pode chegar aos 15ºC apesar da mera distância ser de 35 quilómetros. Tal como sucede um pouco pelo país, existem em Monção e Melgaço diferenças de solos e altitudes, sendo que tanto o Alvarinho como as suas declinações de perfil são mais moldadas pela importância dos primeiros. Com efeito, mais do que a altitude, é o tipo de solo de origem granítica (terraços fluviais, com ou sem calhau rolado, aluviões ou franco-arenosos) que melhor determina o resultado de cada néctar. Da mesma forma, é considerando cada tipo de solo que se deve privilegiar o uso de barrica, nova ou usada sendo que, por regra, é nos solos franco-arenosos aqueles em que as barricas de segundo ano dão melhores resultados, originando alguns dos melhores vinhos da sub-região e do país.
Reconhecido há quase um século, em 1929 (vinte anos depois da demarcação da Região dos Vinhos Verdes), este território já foi terra de tinto, com grande sucesso na exportação no final do século XIX, quer pela sua qualidade, quer pela crise na produção europeia que se seguiu à filoxera. Conhecida desde o século XVII como “a terra dos vinhos”, Monção tem fama desde a Idade Média e, como todas as vetustas regiões de vinho no mundo, foi-se adaptando. Mas foi preciso chegar a meados do século XX para o Alvarinho se começar, aos poucos, a impôr. Com referências desde o século XVIII, só a partir da segunda metade do século passado se começa a comprovar que o Alvarinho, em Monção e Melgaço, é especial. Nos anos 60 começam os relatos dos bons resultados da casta e, já nos anos 70 surgem, ainda que timidamente, marcas que engarrafam um branco com base em Alvarinho de perfil tendencialmente seco e delicado (em garrafa escura para não oxidar…), longe das versões mais ácidas e desequilibradas que se encontravam em restaurantes e pensões por todo o norte do país.
O Alvarinho e a barrica
Saltando vários anos em diante, encontramos dois outros marcadores essenciais do tempo para este sub-região. Um primeiro, em 1974 e 1982, respetivamente a data da plantação da primeira vinha contínua de Alvarinho e a data da criação da primeira marca de Alvarinho de Melgaço, ambas pela conhecida Quinta de Soalheiro. Depois, em 1987, quando Anselmo Mendes começa os seus ensaios de Alvarinho fermentado em barrica. A escolha do carvalho e da floresta, das tostas, a dimensão da barrica, o aperfeiçoamento da bâttonage (considerando que o bago do Alvarinho é pequeno, originando mostos intensos à partida) e o controlo da oxidação, tudo são técnicas que vários produtores da sub-região vão abraçar e que Anselmo Mendes preconizou com antecipação. De tal forma que, já no presente século, encontramos quase duas dezenas de Alvarinhos de Monção e Melgaço fermentados e/ou estagiados em barrica, muitos deles num patamar altíssimo de qualidade.
A par de Anselmo Mendes e da Quinta do Soalheiro (sobretudo na referência Reserva) já referidos, há vários anos que encontramos produtores a usar parcial, ou totalmente, barricas, casos da Quinta do Regueiro, Quinta de Santiago, Quintas de Melgaço, sem esquecer a Provam ou a Adega Cooperativa de Monção, João Portugal Ramos, entre outras referências. Na prova que relatamos abaixo, e a par dos nomes já referidos, também os produtores Márcio Lopes, Casa de Paços, Constantino Ramos e, bem assim, as marcas Milagres, Barão do Hospital e Nostalgia usam barrica parcial ou totalmente.
Não espanta, assim, que a área de vinha em Monção e Melgaço não tenha parado de crescer, sinal de vitalidade da área. O número de hectares aproxima-se dos 2000 (grandíssima parte plantados com Alvarinho), sendo a zona de Melgaço a que mais cresce. A notoriedade da casta e da sub-região está consolidada a nível nacional, os vinhos são procurados sobretudo nos restaurantes, e o preço médio é claramente mais alto comparado com o restante Vinho Verde e com muitos dos brancos do país. Para tudo isto também contribuiu o bom trabalho das respetivas cooperativas. Falta, talvez, uma maior projeção internacional, havendo caminho a percorrer na especificação e destaque de Monção e Melgaço relativamente à região dos Vinhos Verdes, já de si bastante internacionalizada e procurada, mas muito centrada em gamas de entrada. Nota final para uma nova vaga de produtores na região, alguns deles enólogos noutras parte do país, caso de Luís Seabra, Márcio Lopes, Constantino Ramos, David Baverstock e António Braga. Isto para não falar de players de mercado que não querem perder a oportunidade de ter uma operação em Monção e Melgaço, casos de João Portugal Ramos e, mais recentemente, da Symington Family Estates. Esta circunstância de atratividade de excelentes profissionais espelha bem o potencial da região e os vinhos em prova, cujas notas deixamos abaixo, confirmam plenamente.
(Artigo publicado na edição de Julho 2025)
-

Via Latina
Branco - 2024 -

Quinta das Pereirinhas Supremo
Branco - 2024 -

Quinta do Mascanho
Branco - 2024 -

Encosta da Capela
Branco - 2024 -

Deu la Deu
Branco - 2024 -

Vale dos Ares
Branco - 2024 -

Santos da Casa
Branco - 2023 -

Reguengo de Melgaço
Branco - 2024 -

Cícero
Branco - 2023 -

Soalheiro Granit
Branco - 2024
Bairrada: Uma região de “clássicos”

Criada apenas em 1979, após vários anos de hesitações entre o poder político e os interesses dos agentes económicos, a Região Demarcada da Bairrada, antes de acolher regulamentação legal, já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território. Muitos são os testemunhos, enraizados nos […]
Criada apenas em 1979, após vários anos de hesitações entre o poder político e os interesses dos agentes económicos, a Região Demarcada da Bairrada, antes de acolher regulamentação legal, já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território. Muitos são os testemunhos, enraizados nos vestígios arqueológicos, que nos reafirmam a vitivinicultura como uma das principais atividades agrícolas que se estenderam desde a ocupação romana e perduram até à atualidade.
Se porventura nos quisermos apoiar no rigor do suporte documental, pode atestar-se que, já no ano 950, o seu território era conhecido como região vinhateira, conforme nos revela um documento existente na Torre do Tombo referente a uma doação ao Mosteiro do Lorvão de terras e vinhas na Silvã (Mealhada). Um outro documento refere uma “vinha em Rippela sob o monte Buzacco”, em 1086. Ou uma outra doação àquele Mosteiro, de “uma casa em São João e vinha na Pocariça” (Cantanhede), em 1176.
Contudo, o documento mais curioso é datado de 1137, e encontra-se igualmente na Torre do Tombo, no qual “D. Afonso Henriques autoriza a plantação de vinha na herdade de Eiras, sob o caminho público de Vilarinum (Vilarinho do Bairro, Mealhada) ao monte Buzacco (Bussaco), com a condição de lhe darem 1/4 do vinho, sem mais encargos e eles fiquem com as primícias e décimas do vinho…”. Um testemunho de inigualável valor que atesta a qualidade do vinho ali produzido, o qual servia de meio de pagamento dos impostos ao Rei.
OS PRIMÓRDIOS DA BAIRRADA
Não se pense que a criação da Região Demarcada do Douro, peticionada por 14 dos “principais lavradores de Cima do Douro e Homens Bons da cidade do Porto”, estribados pela visão de Sebastião José de Carvalho, não terá tido influência em diversas outras regiões do país onde se cultivava vinha e produzia vinho. A representação dirigida ao rei D. José I, em 31 de Agosto de 1756, foi estabelecida por Alvará, confirmado a 10 de Setembro desse mesmo ano, demarcando e, diz-se, protegendo a região duriense dos demais territórios produtores.
Se é certo que a instituição da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro somente aos vinhedos daquela região dizia respeito, a realidade mostrou-nos que, nos anos seguintes, houve extensas demandas legislativas que intervieram noutras zonas vinhateiras, determinando o arranque de diversas vinhas em “terrenos das vargens, lezírias e campinas” que fossem mais próprias, pela sua natureza, para nelas se promover a cultura cerealífera, tão necessária para a alimentação básica dos portugueses. Medidas drásticas que alteraram a paisagem vitivinícola portuguesa, dizimando a produção de vinha em larga escala. À data, tais medidas eram justificadas pela carência de cereais e falta de pão para o consumo das gentes. Por outro lado, visava-se diminuir a produção excessiva de vinho de qualidade inferior que, em concorrência desleal, acarretava elevados prejuízos para os de qualidade superior.
A região da Bairrada não terá ficado imune a estas medidas, por força dos alvarás que aplicaram a mesma lei às margens e campinas dos rios Mondego e Vouga e a mais terras que fossem de paul e lezírias. E, apesar de nesses alvarás se fazerem referências elogiosas aos vinhos produzidos “nos terrenos de Anadia, Mogofores e outros das mesma qualidade”, igualando estes vinhos aos criados nos “termos de Lisboa, de Oeyras, de Carcavelos, do Lavradio, de Torres Vedras, Alenquer…”, nesses tempos com notoriedade semelhante aos vinhos durienses, certo foi que, outro Alvará, agora de 18 de Fevereiro de 1766, já impunha como sujeição imediata o arranque de vinhas existentes em Anadia, Mogofores, Arcos, Avelãs de Caminho e Fermentelos”, terras bairradinas por excelência, duas delas citadas com louvor cinco meses antes.
Numa visão otimista, podemos considerar que o génio ímpar de Pombal, além de ter criado a primeira Região Demarcada do mundo, terá ensaiado outras demarcações, embora sem lhes ter dado o tratamento legislativo adequado. A da Bairrada terá tido atenção do seu pensamento, pois, pelo menos por duas vezes, referenciou os terrenos Anadia e Mogofores como sendo de óbvia qualidade para a produção de vinho.
“A Região Demarcada da Bairrada (…) já se afirmava há mais de dois mil anos nas práticas vitivinícolas, crendo-se, pelo menos, desde a romanização do território”
O PAIZ VINHATEIRO
Em 1866, por Portaria de 10 de Agosto, foi nomeada pelo Ministro do Reino, Andrade Corvo, uma comissão encarregada de estudar as diversas regiões do país “durante a vindima e da feitura do vinho nos principais districtos vinhateiros do reino”. Desta comissão faziam parte três membros e a cada um dos quais foi delimitada a respetiva área de estudo.
O Visconde de Villa Maior ficou com a área a norte do Rio Douro, António Augusto de Aguiar ficou responsável pela área de território entre os rios Douro e Tejo, excluindo o distrito de Lisboa, cabendo, por fim, a Joaquim Inácio Ferreira Lapa o distrito de Lisboa e todos os territórios a Sul do Tejo.
Publicado em 1867, nesse trabalho conjunto, mas com as respetivas indicações de cada um dos seus autores, existe um único mapa. E este, no conjunto de tantas outras regiões vitivinícolas nela representadas, refere-se apenas a uma, designado “Paiz Vinhateiro da Bairrada”. Um mapa que, mesmo desatualizado ao tempo da criação da região demarcada, mais de cem anos depois, serviu de base à sua delimitação. Naquele mapa há já uma marcação, a cores diversas, de três sub-regiões, ainda que em moldes distintos daquelas que foram, por exemplo, definidas em França. Neste, as sub-regiões são designadas por região de vinho branco, região de vinho tinto de embarque e região de vinho de consumo. Estabelecem-se, também, limites geográficos, definindo, a Sul, o concelho de Mealhada, ao tempo considerado o coração da Bairrada, e parte do concelho de Cantanhede; ao centro, o concelho de Anadia; a Norte o concelho de Oliveira do Bairro. Excluídos ficaram, a Sul, a freguesia de Souselas, no Centro, parte do concelho de Cantanhede e todos os de Vagos e Aveiro, e, a Norte, parte do concelho de Oliveira do Bairro.
As zonas nobres para vinhos tintos de embarque delimitavam-se, aos concelhos da Mealhada e de Anadia, enquanto as mais aptas para vinhos brancos situavam-se na margem esquerda do rio Certoma, até Óis do Bairro, S. Lourenço e Mogofores. Fora destes limites situavam-se as zonas de vinhos para consumo, classificando-se detalhadamente os de primeira, segunda e terceira categorias. Interessante é constatar o detalhe com António Augusto de Aguiar estudou a composição dos solos, identificando, com denodo, uma zona hoje muito bem conhecida por produzir vinhos de extrema elegância: “da Mealhada para o Luso, do Travasso para a Vacariça encontra-se uma mistura de solos, em que figuram retalhos de arenatas do terreno quaternário…”. Falamos, em parte, da zona de Cadoiços, onde se encontram hoje algumas das mais imponentes vinhas velhas da Bairrada e das quais nasce um dos grandes vinhos que constituem o painel de prova deste artigo.
Elaborado este estudo pouco após a grande crise do oídio, que afetando toda a viticultura nacional também não poupou o território da Bairrada, é um exercício curioso constatar como se dá a evolução do encepamento na região. Em 1850, o oídio surge de modo lancinante e, durante quase uma década, destruiu, quase por completo, toda a produção de uva na região. As castas mais atacadas foram, nas tintas, o Castelão e a Trincadeira, e, nas brancas, o “Boal Cachudo”, o Arinto e Mourisco. Perante estas adversidades, eis que surge uma uva salvífica, a Baga, fortemente resistente ao oídio. A partir de 1860, a atual intitulada casta rainha da Bairrada, conhece uma expansão até então nunca vista, tendo António Augusto de Aguiar, que por ela não morria de amores, escrito que, “se o amor por ella continuar como até agora, dentro de poucos anos toda a Bairrada fará plantações e vinhos extremes de uma casta só”.
A 28 de Dezembro de 1979, nasce a Região Demarcada da Bairrada, e com ela a sua delimitação geográfica que, curiosamente, não é assim tão distante daquela que havia sido desenhada mais de 100 anos antes por António Augusto de Aguiar.
ANTEVISÃO DE UMA REGIÃO
Com a industrialização do espumante e o nascimento das grandes casas engarrafadoras a partir dos anos 20 do século passado, assistiu-se a um crescimento exponencial da região. Caves São João, Caves Messias, Caves Aliança ou Caves São Domingos, entre outras, tornam-se os grandes centros produtores do país, engarrafando, comercializando e exportando vinhos para as colónias e Brasil. A demarcação era, à data, e já após o Dão ter procedido à sua demarcação enquanto região em 1908, uma temática não muito do agrado das grandes casas, que adquiriam vinhos em diversas regiões limítrofes para satisfazer a as suas necessidades de grande volume.
No início dos anos 50 dá-se início a uma contenda feroz entre, por um lado, os defensores da não demarcação, liderados pela maior referência da enologia nacional, Mário Pato, e, do outro lado, uma linha vanguardista defensora da necessidade de criar a região demarcada, tendo na linha da frente o Professor Américo Urbano.
Mário Pato, numa publicação de 1 de Outubro de 1953, no Boletim da Federação dos Grémios da Lavoura da Beira Litoral, clamava que a região começava a sofrer de uma “delimitomania” ou mania das regiões delimitadas, que amolece as faculdades mentais dos viticultores e lhes paralisa a atividade. Para o enólogo, o pedido de intervenção do Governo na delimitação da sua região causaria um atavismo e um encerramento dentro de si própria, que motivaria uma não evolução no acompanhamento do desenvolvimento dos métodos enológicos e, consequentemente, uma desvalorização dos vinhos produzidos. À data, dava como exemplo as regiões de Bucelas, Colares e Carcavelos, cujos vinhos começavam a perder notoriedade, invocando igualmente os exemplos do Dão e Vinhos Verdes que também não se mostrariam brilhantes.
Já Américo Urbano trazia para a defesa da demarcação preocupações que não são díspares das da atualidade, mostrando toda a pertinência. A este preocupava-o a concorrência feroz vinda das terras a Sul, onde os custos do granjeio eram muito inferiores e a qualidade dos vinhos, em que “milhentas de pipas de água anualmente são adicionadas aos mesmos”, era manifestamente inferior.
No meio das contendas, Américo Urbano não foi parco em palavras, acusando Mário Pato de ser o principal responsável pelo uso de técnicas enológicas que privilegiavam a produção de vinhos destinados ao lote, ao invés de dar o seu contributo para o aperfeiçoamento das características organoléticas que sempre distinguiram os vinhos da Bairrada. Uma conceção visionária que, ainda hoje, define o modo como se entende uma Bairrada de características muito distintas.
O interesse pela demarcação da região vai crescendo ao longo dos anos 60 e, em 1973, é criado o Grupo de Trabalho incumbido do estudo da Demarcação da Bairrada, composto pelos agrónomos Melchior Barata de Tovar e Octávio da Silva Pato, contando ainda com a colaboração de Mateus Augusto dos Anjos e de Luís Azevedo Correia. O relatório veio a revelar-se extremamente relevante para constituir as bases para a futura demarcação, incidindo sobre a orografia e hidrografia, geologia, solos, clima, práticas agrícolas, castas cultivadas, métodos de vinificação e tipos de vinho, proposta de demarcação e delimitação da região produtora e, entre outras, do direito à denominação de origem. Estava quase…
Para dar força a este movimento, Luiz Ferreira da Costa, figura icónica das Caves São João, agrega uma série de figuras relevantes da região e cria a Confraria dos Enófilos da Bairrada, em Junho de 1979, associação que foi absolutamente determinante, através de diversas iniciativas e contactos com as esferas do Governo, para derrubar as últimas barreiras tendentes à Regulamentação da Região Demarcada da Bairrada.
POR FIM, A DEMARCAÇÃO
A 28 de Dezembro de 1979, pela Portaria nº 709-A/79, nasce a Região Demarcada da Bairrada e, com ela, a sua delimitação geográfica que, curiosamente, não é assim tão distante daquela que havia sido desenhada mais de 100 anos antes por António Augusto de Aguiar. Exigindo-se a condução da vinha em forma baixa, definem-se, desde logo, as castas autorizadas, que serão objeto de apreciação e cadastro pelos serviços competentes, definindo-se, como tintas autorizadas, a Baga com mínimo de 50%, Castelão ou Moreto e Tinta Pinheira, autorizando-se, desde que não excedessem 20% do povoamento total, o Alfrocheiro Preto, Bastardo, Preto de Mortágua, Trincadeira, Jaen e Água Santa. Nas castas brancas, exigindo um mínimo de 60% do povoamento, Bical, Maria Gomes (Fernão Pires) e Rabo-de-Ovelha, autorizando-se com um máximo de povoamento total de 40%, o Arinto, Cercial, Chardonnay e Sercialinho, lista que mais tarde havia de ser revista. Nesta primeira abordagem que, até aos dias de hoje, havia de ter diversas alterações, definiu-se a obrigatoriedade de a vinificação ser realizada dentro da região em adegas inscritas para o efeito, limitou-se a produção a um máximo de 55 hectolitros por hectare de vinha, parametrizou-se um teor alcoólico mínimo de 11% vol. para os vinhos e fixou-se estágios obrigatórios mínimos de 18 meses para tintos e 10 meses para brancos.
Inicialmente, ou seja, em 2003, a menção “Clássico” ficou destinada apenas a vinhos tintos, cingindo-se às castas Baga, Camarate, Castelão (Periquita) e Touriga Nacional
“CLÁSSICO”, UM SELO DE IDENTIDADE
Após a demarcação e até ao virar do século, muitas foram as mudanças de paradigma a que se assistiu na Bairrada. As Adegas Cooperativas e as grandes casas engarrafadoras foram colocadas perante uma nova realidade de produção e consumo. O mundo pedia vinhos com maior identidade, vinhos de Quinta, produções menores, mas muito mais exigentes e qualitativamente nos antípodas daquilo que até então se fazia. Os mercados das colónias haviam desaparecido, o Brasil minguava na procura. Uma nova Bairrada despontava e muitas foram as grandes casas que soçobraram. Adegas Cooperativas, como Vilarinho do Bairro, Mogofores e Mealhada, ou casas engarrafadoras como Barrocão, Valdarcos, Monte Crasto, entre outras, finaram-se. Felizmente, houve casos de grande sucesso na mudança, como foram as Caves São João, que já em 1971 haviam adquirido a Quinta do Poço do Lobo, ou as Caves Messias, com produção de vinhos de uvas próprias na Quinta do Valdoeiro.
Algo havia a fazer para contrariar uma certa desorientação estratégica que afetava a Bairrada. A preocupação dos agentes económicos centrava-se na adequação das potencialidades da região, sempre associadas a uma nomenclatura de qualidade e certificação, alcançando a sua melhor valorização no mercado.
A Portaria nº 428/2000, de 17 de Julho, vem fixar as castas aptas à produção de vinho em Portugal. Nessas condições, entendia-se como necessário efetuar algumas alterações relativamente aos encepamentos existentes permitidos para a DOC Bairrada, do mesmo modo que era crível que podia haver uma maior variedade de vinhos de qualidade produzidos na região e reconhecidos no mercado. Subjacente a estas alterações, que viriam alterar substancialmente o número de castas autorizadas à menção DOC, nada mais, nada menos que 26, algumas delas com pouca expressão na região, um juízo avisado justificou a criação de uma certificação especial para os vinhos da Bairrada que pudessem respeitar determinados parâmetros de tradição e práticas antigas, tanto de viticultura como de vinicultura, adotando-se, por via dessa premissa, a menção “Clássico”. Inicialmente, ou seja, em 2003, a menção “Clássico” ficou destinada apenas a vinhos tintos, cingindo-se às castas Baga, Camarate, Castelão (Periquita) e Touriga Nacional, obrigando os vinhos a representar, em conjunto ou separadamente, 85% do encepamento, não podendo a Baga representar menos de 50%. Obrigava, ainda, a que a uva fosse proveniente de vinhas com rendimento não superior a 55 hectolitros por hectare, não podendo o vinho tinto possuir um teor alcoólico inferior a 12,5%. É, no que toca ao tempo de estágio, que surgem as condições mais exigentes, obrigando os vinhos tintos com aquela menção a poderem apenas ser comercializados após um estágio mínimo de 30 meses, 12 dos quais obrigatoriamente em garrafa. A Portaria 211/2014, de 14 de Outubro, repõe a justiça e concede, igualmente, aos vinhos brancos a possibilidade de ostentarem a menção “Clássico”, definindo como castas aptas à mesma a Maria Gomes (Fernão Pires), Bical, Cercial e Rabo-de-Ovelha. Aqui, houve também a preocupação em regular a produção máxima por hectare, que seria idêntica à das castas tintas, limitando o volume alcoólico dos brancos aos 12% mínimo, obrigando ainda a um estágio mínimo antes de comercialização a 12 meses, seis dos quais em garrafa. Em matéria de reposição de injustiças, a Portaria nº 335/2015, de 6 de Outubro, veio colmatar uma ausência inadmissível, colocando a histórica Arinto, casta já referenciada por António Augusto de Aguiar, em 1867, como uma das mais relevantes uvas brancas do encepamento do território da Bairrada.
Terminamos esta longa, mas rica história de um território abençoado pela proteção das Serras do Bussaco e Caramulo, bafejado pela influência do Atlântico, com a afirmação de qualidade superior dos vinhos que ostentam a menção “Clássico”, concedendo à Bairrada um estatuto de maior relevância em boa hora regulamentada, e que tão bem é expressa nos 12 vinhos que brilharam na nossa prova.
* O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)
-

MESSIAS
Branco - 2017 -

FREI JOÃO
Branco - 2020 -

TRABUCA CERCIAL DA BAIRRADA
Branco - 2020 -

BACALHOA 1931 VINHAS VELHAS
Branco - 2021 -

ANTÓNIO MARINHA LEGADO
Tinto - 2017 -

CASA DO CANTO
Tinto - 2017 -

MESSIAS
Tinto - 2015 -

FREI JOÃO
Tinto - 2018 -

TRABUCA
Tinto - 2016 -

BACALHÔA VINHA DA DÔNA
Tinto - 2018 -

LOPO DE FREITAS
Tinto - 2016 -

OUTRORA
Tinto - 2019
GRANDE PROVA: No Dão, os brancos vão na frente

A região do Dão, delimitada na primeira leva de demarcações do séc. XX, ainda em monarquia, desde cedo se caracterizou por ser uma região polivalente, tanto de brancos como de tintos. Ao contrário de outras regiões então também demarcadas, como Bucelas, que apenas estava vocacionada para vinhos brancos, em terras beirãs os brancos e os […]
A região do Dão, delimitada na primeira leva de demarcações do séc. XX, ainda em monarquia, desde cedo se caracterizou por ser uma região polivalente, tanto de brancos como de tintos. Ao contrário de outras regiões então também demarcadas, como Bucelas, que apenas estava vocacionada para vinhos brancos, em terras beirãs os brancos e os tintos cresceram lado a lado, um pouco ao sabor das modas. Hoje todos falam que há um crescente interesse nos vinhos brancos um pouco por todo o país, mas nem sempre foi assim. A flutuação de mais brancos ou mais tintos dependeu sempre das modas e dos gostos. Em resumo, ainda hoje depende do mercado.
Esta região, como quase todas as outras do país, cresceu associada a um certo modelo vínico, gerando sobretudo vinhos de lote onde se combinavam as várias castas que a região conhecia.
Antigamente os lotes eram feitos na vinha, sobretudo nas mais velhas, em que o plantio se fazia a eito ou, a partir dos anos 60, por parcela de castas mas sempre jogando no lote final com o contributo de diversas variedades. Assim era o Dão, e também por isso nós não conhecemos vinhos varietais antes dos anos 90 do século passado. Apenas as experiências do Centro de Estudos de Nelas, nomeadamente com Encruzado e Touriga Nacional, nos ajudam na busca de vinhos de casta.
Os anos 90 trouxeram uma verdadeira revolução, com novas experiências, novos produtores, novas adegas, novos conceitos. Nesse sentido, o Dão de hoje é tributário desses pioneiros onde encontramos a Quinta da Pellada, Quinta dos Carvalhais, Quinta dos Roques, Casa de Santar ou Casa da Ínsua, só para citar alguns. Foi então que os consumidores se familiarizaram com os vinhos de Encruzado e os varietais das tintas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaen, nomes até então ausentes do léxico dos apreciadores.
O Dão ganhou enorme prestígio na “família” dos vinhos brancos à custa da Encruzado. É uma variedade enigmática que ali nasceu e dali não parece querer sair.
Encruzado sim, mas…
Segundo os dados mais recentes fornecidos pela CVR do Dão, as castas brancas ocupam 1950 ha, o que corresponde a cerca de 21% dos encepamentos. Dentro das brancas, as mais plantadas são a Malvasia Fina (27,28%), a Fernão Pires (19,90%), a Encruzado (12,83%) e a Bical com 12,57%. Seguidamente, e num registo mais contido, temos a Branda (8,56%), Cerceal-Branco (2,30%), Uva-Cão (1,14%) e Gouveio e Rabo de Ovelha, ambas com 1,11%.
O Dão ganhou enorme prestígio na “família” dos vinhos brancos à custa da Encruzado. É uma variedade enigmática que ali nasceu, e dali não parece querer sair, uma vez que não tem grande apetência por viagens e, noutras regiões, dá resultados apenas satisfatórios. Os consumidores começaram a ouvir falar de Encruzado nos anos 90, tornando-se quase sinónimo de vinho branco do Dão, a casta considerada emblemática da região, uma espécie de porta-estandarte. Não é, porém, uma uva totalmente consensual entre os profissionais, sendo mais difícil de domar do que à primeira vista se poderia pensar. Porquê? Porque os vinhos Encruzado nascem pouco faladores, pouco expressivos em termos aromáticos e, por isso, precisam de ser acarinhados para poder crescer bem. Manuel Vieira (enólogo na empresa Caminhos Cruzados) afirma que “pelo facto de os vinhos da casta serem pouco expressivos em novos, há quem lhes dê um tom forçadamente aromático logo à nascença, com aromas tropicais, algo que rejeito completamente; a Encruzado precisa de tempo e só com a evolução em garrafa é que finalmente mostra as suas virtudes e a madeira (bem integrada) pode ter aí um papel importante”.
Já a enóloga Patrícia Santos (Quinta da Alameda, Primado, entre outros produtores) não é tão efusiva com a Encruzado. Segundo nos disse, “reconheço-lhe a plasticidade para diferentes formas de vinificação e estágio, mas acho que não é uma casta excelente. Não tem, por exemplo, a excelência de uma Alvarinho. Continuamos à procura e tenho estado a trabalhar a Uva-Cão onde encontro grande potencial de qualidade”. Ambos os enólogos são pouco entusiastas das castas também muito plantadas na região, como a Malvasia Fina e a Bical. Para lotes sim, como varietais nem por isso.
Uma visita a uma garrafeira de grande superfície mostra-nos que há imensos brancos do Dão a preço muito acessível, não sendo por isso aceitável que se diga que os vinhos são caros.
Brancos de excelência
Ainda assim, actualmente uma prova de brancos do Dão tende naturalmente a incidir em vinhos de Encruzado, ainda que, no nosso caso, tal não tinha sido imposto aos produtores a quem solicitámos amostras. O que pudemos verificar é que as escolhas de vinhos a enviar foram bem diversas e com critérios que apenas os próprios produtores poderão definir: tivemos vinhos mais novos, outros com mais idade, varietais e de lote, com madeira evidente e sem ela presente e com uma tremenda flutuação de preços indicativos.
Conclui-se, assim, que pode não ser muito fácil criar um padrão, um modelo de branco que se possa dizer sem rebuço: isto é um branco do Dão! De qualquer forma, há um elemento que percorre e unifica todos os brancos, independentemente do modelo escolhido. Refiro-me à acidez que estes vinhos sempre apresentam, associada a um brilho, uma elegância e uma proporção que é notável e é traço indicativo da região.
Aqui também se procuram novos modelos, novos horizontes para os vinhos brancos. Uma visita a uma garrafeira de grande superfície mostra-nos que há imensos brancos do Dão a preço muito acessível, não sendo por isso aceitável que se diga que os vinhos são caros. No entanto, como pedimos aos produtores que enviassem o melhor que tinham ou o que entendiam que melhor representava a orientação vínica da quinta ou empresa, os preços dos vinhos deste painel são em geral elevados. A região ganha com isso, é elevando o patamar que o Dão pode ganhar prestígio. Mas os tempos vão difíceis para vinhos mais caros e esse facto torna muito exigente o esforço de cada produtor para se afirmar, quer interna, quer externamente.
Acreditamos que, independentemente do modelo vínico escolhido, o branco tem de ser uma bandeira, tem de representar a região. Ora isto pode acontecer, independentemente do preço e, por isso, alguns vinhos de preço acessível estão aqui muito bem classificados e outros, bem mais caros, se quedaram por classificações mais modestas.
A conclusão final é muito fácil: estamos a falar de uma das melhores regiões do país para gerar vinhos brancos muito originais, a tal região que um winewriter americano apelidou de “A Borgonha dos vinhos portugueses”. Vamos assinar por baixo.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2025)
-

Quinta dos Carvalhais
Branco - 2023 -

Quinta da Vegia Vinha de Santa Ana
Branco - 2019 -

Casa de Santar Branco de Curtimenta
Branco - 2023 -

Taboadella Grande Villae
Branco - 2022 -

Quinta Dom Vicente Vinhas Velhas
Branco - 2022 -

O Estrangeiro Inspired by Rocim
Branco - 2023 -

Quinta Dona Sancha
Branco - 2021 -

Domínio do Açor
Branco - 2022 -

Primado
Branco - 2023 -

Caminhos Cruzados
Branco - 2023
-

Conde de Anadia
Branco - 2017 -

Textura Pura
Branco - 2022 -

Quinta dos Roques
Branco - 2022 -

M.O.B. Vinha Senna
Branco - 2023 -

Liquen Vinhas Antigas
Branco - 2022 -

Quinta das Marias Out of the Bottle
Branco - 2022 -

Quinta da Pellada Primus
Branco - 2023 -

Adega de Penalva
Branco - 2022 -

Quinta da Giesta
Branco - 2024 -

Quinta de Lemos Dona Santana
Branco - 2023
-

Villa Oliveira
Branco - 2021 -

Tesouro da Sé Private Selection
Branco - 2023 -

Quinta do Cerrado
Branco - 2022 -

Código Manifesto
Branco - 2022 -

Bacalhôa
Branco - 2023 -

Quinta Madre de Água
Branco - 2021 -

Quinta da Alameda Parcelas
Branco - 2023 -

D. Daganel
Branco - 2021 -

Mitologia
Branco - 2023 -

Monteirinhos Avô António
Branco - 2022


































































