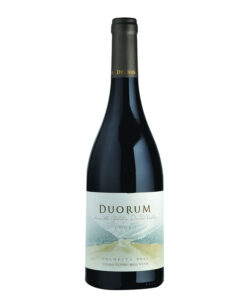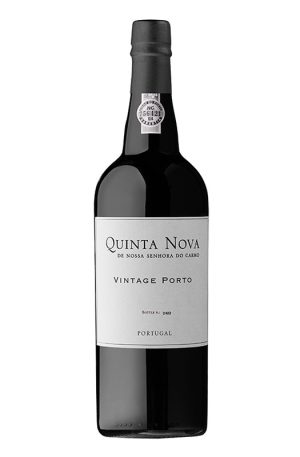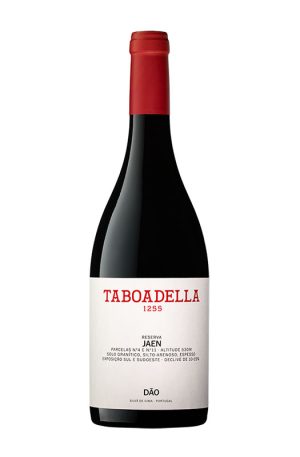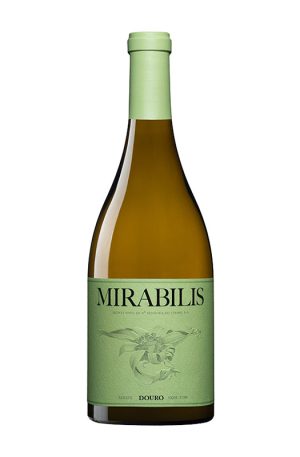Passarella: Saber e tradição da Serra

O lançamento oficial do Casa da Passarella Vindima 2011 foi o pretexto para este produtor da serra da Estrela mostrar as novidades da quinta. Entre vinhos recém chegados e promessa de outros, a vitalidade da empresa é uma realidade. Texto: João Paulo Martins Fotos: Anabela Trindade/Abrigo da Passarela Esta quinta do Dão, situada na sub-região […]
O lançamento oficial do Casa da Passarella Vindima 2011 foi o pretexto para este produtor da serra da Estrela mostrar as novidades da quinta. Entre vinhos recém chegados e promessa de outros, a vitalidade da empresa é uma realidade.
Texto: João Paulo Martins Fotos: Anabela Trindade/Abrigo da Passarela
Esta quinta do Dão, situada na sub-região da serra da Estrela, tem sido amiúde objecto de notícias, sempre por boas razões. Trata-se de uma propriedade antiga, mais propriamente 130 anos, ao que nos foi dito, estendendo-se os vinhedos por inúmeras parcelas espalhadas nos 100 ha da quinta. Renovar e dar nova vida a estas vinhas e dar o salto para um hotel rural a funcionar na antiga casa da quinta são os objectivos do novo proprietário, personagem que faz questão de se manter distante da comunicação social ou destes eventos de apresentação de novidades, o que se respeita.
Uma velha quinta produtora tem necessariamente tradições, hábitos e formas de fazer que podem ter duas leituras e dois destinos: o primeiro é o mais habitual: sim senhor, muito interessante, muito etnográfico mas vamos fazer a coisa em moldes modernos, ter uma vinha nova a produzir bem com castas que nos interessam e uma adega adequada e preparada para receber as novas tecnologias; o segundo destino é menos espectacular: vamos tentar perceber o que aqui se fazia, vamos olhar para o património com olhos do séc. XXI mas na perspectiva de conservar o que for de conservar; na adega a mesma coisa – manter o que for útil, descartar o que já não serve. Paulo Nunes está aos comandos da enologia desde que esta nova história da Passarella se iniciou nos anos 90 e a sua perspectiva e o seu olhar sobre todo o projecto “encaixam” no segundo modelo que acima referi: não estragar, não arrancar, não deitar abaixo, não cair na ditadura da folha Excel, manter, inclusivamente, as pessoas que são as guardiãs das memórias da casa. É o caso da adegueira que lá trabalha há já muitos anos, filha de adegueira e neta de adegueira. Como nos diz Paulo, “há um saber empírico que vai passando de geração em geração e temos de ser capazes de saber ouvir”. Depois, dizemos nós, há que ir para casa pensar e dormir sobre o assunto para perceber o que é de manter e o que há que alterar. Sabendo-se que “naquelas terras serranas fazer vinho é uma consequência de estar vivo”, há sempre muito para ouvir e entender. Também porque a perspectiva de Paulo Nunes quanto ao vinho é muito clara quando diz, “não nos interessa fazer um vinho perfeito mas sim criar um vinho que respeite o saber e a tradição da casa”. Quase me apetecia aqui adaptar a frase, que já está no altar das frases célebres do mundo do vinho, um dia proferida por Aubert de Villaine, co-proprietário do Domaine de la Romanée-Conti, a mítica propriedade da Borgonha: “Eu não sou enólogo, sou apenas o guardião do terroir!” A atitude de Paulo Nunes sugere algo de semelhante: manteve vinhas que estavam na calha para serem arrancadas, conservou as velhas cubas de cimento e os lagares da adega e está a tentar que o perfil dos vinhos desta nova era sejam o espelho da fama e glória passadas. Pelo que temos visto e provado, a missão está ser levada a bom porto.
Novas castas, histórias velhas
O encontro em Lisboa teve lugar a 12 de Outubro, o primeiro dia que se seguir ao fecho da vindima, uma vez que no dia anterior ainda estavam a entrar uvas da casta Baga, curiosamente com apenas 12% de álcool provável; o facto tem alguma graça porque a Baga, ainda que nascida no Dão, foi na Bairrada que encontrou o seu ambiente preferido e os varietais de Baga são praticamente inexistentes no Dão. Paulo, porém, adianta que irá sair um Baga na colecção Fugitivo.
No momento tivemos duas estreias absolutas: um branco de Barcelo e um tinto de Pinot Noir. Barcelo, diz-nos Paulo Nunes, estava, juntamente com a casta Dona Branca, na base dos principais lotes de brancos do Dão, segundo Cincinato da Costa (em 1900). O interesse enológico da casta levou a que se plantasse, já há dois anos, mais um hectare para manter a produção no futuro. A casta, que não tem sinonímia, sobrevive na Passarella numa parcela que tem agora 80 anos. No estágio deste vinho apenas utilizam barricas com muito uso, por forma a manter toda a delicadeza aromática e o perfume que este vinho exala.
A outra novidade foi o Pinot Noir. A casta era muito antiga na quinta e, dada a localização da vinha, era uma casta precoce e usada para fazer um “pé de cuba” que funcionava como concentrado de leveduras que ajudava despois ao arranque da fermentação dos volumes grandes. A vinha que deu origem a este vinho foi plantada em 2008 e na confecção usou-se algum engaço por forma a conferir ao vinho um carácter mais vegetal e um pouco mais rústico, ou seja, mais próximo do modelo inspirador, os tintos da Borgonha. Também este tinto vai passar a ter produção anual.
Um dos vinhos que foi apresentado tem já estatuto de habitué: o branco de curtimenta, cuja primeira edição remonta há 10 anos. Trata-se de um vinho de homenagem, já que até há 40 anos era assim que se faziam os vinhos brancos, com as películas a fermentaram juntamente com o mosto. O resultado é um branco carregado na cor, todo ele a transpirar rusticidade. Quando sai do lagar está castanho de cor mas, segundo Paulo, “com dois invernos em cima a cor cai muito e fica com este tom alaranjado”. É de tal forma diferente dos actuais brancos que virou uma curiosidade, com muitos adeptos. É sempre um branco difícil, mas com inesperada capacidade de ser bom parceiro à mesa.
O Villa Oliveira Encruzado, verdadeiro porta-estandarte da empresa, nasceu na colheita de 2011 e tem, em cada ano, origem em parcelas diferentes, conforme a maturação. É já hoje uma referência obrigatória dos brancos do Dão feitos com a casta-rainha da região. E para completar a apresentação tivemos “o vinho que aqui nos trouxe”, o Casa da Passarella Vindima 2011, em segunda edição, após a estreia com o 2009. O longuíssimo tempo de estágio em garrafa é a sua principal característica e, pensado que está para viver muito tempo em cave, todas as garrafas foram re-rolhadas já este ano. Um método que se aplaude e que bem podia encontrar seguidores noutras casas produtoras. Com o hotel em fase final, é caso para dizer que não faltarão motivos para ver e rever os segredos da Passarella.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2022)
Ramos Pinto: Celebrar o passado na vinha da Urtiga

A vinha tem mais de 100 anos e está incluída na quinta do Bom Retiro. Foi Adriano Ramos Pinto que a adquiriu em 1933. Frágil mas resistente, a vinha exige, de todos, os cuidados máximos para que a intervenção seja mínima. Uma carga de trabalhos que só a ideia, militante diríamos nós, da conservação do […]
A vinha tem mais de 100 anos e está incluída na quinta do Bom Retiro. Foi Adriano Ramos Pinto que a adquiriu em 1933. Frágil mas resistente, a vinha exige, de todos, os cuidados máximos para que a intervenção seja mínima. Uma carga de trabalhos que só a ideia, militante diríamos nós, da conservação do património, aliada à excelência vínica, pode justificar.
Texto: João Paulo Martins Fotos: Ramos Pinto
O Verão corria seco mas quando visitámos a vinha da Urtiga o céu resolveu dar um ar da sua graça e brindou-nos com chuva. Da boa e da necessária, embora, como se imagina, já tardia para o que se podia esperar da vindima. Foi ali, mesmo no meio da vinha da Urtiga – parcela que integra a quinta do Bom Retiro – que iniciámos a conversa com a equipa da Ramos Pinto. Para o efeito a empresa deslocou para o centro da vinha da Urtiga uma mesa e uns copos para que o vinho fosse apreciado em seu sitio. A ideia era boa mas não previa a chuva e lá teve de vir uma emissária com chapéus de chuva para que tudo corresse bem. O que ali se passou foi um verdadeiro encontro civilizacional. As cepas, ali à nossa beira, respiravam ainda saúde apesar de serem maioritariamente centenárias; para as interpretar, conhecer, reconhecer e preservar havia ali um tablet onde tudo estava registado, a começar pela geo-localização de cada pé de vinha e as informações adicionais que se revelam da maior importância para a equipa de cuidadores daquela parcela. Que casta é, que vigor tem, quantos cachos produz, em que estádio fenológico se encontra ou a resistência à secura e à seca. Esta tarefa é igual para cada um dos 12 500 pés de vinha que ocupam os 3,4 ha da Urtiga. Temos então patamares com 200 anos, cepas com 100 e tecnologia do séc. XXI que, num futuro próximo, irá também incluir drones de alguma dimensão que farão transporte (caixas de até 40 kg) entre a vinha e a adega.
Bem perto da vinha encontra-se uma mata de medronheiros, reconhecida hoje como a última mancha original das matas de medronheiros que outrora povoavam grandes áreas do Douro. Ali ninguém toca, ali não está previsto plantar nada; apenas numa zona que, entretanto, tinha ficado a descoberto, foram plantadados mais 0,5 ha em velhos patamares pré-filoxéricos, idênticos aqueles onde estivemos sentados a ouvir as histórias da Urtiga. Para quem não está familiarizado com o conceito, os patamares pré-filoxéricos são muito baixos e apresentam-se agora com uma grande “desorganização”, bem diferentes dos muros dos terraços feitos após a filoxera, com os da Quinta do Noval, bem visíveis para quem passa na estrada.
Carlos Peixoto trata das vinhas e, como nos confessou, “adoro este trabalho, já ando cá há 44 anos e não me vejo a fazer outra coisa; ainda me consigo entusiasmar com cada vindima, cada poda, cada nova plantação. Este trabalho que estamos a fazer na Urtiga é notável, é uma revolução que traz para a vinha todos os novos conhecimentos de informática.” A Urtiga, confessa, não estava abandonada mas estava esquecida; “não era colhida quando devia, não tínhamos noção do que aqui havia; foi a partir de 2015 e 2016 que começámos a olhar para esta parcela com olhos de ver”. Jorge Rosas, actual CEO da Ramos Pinto lembra-nos que “em tempos a empresa já teve um Vinho do Porto com o nome Urtiga e que esta vinha era, como todas as vinhas velhas do Douro, usada para fazer vinho para Porto. As castas eram muitas e contámos 63. No entanto a Tinta Amarela é a mais representada e há 7 variedades que, juntas, representam 90% dos encepamentos. Às restantes, chamamos hoje, o sal e pimenta”. Das variedades, muitas delas com nomes estranhos, é sempre possível descobrir mais algumas que nunca tínhamos ouvido falar, como São Saul, Carrega Branco, Tinta Aguiar e Caramela. Ficámos também a saber que “a Tinta Amarela é por norma a casta mais representada nestas vinhas muito velhas”, diz-nos Peixoto.
Nos tratamentos da vinha estão a ser usados preparados biodinâmicos que são importados de França. Conta Jorge Rosas, “é um modelo que queremos aprofundar, mas sem preocupação de certificação. O caos burocrático que a certificação obriga leva-nos a fazer escolhas: queremos e acreditamos nas práticas mas não nos impomos a certificação e não alinhamos em fundamentalismos. O que é que adianta a vinha ser bio se depois não temos uvas?”, comentou. Uma equipa pequena muito dedicada a esta vinha e muitos cuidados na prevenção das doenças ajudam a que, de uma vinha tão pouco produtiva, saia um tinto que se coloca de imediato no patamar mais alto dos vinhos da empresa. Sobre o tema, Jorge Rosas, secundado por Ana Rato, responsável comercial comentam: “é verdade que colocamos o vinho num patamar muito alto de ambição e preço mas é também porque queremos, exactamente, que ele seja entendido como vinho muito especial que é. Temos mais de 100 mercados para onde vendemos vinho e este será por alocação. Não vai ser nada difícil colocar o vinho, até já houve importadores que nos disseram que podíamos enviar a quantidade que quiséssemos e que o preço não seria problema.”
Na véspera da vindima a equipa faz uma passagem na vinha e retira logo tudo o que não estiver em condições de ser vindimado. No dia seguinte vindima-se, faz-se nova selecção à entrada da adega onde os trabalhos são coordenados pelo enólogo João Luis Baptista. Após desengace, as uvas vão para o lagar para o primeiro corte (lagar com pisa a pé) e depois a manta vai sendo movimentada até ao momento da prensagem. De seguida é conduzido para tonéis de pequenas dimensões e 10% do vinho vai para barricas novas e por lá fica durante 16 meses. É nesta altura que se decide se o vinho tem a qualidade pretendida para ser Urtiga. Caso se entenda que não tem, entrará noutros lotes. O estágio prolonga-se por dois anos depois do engarrafamento. Resultaram, nesta primeira edição, 3100 garrafas, disponibilizadas em caixa individual.
No products were found matching your selection.
Família Amorim: Novas de Dão e Douro

A sempre impactante Taboadella, no coração do Dão, foi o palco para a apresentação das novas colheitas do portefólio vínico da família Amorim, oriundas quer da propriedade anfitriã quer da duriense Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo. Entre os vários vinhos lançados, houve espaço para uma estreia, um branco de uvas tintas. E revelou-se a […]
A sempre impactante Taboadella, no coração do Dão, foi o palco para a apresentação das novas colheitas do portefólio vínico da família Amorim, oriundas quer da propriedade anfitriã quer da duriense Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo. Entre os vários vinhos lançados, houve espaço para uma estreia, um branco de uvas tintas. E revelou-se a consolidação de dois projectos com muito ainda para crescer e encantar.
Texto: Luis Lopes Fotos: Amorim
O investimento vitivinícola da família Amorim assenta em duas propriedades emblemáticas. A Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo foi adquirida em 1999, integrada na compra da Burmester. A empresa de Porto foi depois vendida à Sogevinus, mas a propriedade ficou na família, desenvolveu-se muitíssimo e é hoje uma referência na região, em termos de vinhos e de enoturismo. A Taboadella é um projecto bem mais recente. Comprada em 2018, a reabilitação vitivinícola ali realizada e a construção de uma adega (desenhada por Carlos Castanheira) absolutamente inovadora do ponto de vista arquitetónico e funcional, tornou muito rapidamente esta propriedade numa das estrelas que mais brilha no Dão. Brilho que vai certamente aumentar com a recente recuperação da casa da quinta, agora baptizada Casa Villae 1255, uma habitação senhorial de 8 quartos disponível para aluguer em regime de exclusividade. Luisa Amorim, CEO do negócio vitivinícola da Amorim, foi a anfitriã na apresentação das novas colheitas, ladeada por Ana Mota, directora de produção e Jorge Alves, responsável de enologia. Os vinhos, esses, não podiam ser mais distintos entre si, traduzindo as naturais diferenças nas suas origens, Quinta Nova e Taboadella.
QUINTA NOVA
A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é uma imponente propriedade situada na margem direita do Douro, entre a Régua e o Pinhão, referenciada desde a primeira demarcação pombalina, em 1756. Com uma frente de rio de 1,5 km, a quinta tem cerca de 120 hectares, dos quais 85 plantados com vinha. Esta espalha-se por encostas íngremes desde a cota de 80 metros até cerca de 300 metros, com vários modelos de plantação: terraços, patamares e vinha ao alto. Os terraços albergam duas parcelas de vinha centenária, uma de 2,5 hectares e outra com 4,5 hectares, ambas localizadas a 150 m de altitude com uma exposição solar a sul-poente, preservadas em muros de xisto. Ali se conservam cerca de 80 castas tintas e brancas que entram nos lotes dos vinhos mais ambiciosos da Quinta. A produção é, naturalmente, muito baixa, e as parcelas são cuidadas de forma tradicional, o solo mobilizado com charrua e cavalo e adubação natural com recurso à descava. Ana Mota tem procurado manter e replicar o valioso património genético deste tesouro vitícola. Assim, através de selecção massal da vinha centenária, foram nascendo novas estacas e novos talhões de vinha perfazendo actualmente 41 parcelas distintas, cada qual com o seu microterroir.
As uvas brancas da vinha velha entram no lote do Mirabilis, o branco de topo da casa, onde se juntam às castas Viosinho e Gouveio. Lançado pela primeira vez na vindima de 2011, o Mirabilis tem vindo a assumir-se, pela qualidade e pelo preço, como um dos mais reputados brancos durienses. Agora, é a colheita de 2020 que chega ao mercado, mantendo o elevado padrão da marca. O rosé Quinta Nova também já se tornou um “clássico”, criado na vindima de 2015. Chegou a haver duas referências, um “normal” e um “reserva”, mas a partir da vindima de 2019 prevaleceu o primeiro, incorporando embora a fermentação em barrica do segundo. É o caso do agora apresentado 2021, feito de Tinta Roriz (50%), Tinta Francisca e Touriga Franca. Tinta Roriz foi também a casta escolhida por Jorge Alves para a estreia absoluta do Quinta Nova Blanc de Noir Reserva. Da vindima de 2021, é um branco de uvas tintas que estagiou em barricas de carvalho francês. Por fim, o Porto Vintage 2020. Oriundo das vinhas centenárias da Quinta Nova, promete, com alguns anos de garrafa, vir a ser coisa muito séria.

TABOADELLA
A Taboadella constituiu o início das aventuras vínicas da família Amorim fora do Douro. Situada em Silvã de Cima, entre Penalva do Castelo e Sátão, é uma propriedade planáltica, que se desenvolve entre as cotas de 530 a 400 metros. Os 42 hectares de vinha (29 de castas tintas e 13 de brancas) estão protegidos pelos maciços montanhosos que atenuam os ventos frescos de oeste e os ventos agrestes de leste, resultando num clima entre o atlântico e o continental. A vinha está dividida em 26 parcelas diferenciadas. As vinhas mais antigas centram-se nas variedades tradicionais do Dão: Jaen, Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinta Pinheira. Nos anos 80, a vinha da Taboadella foi parcialmente replantada, introduzindo-se novas castas como a Tinta Roriz e as brancas Encruzado, Cerceal-Branco e Bical. Hoje, a idade média das videiras é de 30 anos, mas algumas já atingiram um século. A vinha da Taboadella não é regada e está em processo de transição para produção em modo biológico.
As novidades da casa agora apresentadas assentam em quatro varietais, um branco, três tintos. Primeiro, o Encruzado Reserva branco 2021. Tal como os restantes, apareceu logo na primeira vindima da Taboadella, 2018. Para Jorge Alves, acostumado à realidade duriense, o encontro com a Encruzado no Dão foi uma agradável surpresa. “Hoje”, confessa, “é a casta branca portuguesa de que mais gosto, sem reduções ou oxidações na adega, originando vinhos com muita frescura e longevidade.” O Taboadella Encruzado 2021 fermentou e estagiou em diversos tipos de vasilhas (barricas, cimento e inox) e faz justiça às palavras do enólogo.
Os varietais tintos que agora chegam ao mercado são todos de 2020. O Jaen vem das zonas mais altas da quinta, para aproveitar ao máximo a frescura desta casta precoce e mostra grande potencial. O Touriga Nacional é um belo exemplar da variedade, com tudo o que é preciso: flores, fruto, elegância. E o Alfrocheiro vai deixar muito boa gente a pensar porque é que, no Dão, só se fala na Touriga…
Quinta Nova e Taboadella são duas propriedades bem distintas mas focadas no mesmo modelo de negócio, qualidade e valorização. A primeiro faz 650 mil garrafas/ano enquanto a segunda fica pelas 170 mil, mas com a particularidade de 110 mil serem de “Reservas”, ou seja, de preço médio elevado.
Para Luisa Amorim, estes vinhos “espelham a filosofia da Quinta Nova e da Taboadella, o
desejo de ir sempre mais além.” A verdade, é que a grande mentora destes projectos está longe de estar satisfeita: “queremos brancos, rosés e tintos, ainda mais frescos, mais elegantes, sempre preservando a essência do lugar onde nascem.” Ora ainda bem. É a insatisfação que nos leva mais longe.
(Artigo publicado na edição de Agosto de 2022)
Eruptio, vinhos vulcânicos

Embora a última erupção do vulcão do Pico tenha acontecido nos finais do século XVIII, ultimamente tem sido registada uma autêntica erupção de vinhos brancos fabulosos, vindos desta ilha. O novo projecto Eruptio do enólogo Bernardo Cabral, apaixonado pela Ilha do Pico, em parceria com o grupo Abegoaria, trazem à nossa mesa uma expressão líquida […]
Embora a última erupção do vulcão do Pico tenha acontecido nos finais do século XVIII, ultimamente tem sido registada uma autêntica erupção de vinhos brancos fabulosos, vindos desta ilha. O novo projecto Eruptio do enólogo Bernardo Cabral, apaixonado pela Ilha do Pico, em parceria com o grupo Abegoaria, trazem à nossa mesa uma expressão líquida da sua origem, com carácter marítimo e uma frescura inimitável.
Texto: Valéria Zeferino
Fotos: Eruptio

A montanha, um vulcão, o mar e o vento moldam as condições extremas do cultivo das vinhas na ilha do Pico, que deram origem aos vinhos Eruptio. Para comunicar este terroir não é preciso inventar nada, já está tudo “inventado” pela natureza, basta olhar para a geografia e geologia da ilha.
Situada em pleno oceano Atlântico, a 1500 km de Portugal continental, a ilha do Pico é dominada pelo clima marítimo, caracterizado por temperaturas amenas e baixa amplitude térmica (diurna e anual), pluviosidade elevada e humidade relativa acentuada, taxas de insolação pouco elevadas (ou seja, a luz solar está frequentemente obstruída por nuvens). As chuvas são abundantes e caem praticamente durante o ano todo. Os rigorosos ventos atlânticos pulverizam as vinhas com a água do mar.
O imponente símbolo da ilha é a montanha do Pico com 2 351 m de altitude (a mais alta em Portugal) – um estratovulcão que se formou pelo magma extravasado, depositando material das erupções numa forma de cone.
Geologicamente, a ilha do Pico é a mais recente de todo o arquipélago, com apenas cerca de 300 mil anos da existência, comparativamente com a ilha de Santa Maria com mais de 8 milhões de anos ou de São Miguel com mais de 4 milhões de anos. Nesta ordem de grandeza, é uma “ilha bebé”, como lhe chama Bernardo Cabral. O chão é coberto de basalto, formado pelas correntes de lava. Como a pedra ainda não foi transformada em terra arável, as vinhas são plantadas nas fendas da rocha-mãe, com um pouco de terra para preencher estas fendas.
Ficam no sopé do vulcão, a uma altitude de 100 metros aproximadamente, numa faixa junto ao mar na zona das aldeias Madalena, Candelária, Criação Velha e Bandeiras, a oeste da ilha, e Santa Luzia a norte. Por um lado, a precipitação é menor nas zonas costeiras, comparativamente com as cotas mais altas; por outro, os ventos, fortes e salgados, não poupam a vinha. Para proteger as videiras, os picoenses ao longo dos 5 séculos foram construindo muros de pedra solta à volta das vinhas. Chamam-se currais e para além da protecção, criam um microclima mais quente à volta das videiras, ajudando na maturação. Esta paisagem labiríntica, austera, quase monocrómática é tão surreal como fascinante.
“Os Açores apaixonam qualquer pessoa ligada ao campo e agricultura, porque aqui a natureza toma conta de nós, sobretudo na ilha do Pico” – afirma com convicção Bernardo Cabral. “As tempestades são bem fortes, o sal inunda as vinhas. Geralmente, depois chove e o sal é lavado. Quando isto não acontece, o sol queima tudo. Chove sempre muito mas a drenagem também é rápida.” – descreve o enólogo e acrescenta: “o que é certo noutros lados, no Pico nem sempre funciona, como por exemplo, a exposição norte, não necessariamente produz mais frescura nas uvas. De ano para ano as coisas mudam bastante.”
Esta paixão e, de certa forma, a sede pelos desafios são a base do projecto. Bernardo tem família nos Açores, costuma lá ir desde pequeno e até já comprou uma casa. Manuel Bio, CEO do Grupo Abegoaria, cresceu nas vinhas alentejanas, na terra, tornando-se num empresário que sente paixão pelo que faz. Para ele “os vinhos Eruptio representam a continuada aposta na categoria de fine wines.”
Sendo responsável de enologia na Adega Cooperativa do Pico, Bernardo conhece bem as particularidades das castas autóctones, as condições locais e os pequenos viticultores que viabilizaram o projecto. Como dá para perceber, a área da vinha na ilha é muito limitada pela sua dimensão e orografia. O enólogo conta que lá existe uma medida antiga para terrenos agrícolas – “alqueire”. É preciso 10 alqueires para fazer 1 ha. Quem tiver 10 ha de terra é latifundiário. A produção é muito reduzida, colhem apenas 2500-3000 kg/ha. É nestes moldes que o projecto foi desenvolvido.
A gama Eruptio é composta por 4 vinhos de castas autóctones da Ilha do Pico – três monovarietais – Arinto dos Açores, Verdelho e Terrantez do Pico e um blend das três castas. O denominador comum de todos os vinhos é a frescura e a tensão que não compromete a leveza.
O Arinto dos Açores é uma casta exlusiva do arquipélago. Com a casta Arinto cultivada em Portugal continental partilha apenas o nome, não tendo grau de parentesco. O Verdelho nos Açores é a mesma casta que existe na Madeira, de onde o material vegetativo inicial terá sido originário. A Terrantez do Pico é também uma casta exclusiva dos Açores, e distingue-se da Terrantez cultivada no continente e da casta conhecida pelo mesmo nome na ilha da Madeira.
A abordagem enológica foi feita em função da casta. O Arinto dos Açores fermentou em balseiro de madeira; o Terrantez do Pico fermentou em barricas de carvalho americano muito velhas, utilizadas para produção dos vinhos licorosos; e o Verdelho fermentou em tanques de inox (80%) e barricas (20%); tudo com estágio de 6 meses com as borras finas. No caso do blend, as diferentes castas estagiam individualmente em cubas de aço inoxidável e com as borras finas durante 6 meses, mantendo a temperatura baixa para preservar o carácter fresco do vinho. Os rótulos foram desenvolvidos por Bianca Levy e explicam visualmente o terroir com o vulcão, o mar, as núvens e todo o meio envolvente da ilha.
Foram produzidas 20.000 garrafas de Eruptio blend, 6.100 de Arinto dos Açores, 6.919 de Verdelho e 3.210 de Terrantes do Pico. A comercialização dos vinhos está a cargo do grupo Abegoaria e do distribuidor Garcias.
(Artigo publicado na edição de Julho 2022)
No products were found matching your selection.
Séries RCV- A engarrafar o futuro

Tudo começou com um Rufete de 2010, e hoje são já 13 varietais. O projecto Séries, da Real Companhia Velha, tem sido um autêntico esboço do presente e do futuro dos vinhos não fortificados da empresa. Um estudo aprofundado do potencial vitícola e enológico de cada casta antiga do Douro. Texto: Mariana Lopes Fotos: Real […]
Tudo começou com um Rufete de 2010, e hoje são já 13 varietais. O projecto Séries, da Real Companhia Velha, tem sido um autêntico esboço do presente e do futuro dos vinhos não fortificados da empresa. Um estudo aprofundado do potencial vitícola e enológico de cada casta antiga do Douro.
Texto: Mariana Lopes
Fotos: Real Companhia Velha
No Douro, estão reconhecidas cerca de 150 castas autóctones autorizadas para produção de vinho. Só nas vinhas velhas, encontram-se várias dezenas de variedades diferentes, umas mais populares e amplamente utilizadas nos vinhos de hoje, e outras já consideradas raras, existentes em pouca quantidade, algumas com excelentes aptidões na adega. Isto é mais do que razão para se tirar partido prático desta riqueza varietal, e é mesmo isso que a Real Companhia Velha está a fazer com o projecto Séries. “A grande vantagem das vinhas velhas do Douro não é apenas a idade, é, precisamente, a diversidade de castas que lá encontramos, como as familiares Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, naturalmente a Touriga Nacional, mas também outras muito interessantes como Tinta da Barca, Cornifesto, Malvasia Preta, Donzelinho Branco, Donzelinho Tinto… castas estas que produzem, e que se mostram adaptáveis às condições austeras do Douro”, sublinhou Pedro O. Silva Reis, Fine Wine Manager da empresa com sede em Vila Nova de Gaia, na apresentação dos novos Séries. Na verdade, foi esta diversidade que inspirou o nascimento desta gama de ensaios, onde se exploram diferentes técnicas na adega, castas e abordagens: em 2002, depois de várias visitas a campos ampelográficos do Douro, a equipa técnica da Real Companhia Velha inspirou-se e iniciou a aposta na recuperação de mais de 30 variedades autóctones. 
Na Quinta do Casal da Granja, em Alijó, estão as brancas Alvarelhão Branco, Alvaraça, Branco Gouvães (ou Touriga Branca), Esgana Cão, Donzelinho Branco, Moscatel Ottonel, e Samarrinho. Já as tintas Bastardo, Donzelinho Tinto, Malvasia Preta, Preto Martinho, Cornifesto, Rufete, Tinta da Barca, Tinta Francisca e Tinto Cão, são da Quinta das Carvalhas, junto ao Pinhão. Quase todas foram plantadas pela empresa em parcelas estremes com área mínima de um hectare, para serem estudadas quanto ao comportamento agronómico e avaliado o seu potencial em vinhos varietais. Como explicou Jorge Moreira, responsável de enologia da Real Companhia Velha, foram “também às vinhas velhas à procura das castas mais antigas, para as vinificar separadamente”.
Famosa pelos seus vinhos do Porto, a Real Companhia Velha arrancou com o seu projecto de vinhos não fortificados — chamado Fine Wine Division — em 1996, ano em que resolveu “apostar na produção de grandes vinhos do Douro”, referiu o enólogo. “Começámos a melhorar a forma como tratávamos da vinha para termos uvas de qualidade, e a apostar em novas técnicas de vinificação, mais cuidadas e precisas. Sentimos necessidade de perceber, entre a enorme panóplia de castas que tínhamos, o que é que cada uma representava”, desenvolveu. Assim, ainda no final dos anos 90 e já com o “bichinho” dos estudos varietais, a empresa começou a engarrafar vinhos monocasta com as marcas Porca de Murça e Quinta de Cidrô, como Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Chardonnay, ou Cabernet Sauvignon. “Poucos se mantiveram, mas foram importantíssimos para percebermos as nuances de cada uma das castas na vinha e na adega, e permitiu-nos das um grande salto qualitativo”, explicou Jorge Moreira.
 Com primeiro lançamento em 2012, de um Rufete 2010, as Séries contam já com 13 referências, algumas com mais de uma edição, o que totaliza mais de 30 vinhos, incluindo brancos, tintos e espumante. No recentemente inaugurado The Editory Riverside Hotel, em Santa Apolónia, foram lançadas as mais recentes colheitas dos Donzelinho Branco, Bastardo, Rufete, Malvasia Preta e Cornifesto; e também a novidade absoluta, um Tinta Amarela, cujas uvas têm origem na Quinta dos Aciprestes. Como “teaser” do que sairá em breve, provou-se um Samarrinho de 2019 e um Branco Gouvães de 2018.
Com primeiro lançamento em 2012, de um Rufete 2010, as Séries contam já com 13 referências, algumas com mais de uma edição, o que totaliza mais de 30 vinhos, incluindo brancos, tintos e espumante. No recentemente inaugurado The Editory Riverside Hotel, em Santa Apolónia, foram lançadas as mais recentes colheitas dos Donzelinho Branco, Bastardo, Rufete, Malvasia Preta e Cornifesto; e também a novidade absoluta, um Tinta Amarela, cujas uvas têm origem na Quinta dos Aciprestes. Como “teaser” do que sairá em breve, provou-se um Samarrinho de 2019 e um Branco Gouvães de 2018.
“Isto é algo que teve um grande impacto na Real Companhia Velha. Os Séries marcaram muito a nossa forma de produzir vinho, criaram-se técnicas na adega muito a pensar nas uvas que estamos a vinificar, como uso ou não de engaço, maior ou menor extracção, remontagens… no fundo, aprendemos muito com este projecto”, afirmou Pedro Silva Reis, e Jorge Moreira rematou: “O que se passa aqui são as bases do futuro da Real Companhia Velha. Estamos entusiasmados, nunca fizemos vinhos tão bons, e falo de nós e do Douro em geral. Os Séries são, hoje, as sementes para fazer mais tarde vinhos ainda melhores. São lições que aprendemos, de conhecimento e de prazer”. Para “adoçar a boca”, a dupla revelou ainda que, na calha, está um Tinta da Barca e um Moreto…
(Artigo publicado na edição de Maio 2022)
[products ids=”84388,84390,84392,84394,84396,84398″ columns=”4″
Casa da Passarella: Novidades da Serra

Na Casa da Passarella já nos habituámos a assistir a uma busca constante de formas de conservação do património, seja pela busca de vinhas velhas, seja pela recuperação de castas antigas. Aqui relatamos mais um episódio. Texto: João Paulo Martins Fotos: O Abrigo da Passarella Paulo Nunes é o porta-voz da quinta e da empresa, […]
Na Casa da Passarella já nos habituámos a assistir a uma busca constante de formas de conservação do património, seja pela busca de vinhas velhas, seja pela recuperação de castas antigas. Aqui relatamos mais um episódio.
Texto: João Paulo Martins
Fotos: O Abrigo da Passarella
Paulo Nunes é o porta-voz da quinta e da empresa, é por ele que vamos sabendo das novidades e dos rumos que se estão a traçar nesta propriedade emblemática e muito antiga da região do Dão. Ali, além das castas que melhor caracterizam o Dão temos também outras de que ouvimos agora falar e que, ou estavam quase enterradas, ou há muito que deixaram de estar em palco, nas luzes da ribalta.
A prova desta vez iniciou-se com um branco que se tornou um caso de sucesso na empresa. Referimo-nos ao O Fugitivo Encruzado, um vinho que desde a primeira edição, em 2010, ainda nunca falhou qualquer ano e, nas palavra de Paulo Nunes, “parece um relógio suíço», uma vez que ainda que tenha comportamentos diferentes nas várias sub-regiões, a casta Encruzado, tem sempre um comportamento regular e consistente em todas as zonas do Dão. A casta precisa de acompanhamento, na gestão da canópia e na carga de cada cepa mas consegue produzir regularmente. Assim, não se estranha que tenham começado em 2010 com 2000 garrafas e agora estejam a produzir 20 000. É um vinho de grande sucesso junto do público, esgotando-se em 6 meses. Este é “um vinho de uvas, não de parcelas”, querendo Paulo dizer que vão à procuras das uvas que precisam, não vão escolher para fazer um “vinho de uma vinha”. Aqui entram uvas de diversas vinhas com idades dos 12 aos 50 anos. A fermentação decorre em barricas de 500 litros, das quais 25% novas. O vinho estagia depois em barricas ou cuba até Maio do ano seguinte. O Encruzado tem também crescido à custa de outras variedades: Paulo Nunes tem feito reenxertias e substituído a casta Bical porque esta se tem mostrado especialmente sensível às alterações climáticas.
O vinho feito com Uva Cão (a uva que guarda a vinha!) corresponde apenas a 1300 garrafas mas a intenção é estender a vinha até aos 6 ha. A uva é especialmente indicada para os novos tempos que se aproximam porque a elevadíssima acidez que apresenta será muito útil em lotes com outras variedades. O mosto é vinificado em cuba de cimento e tem depois estágio sobre borras totais em barricas usadas; esta prática, associada à curtimenta, ajudam, diz o enólogo, a aligeirar a sensação da acidez, o que a prova confirmou.
O vinho de Tinta Pinheira traz consigo uma carga de novidade; por um lado a casta é muito antiga na região mas foi durante muito tempo desprezada por gerar vinhos com pouca cor. Paulo confessa que “é uma casta que expressa muito bem o carácter do Dão” e, também por isso, plantaram mais um hectare no último ano. Foi feito em lagar com engaço parcial e gerou 3300 garrafas.

O branco Vinha do Províncio (3000 garrafas) resulta de um lote de várias castas e a fermentação inicia-se com curtimenta em barrica usada e termina depois em balseiros de 2500 litros. Foi feito em 2012 e as castas são sempre as mesmas. A vinha, com 50 anos, obriga a duas vindimas separadas porque as brancas estão misturadas na vinha com as uvas tintas.
O tinto Vinha Centenária Pai d’Aviz (2600 garrafas) inclui muitas castas tintas, algumas antigas mas raras como a Alvarelhão, Tinta Carvalha, Tinta Pinheira e Tinta Amarela. Tem origem em pequenas parcelas de vários proprietários, algumas entretanto compradas. Feito em lagar com engaço total, termina depois a fermentação em grandes balseiros. A partir desta colheita passará a chamar-se Pai d’Aviz.
(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2022)
[products ids=”82733,82735,82737,82739,82741″ columns=”4″
Entre Profetas e Villões

Talvez não fosse fácil imaginar que, em território português, ainda existisse terroir vitivinícola para explorar como se quase da primeira vez se tratasse. Mas aconteceu. Na ilha do Porto Santo (imagine-se), onde juntamente com Nuno Faria, produziu 3 brancos surpreendentes e de grande qualidade. Quem? António Maçanita, “who else”? Texto: Nuno de Oliveira Garcia Notas […]
Talvez não fosse fácil imaginar que, em território português, ainda existisse terroir vitivinícola para explorar como se quase da primeira vez se tratasse. Mas aconteceu. Na ilha do Porto Santo (imagine-se), onde juntamente com Nuno Faria, produziu 3 brancos surpreendentes e de grande qualidade. Quem? António Maçanita, “who else”?
Texto: Nuno de Oliveira Garcia
Notas de prova: João Paulo Martins e Nuno de Oliveira Garcia
Fotos: Fita Preta Vinhos
A hora e o local estavam marcados, ainda que sem muita antecedência pois António Maçanita parece gozar de uma inquietação e entusiasmo permanentes que conduzem ao improviso feliz. Chegados ao restaurante, esperava-nos o próprio e Nuno Faria, parceiro no recém-criado projecto Profetas e Villões, propositadamente constituído e desenhado para albergar a produção de vinho na mais antiga ilha dos arquipélagos portugueses. O nome é uma referência expressa às alcunhas entre as gentes do arquipélago da Madeira: Profetas é como os madeirenses chamam aos porto santenses e Villões (lê-se Vilhões) o que os habitantes de Porto Santo chamam aos madeirenses. António e Nuno começam por nos lembrar que são amigos há mais de década e meia, que iniciaram a sua colaboração na criação de cartas de vinhos com chef Fausto Airoldi (no saudoso restaurante Pragma), entendimento que se seguiu nos restaurantes 100 Maneiras de Ljubomir Stanisic onde Nuno é sócio já há vários anos.
Os acontecimentos por detrás da génese do projecto que se apresentou são curiosos e António comunica-os com a habilidade de quem não o faz pela primeira vez. Assim começa: o seu amigo madeirense Nuno Faria habituou-se, desde pequeno, a passar férias no Porto Santo e, por isso, não hesitou em “refugiar-se” na ilha durante a pior fase do confinamento. Esse período levou-o a conhecer melhor a cultura de vinho de Porto Santo, e é o próprio Nuno a confirmar como ficou maravilhado com as vinhas velhas de estóica vivência praticamente sem água. Um dia, ao ligar a António a relatar o seu dia-a-dia na ilha (que incluía provas regulares de alguns vinhos locais…), o enólogo disparou: “vamos fazer aí um vinho!” Talvez António tenha proclamado a afirmação sem se recordar que a cultura de vinho em Porto Santo é deveras particular, sem proximidades com o arquipélago dos Açores (onde António é sócio da Azores Wine Company) e quase nada em comum com o Continente. Mas agora é o próprio a explicar-nos que se trata de um clima sem chuva, com bastante vento, e castas incomuns – Caracol e Listrão (Palomino, conhecida pela produção de Xerez). As vinhas estão assentes em solos calcários básicos (arenitos calcários decorrentes de acumulação de areia e moluscos) protegidas por pequenos muros de canas. Ao olhar para as imagens que nos são projectadas numa tela de computador só conseguimos identificar referências às Canárias (até por proximidade geográfica), a alguns dos solos de areia pobre de Santorini, mas sobretudo às vinhas velhas de Colares, também elas rasteiras e ladeadas por canas. Mas mais que tudo, a verdade é que pouco ou nada se sabe da viticultura no Porto Santo. As linhas de água que permitem as vinhas sobreviver, os antecedentes das castas, o arquétipo de vinho aí produzido durante séculos, tudo isso é desconhecido. Mas o que poderia ser um inconveniente foi antes o desafio para a dupla produtora. Nuno e António provaram todos os vinhos locais, mais os produzidos por produtores madeirenses ao estilo Madeira com uvas do Porto Santo, e procuraram estudar as poucas referências históricas. A experiência do enólogo na “recuperação” de castas antigas fez o resto. Porém, do ímpeto de António até produzir ali um vinho muita coisa aconteceu. Foi necessário convencer produtores locais a avançar nesta aventura (as uvas provêm de vinhas de 80 anos de um produtor: o Sr. Cardina), depois combinar a data da vindima (sem qualquer referência histórica e mais cedo do que os restantes produtores locais, que são todos artesanais). Por fim, transportar as uvas por barco até à ilha da Madeira para aí iniciar a fermentação numa adega, sempre sem hesitar, mesmo quando as primeiras análises indicavam Ph entre 8,5-10…
Na apresentação, António e Nuno trouxeram uma garrafa do produtor local artesanal de que mais gostam para afinar o nosso palato e introduzirem-nos no universo dos vinhos do Porto Santo, e deram-nos ainda a provar um tinto cuja cuba se perdeu num acidente. No fim do almoço, voltam a fazê-lo, mas agora em despedida, com um velho e interessante Listrão Branco do produtor madeirense Artur de Barros e Sousa e um magnífico Listrão de 1977 da Blandy’s que está em comercialização. Mas foram, e são, aqueles três vinhos brancos apresentados – Caracol dos Profetas, Listrão dos Profetas, e Listrão dos Profetas Vinho da Corda – que mais nos ficaram na cabeça nos dias a seguir à prova. Pela originalidade e singularidade, mas sobretudo pela excelência da qualidade logo em ano de estreia num terroir quase desconhecido. Demos a volta à nossa memória para ver quando tinha sido a última vez que isso nos tinha acontecido. Ainda hoje não temos a resposta.
(Artigo publicado na edição de Janeiro de 2022)
[products ids=”82743,82745,82747″ columns=”4″
Dona Matilde-O privilégio das vinhas históricas

Nesta bonita propriedade na margem do rio Douro têm sido vários os ensaios que procuram espelhar melhor as virtudes das vinhas. Sobretudo as que têm mais passado e muito que contar, as vinhas históricas. Texto: João Paulo Martins Foto: Quinta Dona Matilde Começam agora a chegar à verdadeira velhice as vinhas que resultam das plantações […]
Nesta bonita propriedade na margem do rio Douro têm sido vários os ensaios que procuram espelhar melhor as virtudes das vinhas. Sobretudo as que têm mais passado e muito que contar, as vinhas históricas.
Texto: João Paulo Martins
Foto: Quinta Dona Matilde
Começam agora a chegar à verdadeira velhice as vinhas que resultam das plantações pós-filoxéricas que se fizeram no Douro. Para combater a praga usaram-se porta-enxertos resistentes e a lógica do plantio seguiu os ensinamentos que vinham de há séculos: misturar as castas na vinha porque num ano em que não davam umas davam outras e, por outro lado, a vindima não distinguia variedades e todas eram colhidas em simultâneo; provavelmente umas mais maduras que dariam mais álcool e outras mais verdes que confeririam mais acidez. Era este o conceito que hoje chamamos de field blend, em que o lote já vinha feito da vinha, não era necessário fazer ensaios na mesa de provas.
São estas vinhas, comummente chamadas de “vinhas velhas” que José Carlos Oliveira, o técnico de viticultura da quinta prefere, e bem, apelidar de “vinhas históricas”. Elas ainda existem no Douro, apesar das maldades e perfeita destruição de património que se operou nos anos 80 quando se replantaram vinhas com o patrocínio do Banco Mundial, se arrancaram vinhas velhas (e com elas perdeu-se muito do património genético) e se afunilou a selecção das castas a plantar. Estava na mente de todos a produção de uvas para Vinho do Porto mas o que ninguém imaginava era que, passados 40 anos, o DOC Douro fosse mais importante que o Vinho do Porto. Hoje andamos a tapar as feridas, a tentar recuperar estas vinhas muito velhas e a procurar conservar clones e genes. A verdade é que o apreço pelas vinhas históricas é hoje bem maior do que então era e a região só tem a ganhar com isso. O conceito de vinha histórica prende-se também com o facto de não haver duas iguais, quer pela localização de cada uma (exposição, altitude) quer pela malha de castas que torna cada vinha única e irrepetível. Na vindima de 2017 a empresa tinha apresentado o tinto Vinha dos Calços Largos e, agora, surge da vindima de 2019, o Vinha do Pinto.
 O tinto da Vinha do Pinto procura expressar essa complexidade da vinha histórica com uma ousadia ainda pouco tentada no Douro: fazer um tinto topo de gama sem que tenha tido qualquer contacto com barrica, nova ou usada. Este vinho apenas estagiou em inox e o que perdeu (eventualmente) em complexidade e mistério ganhou (seguramente) em elegância, precisão e aptidão gastronómica. A vinha tem 30 castas e à entrada da adega foram retiradas as uvas brancas que a vinha também tinha e que estavam lá para ajudarem no ajuste da cor, sobretudo para a produção de Porto tawny. A produção deste primeiro “tinto sem madeira” limitou-se a 2800 garrafas numeradas. João Pissarra, enólogo, optou por uma intervenção minimalista em termos de adega e daí deriva também a ausência da madeira.
O tinto da Vinha do Pinto procura expressar essa complexidade da vinha histórica com uma ousadia ainda pouco tentada no Douro: fazer um tinto topo de gama sem que tenha tido qualquer contacto com barrica, nova ou usada. Este vinho apenas estagiou em inox e o que perdeu (eventualmente) em complexidade e mistério ganhou (seguramente) em elegância, precisão e aptidão gastronómica. A vinha tem 30 castas e à entrada da adega foram retiradas as uvas brancas que a vinha também tinha e que estavam lá para ajudarem no ajuste da cor, sobretudo para a produção de Porto tawny. A produção deste primeiro “tinto sem madeira” limitou-se a 2800 garrafas numeradas. João Pissarra, enólogo, optou por uma intervenção minimalista em termos de adega e daí deriva também a ausência da madeira.
O branco, menos ousado, é também um field blend de uma vinha com 25 anos e com estágio de 6 meses em barrica. Na vinha encontramos Arinto, Viosinho, Gouveio e Rabigato, quatro das mais emblemáticas variedades da região.
A quinta de 93 ha, com larga frente de rio entre a Régua e o Pinhão, tem 28 ha de vinha e uma alargada área de mato e floresta; está na posse da família Barros desde 1927 e integrava o património da empresa de Porto Barros Almeida. Aquando da venda da empresa à Sogevinus (2006) a família Barros recuperou a posse desta quinta, agora dirigida por Manuel Ângelo Barros e seu filho Filipe. A quinta também produz Vinho do Porto.
(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2021)
[[products ids=”82401,82403″ columns=”4″