O brilho do Dão antigo

Uma prova de vinhos velhos do Dão reuniu vários amigos numa das mais conhecidas quintas da região. Foi um feliz e inesperado encontro entre estilos bem distintos de vinhos de uma época em que o Dão era líder entre as regiões vinícolas de Portugal. O tema escolhido (e há sempre um diferente em cada […]
Uma prova de vinhos velhos do Dão reuniu vários amigos numa das mais conhecidas quintas da região. Foi um feliz e inesperado encontro entre estilos bem distintos de vinhos de uma época em que o Dão era líder entre as regiões vinícolas de Portugal.
O tema escolhido (e há sempre um diferente em cada um destes encontros) foi, como já se escreveu, “vinhos velhos do Dão”.
Cada conviva teria de levar uma ou mais garrafas de branco ou de tinto ou de ambos para o evento. E é sempre bom levar mais do que uma garrafa porque com vinhos velhos nunca se sabe e, por vezes, só à terceira rolha tirada podemos encontrar o vinho certo (as rolhas e o vinho velho têm uma relação bastante temperamental e são tantas as vezes que estão de acordo como aquelas em que não estão).
Começámos pelos brancos. Em prova, dos mais novos para os mais velhos, duas colheitas (2000 e 1999) de Malvasia Fina da Quinta de Cabriz, um Encruzado 1992 da Quinta de Carvalhais, um Constantino Escolha (Mesa Branco) sem data de colheita e um Porta dos Cavaleiros 1984.
Todos mostravam oxidação, em maior ou menor grau, e nada de muito entusiasmante até chegar o Porta dos Cavaleiros, um branco extraordinário, que revelou o belo e exótico passado vínico no Dão. Muito longe do registo actual de vinho branco, mostrou, além de uma excelente cor, uma complexidade e um carácter verdadeiramente brilhantes. Um dos convivas com mais cabelos brancos e mais memória lembrou que aquele vinho foi sempre assim, fantástico, a cheirar e a saber a vinho, longe dos registos mais “trabalhados” que hoje abundam por aí.
As Caves de São João, produtoras deste branco, abasteciam-se na época em cooperativas e casas particulares nas zonas de Vila Nova de Tazém, Penalva do Castelo, Sampaio e Silgueiros. Suspeita-se que este branco, pelo menos em parte, terá vindo da Casa da Ínsua mas, infelizmente, as Caves não faziam na época rastreio da origem dos seus vinhos, pelo que não é possível assegurá-lo.
No andar morno da prova este vinho teve o condão de acordar em mim o bichinho da curiosidade.
Depois mudámos para os tintos, os tintos que fizeram a fama do Dão de meados do século passado. Aqui dos mais velhos para os mais novos: Dão Federação 1971, Porta dos Cavaleiros 1975, Real Vinícola 1976, Dão Pipas 1980, Centro de Estudo de Nelas 1980, Garrafeira “P” (Passarella) 1984 (de José Maria da Fonseca), Sogrape Reserva 1985, Clube do Vinho Alcafache 1986, Quinta de Saes 1992, Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional 1996, Castas de Santar Alfrocheiro Preto 1997, Borges Touriga Nacional 1999.
Divido os vinhos em dois grupos (quase todos com graus alcoólicos de 12% ou 12,5%): até 1985 e depois de 1985. Entre esta colheita e a seguinte (1986) tudo começou a mudar e a novidade das castas e novos métodos de fermentação animou e projectou todo o sector para novos paradigmas de vinho e mercado.
Importa rever a matéria, ou seja, o passado, para vermos se conseguimos ter de novo o Dão extraordinário que em tempos tivemos
Provados os vinhos, algumas decepções, principalmente nos vinhos do após 1985, menos frescos e complexos e com extracções por vezes deselegantes, e algumas e enormes surpresas no grupo até 1985, com 3 vinhos do “arco da velha”: Porta dos Cavaleiros 1975, com uma fibra “muscular” (tanino elegante) absolutamente fora de série; um Centro de Estudo de Nelas 1980 perfeito, com uma finura e complexidade raríssimas (por analogia ao antigo dizer que comparava os vinhos do Dão aos vinhos borgonheses, acrescento que só mesmo os melhores Borgonhas conseguiriam este feito), um daqueles raros néctares que mudam a nossa “cabeça”, leia-se “conceito de vinho”; e um Garrafeira P 1984, com uma elegância de extracção, frescura e profundidade muito difíceis de conciliar nos tempos modernos.
E escrevo esta crónica para bater nesta tecla: por que que razão o Dão já não faz vinhos assim?
Dominado pela extração, pela cor carregada, por poucas castas de clones selecionados e por teores alcoólicos elevados, aparte diversas exceções, o Dão que temos é bem diferente do Dão anterior a 1985. E ainda que haja vontade de mudar o figurino, como o mostram alguns vinhos menos alcoólicos e menos concentrados da nova onda de Dão, estão mesmo assim afastados destes três magníficos tintos. Importa rever a matéria, ou seja, o passado, para vermos se conseguimos ter de novo o Dão extraordinário que em tempos tivemos.
E se posso ajudar, pela minha parte ainda tenho duas garrafas de Centro de Estudos de Nelas 1980, que dormitam na minha garrafeira. Tenho quase 25 anos de escrita sobre vinho, pensava estar cada vez mais seguro do meu “conceito de vinho”, mas este tinto conseguiu mexer de novo as premissas e confesso que fiquei diferente depois de o provar. Muito honestamente, não esperava tanta elegância e tanta coisa boa num tinto de 1980. Absolutamente admirável (sem desfazer nos outros dois, claro está!).
Um futuro para alimentar

Oque achávamos que estava para chegar já se instalou e não nos resta se não tentar entender e ler os sinais a que por teimosia não demos a devida atenção. Temos de comer de forma inteligente e ter presente tudo o que se passa à nossa volta. É a proposta “from origin to original” que […]
Oque achávamos que estava para chegar já se instalou e não nos resta se não tentar entender e ler os sinais a que por teimosia não demos a devida atenção. Temos de comer de forma inteligente e ter presente tudo o que se passa à nossa volta. É a proposta “from origin to original” que o Vila Joya de Joy está a fazer.
TEM a certeza de que não é vegetariano? Eu gostava de responder energicamente “não sou”, mas depois da passagem do chef austríaco Paul Ivic pela Rota das Estrelas deste ano no Vila Joya, penso doutra forma. Ele próprio não é vegetariano, gosta de marisco, peixe e carne, mas aconteceu-lhe um dia voltar-se para os sabores e produtos da sua infância, deu-se bem com as experiências que fez com legumes, frutos e sementes e decidiu abrir o Tian, em Viena.
O guia Michelin disse sim, ganhou a sua primeira estrela e o caminho ascensional na difícil galáxia está traçado, não vai ficar por aqui. Nada que Alain Passard, três estrelas no parisiense Arpège, não tenha conseguido, mas sem a proteína animal no centro torna-se tudo muito mais difícil. Paul Ivic não só resolveu a complexa equação como conseguiu mais sabor nos seus pratos. E sabor representa prazer à mesa. Joy Jung, proprietária do Vila Joya, indigitou-o para integrar a lista de chefs que já estão a trabalhar o que vamos comer no futuro. Quando soube pareceu-me demasiado radical, um overkill mesmo, mas à mesa devemos estar em festa e tive a felicidade de fazer a experiência totalmente livre de preconceitos.
Três pratos dos oito servidos ficaram incrustados para sempre, considero-os verdadeiramente fundadores de uma nova proposta de sabor. O Jardim Zen, composto de aipo, caldo miso e yuzu, pelo incrível trabalho de extracção operado e pela contenção de cozeduras, casado, a propósito, com um chardonnay do Loire de grande talante. De referir, a propósito, que a pedido do sommelier do Vila Joya, Arnaud Vallet, os vinhos do jantar vieram todos da garrafeira do Tian, tal o acerto e complexidade das harmonizações. Um prato carinhosamente chamado Milho do Campo de Gailtaler, uma variedade que evoca a juventude do chef, com queijo dos alpes e lírio a complementar. Serviu-se um chardonnay austríaco da região de Burgenland. Finalmente, um prato dramaticamente baptizado como Sangue de Touro, conquistou-me o pouco que restava por conquistar, genial combinação de beterraba, melancia e levedura que dividiu muito as opiniões, especialmente na ponte com um não menos genial vinho austríaco, da zona do lago Neusiedler, um lote com Pinot Noir e outras castas, equilíbrio notável com o prato.
O dia seguinte foi marcado pelo jantar dos duas estrelas Michelin portugueses: Dieter Koschina pelo Vila Joya, Hans Neuner pelo Ocean, Benoit Sinthon pelo Il Gallo d’Oro, Ricardo Costa pelo Yeatman e José Avillez pelo Belcanto. O desfile de pratos e novas experiências impressionou-me pela solidez e pelo nível elevado a que se chegou em Portugal. A primeira perplexidade que me ocorre está relacionada com a elevada plataforma de qualidade a que se chegou. A outra é que provavelmente todas as estrelas que nos têm calhado devem-se ao labor do Vila Joya. O Peixe-galo com Cozido à Portuguesa e o Pombo Mineral, do chef Ricardo Costa, o Corneto de Presunto e a sobremesa de Chocolate e Tinta de Choco, do chef José Avillez, brilharam, mas há mais por detrás. Todos no geral brilharam e todos fazem brilhar todos.
Embora traga uma série de desafios no campo, é reverenciada logo que entra na adega. Na década de 70, a Touriga Nacional representava apenas 0,1% das plantações durienses
No momento em que escrevo esta crónica, estamos a duas semanas apenas de conhecer o guia Michelin de 2018 e as expectativas são naturalmente elevadas. É importante, contudo, constatar que não são as estrelas que movem cozinheiros e empresários, é antes a instalação da excelência e um certo colectivo uno que já tem vida própria e quer crescer de forma orgânica. O movimento iniciado por Joy Jung dá pelo nome de crEATivity, tem no meio o verbo “eat”, que quer dizer comer. Para nós, portugueses, “comer” tem uma dupla génese. Resulta por um lado do termo latino “comer”, etimologicamente na base por exemplo de palavras como comércio e que significa especificamente “fazer alguma coisa com alguém”; por outro, vem de “cum edere” – alimentar-se – edere – com alguém. O acto de comer é para nós também um acto de partilha, por isso temos a mesa como base de tantos actos. Por isso nos sentamos à mesa em família, trabalho, política e debate. Nutrimos a alma e o corpo e por isso é profunda a proposta de Joy.
O festival Tribute to Claudia, em memória de sua mãe, fundadora do Vila Joya, teve agora a décima e última edição. Foi uma viagem grande, possível apenas por quem alimenta a utopia de um mundo genuinamente melhor. Se forem como eu, que odeio despedidas, ponho os olhos no caminho criado. Conto muito com os talentos que povoam hoje as nossas cozinhas e acredito que a proposta regressiva os vai fazer encontrar os sabores autênticos, a que nem os antigos chegaram. A humanidade irá sempre alimentar-se e precisará sempre de se nutrir. Há que saber manter e melhorar os recursos disponíveis e está mais que visto que a boa cozinha é caminho. Só por acordar para isso, já valeu tudo a pena. Obrigado, Vila Joya.
Quatro tendências para 2018
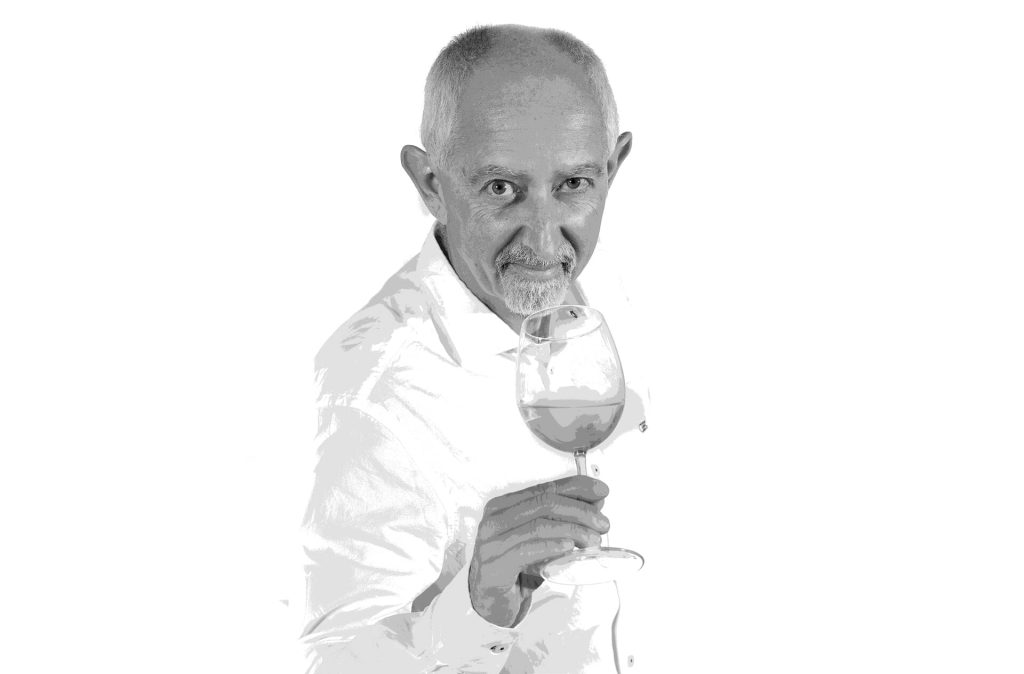
O novo ano será o da confirmação de diversas tendências na vinha e no vinho. Umas serão conjunturais, transitórias. Mas outras poderão representar caminhos estruturantes para o vinho português. OS apreciadores querem diferença e, por isso mesmo, as vinificações especiais estão na moda. O carácter de um terroir ou de uma casta já não […]
O novo ano será o da confirmação de diversas tendências na vinha e no vinho. Umas serão conjunturais, transitórias. Mas outras poderão representar caminhos estruturantes para o vinho português.
OS apreciadores querem diferença e, por isso mesmo, as vinificações especiais estão na moda. O carácter de um terroir ou de uma casta já não é suficientemente singular, e assim a adega assume-se como factor diferenciador. Brancos de curtimenta, vinificações com cachos inteiros, fermentações ou estágios em talhas de barro ou ovos de cimento, garrafas armazenadas debaixo de água ou embarcadas em “torna viagem”, tintos com 17% ou com 11% de álcool, as possibilidades são infinitas. E não é só o consumidor de nicho ou com muito dinheiro que aprecia a diferença. Quando se fazem 80 mil garrafas de um branco de Aragonez e se vendem em poucos meses, a diferença democratiza-se, deixa de ser um luxo.
As “castas região” começam a mexer. Num país que promove como mais-valia a disponibilidade de 250 castas autóctones e a arte do lote, não deixa de ser interessante assistir ao avolumar de monovarietais de castas identitárias de regiões. Falo de castas cujo nome/imagem está associado ao nome/imagem de uma região, e que fora dessa região ou são pouco utilizadas ou não têm estatuto de nobreza. É o caso de Antão Vaz/Alentejo (aqui ajudando a promover uma sub-região, Vidigueira), Baga/Bairrada, Encruzado/Dão, Jaen/Dão, Castelão/Setúbal, Rufete/Beira Interior, Síria/Beira Interior, Fernão Pires/Tejo, Avesso/Verdes ou até Ramisco/Colares, entre outras. É mais fácil “vender” uma casta ou uma região? Fica a pergunta.
A viticultura sustentável não é uma moda, antes uma necessidade
Paralelamente, e talvez paradoxalmente, crescem as castas viajantes portuguesas, ou seja, aquelas que se espalham a partir da sua região tradicional porque são adaptáveis a diferentes climas/solos e consideradas mais valia para qualquer região. Nem vale a pena falar da ubíqua Touriga Nacional. Mencione-se antes as cada vez mais transregionais Alvarinho, Viosinho, Touriga Franca (aqui com alguns erros de casting, pois não é assim tão adaptável), Verdelho, Gouveio, Loureiro ou a “nossa” Alicante Bouschet. Se às portuguesas mais viajadas juntarmos as “globetrotter” internacionais, na maior parte das regiões é um exercício quase impossível adivinhar o que está dentro da garrafa.
A viticultura sustentável não é uma moda ou uma tendência, antes uma necessidade. E uma necessidade de que muitos produtores estão conscientes, sobretudo aqueles que querem deixar algo para as gerações vindouras (as suas e as dos outros). A protecção integrada, a produção integrada, a produção orgânica e, até, a biodinâmica, são distintas formas de procurar solucionar um problema. Os meios podem ser mais ou menos radicais, mais ou menos cumpridos ou assumidos, mais ou menos comunicados, mas o objectivo é apenas um: criar um modelo de produção sustentável, o mais possível amigo do ambiente, que promova a biodiversidade e a preservação dos solos. Que garanta o futuro, no fundo. Proteger a natureza custa dinheiro e o consumidor (ainda) não está disposto a pagar mais por isso, é verdade. Mas este é um dos raros casos em que a produção está à frente do mercado e há cada vez mais produtores a cuidar do ambiente porque acham que é o correcto, não porque daí advenham vantagens comerciais imediatas. Só posso aplaudir.
O Porto que (não) queremos
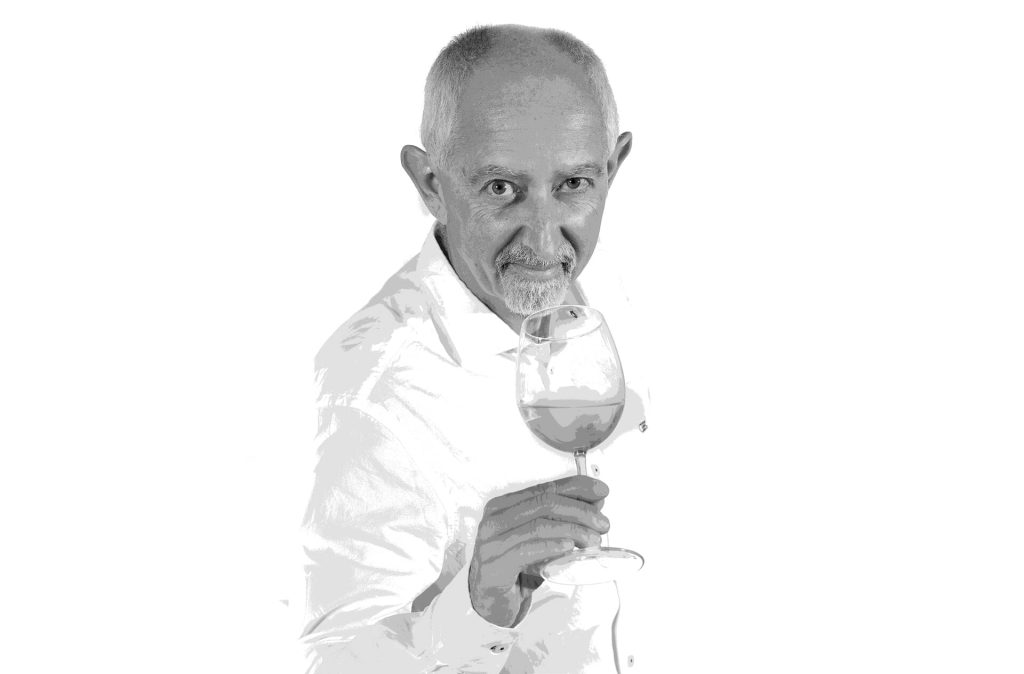
O Porto é, entre todos os vinhos de Portugal, o mais apreciado e prestigiado internacionalmente. No entanto, os portugueses continuam a olhar para o Vinho do Porto de forma algo ambivalente, reconhecendo a sua categoria, mas fugindo do seu consumo. Algo como: “É muito bom, mas não o bebo”. HÁ POUCO mais de um […]
O Porto é, entre todos os vinhos de Portugal, o mais apreciado e prestigiado internacionalmente. No entanto, os portugueses continuam a olhar para o Vinho do Porto de forma algo ambivalente, reconhecendo a sua categoria, mas fugindo do seu consumo. Algo como: “É muito bom, mas não o bebo”.
HÁ POUCO mais de um mês estive num jantar organizado pela Sogrape, para a apresentação dos seus Vintages de 2015. A refeição foi exclusivamente acompanhada por Vinho do Porto, uma opção arriscada mas que, graças ao elevado nível dos vinhos e ao cuidado do chef Marco Gomes na sua harmonização, resultou plenamente. O enólogo Luís Sottomayor justificou a opção pouco comum como uma forma de chamar a atenção para o Vinho do Porto, injustamente relegado para segundo plano pelos consumidores nacionais. Se olharmos para os números, a preocupação com o baixo consumo de Vinho do Porto entre os portugueses pode parecer descabida. As estatísticas até são positivas, revelando o Porto em crescimento no mercado nacional. Não esqueçamos, porém, que os números também nos dizem que Portugal é, desde 2015, o país do mundo com maior consumo de vinho per capita. Como é que toda a gente desatou a beber vinho desenfreadamente e ninguém deu por isso? A resposta está no turismo. O salto no consumo coincide com o boom do turismo e Portugal recebe hoje, anualmente, o equivalente ao dobro da sua população em turistas. Que, felizmente, também bebem (muito) e apreciam (muito) os vinhos portugueses.
Não é possível tirar os turistas das estatísticas de consumo e, assim, para avaliar o comportamento dos portugueses perante o Vinho do Porto, só nos podemos guiar por aquilo que nos transmitem as pessoas, começando por quem vende (restaurantes e lojistas) e terminando no mais importante, quem bebe. E aquilo que as pessoas nos dizem não é animador. Regra geral, o consumidor português, mesmo o mais esclarecido e exigente, tem uma relação distante com o Vinho do Porto.
Não é preciso um momento especial para abrir uma garrafa de Porto
Eu vejo isso no meu próprio círculo de relações. Há 10 anos era constantemente solicitado para dar dicas sobre os melhores Vintage para comprar. Nos últimos tempos, as solicitações já não passam pelo Porto. E porquê? Porque cada vez bebem menos Porto e os vinhos em stock nas garrafeiras domésticas são mais do que su cientes para o baixo ritmo de consumo. Estarei a exagerar? Aqueles que fazem o favor de me ler que respondam: em média, quantas garrafas de Porto abrem por mês? Duas? Uma? Menos do que isso?
E aqui, coloco a questão: o que fazer para mudar estes padrões de consumo? Não tenho respostas concretas, mas acredito que a solução passará por dois níveis de intervenção. As organizações do sector (IVDP, associações de produtores e exportadores, empresas) deverão simplificar e comunicar muito mais e melhor um vinho que é bastante complexo em termos de categorias, tipos, designações, difícil de explicar e de entender. Mas a verdadeira mudança deverá começar no comportamento de cada um de nós, enquanto consumidores exigentes e líderes de opinião (pelo menos na nossa roda de amigos). O Porto de qualidade está cada vez melhor e mais acessível, como mostram os excelentes LBV que provámos nesta edição da Grandes Escolhas. Não há que inventar desculpas para não abrir uma garrafa de Porto. E não são precisos pretextos ou momentos especiais para o fazer. Vamos a isso?
Do silêncio e do tempo e da falta de ambos

Há lugares que nos adoptam sem condições e que numa certa altura da vida parecem moldar-se de tal forma a nós que nos dão a impressão de existirem para nosso exclusivo usufruto. O mundo mágico dos cafés e do prazer de estar. PASTELARIA Mimo, na Avenida Duque de Ávila, ao pé do Instituto Superior […]
Há lugares que nos adoptam sem condições e que numa certa altura da vida parecem moldar-se de tal forma a nós que nos dão a impressão de existirem para nosso exclusivo usufruto. O mundo mágico dos cafés e do prazer de estar.
PASTELARIA Mimo, na Avenida Duque de Ávila, ao pé do Instituto Superior Técnico, onde passei grande parte do meu tempo no segundo ano a estudar, quando não estava no Núcleo de Arte Fotográfica quando não estava a fazer trabalhos de revelação para fora. Apanhei uma vez dois alunos a conversar um com o outro sobre teoria da relatividade por mais de uma hora, até perceber que nenhum dos dois sabia do que falava, eram apenas dois tolos na mesma jangada, a usar a asneira como força motriz.
O livro a que me entregava naquele instante era de física, as “Aulas de Física de Feynman”, um trabalho colossal de divulgação e generosidade por parte do Nobel americano da Física que inventou a cromodinâmica quântica. Tinha conhecido o professor Mariano Gago, naquela altura tinha criado uma turma especial de física de partículas e, apesar de o meu assunto favorito ser acústica, vim a mudar para engenharia física no terceiro ano, logo que o curso foi criado. Foi um conselho sábio, o de viver intensamente a academia, e que segui à risca. De cada cadeira que começava, lia o livro como se fosse um romance, de fio a pavio, só depois o utilizava como manual. E aproximei-me sempre dos melhores, para os ouvir de viva voz e frequentava as aulas deles como se estivesse num retiro espiritual. Dava-me muito trabalho e tirava-me muito tempo, mas nunca consegui fazer doutra forma.
Nos três anos de física tecnológica o Técnico transformou-se para mim num prazer indizível de encontro diário e convívio científico vivo. Os cafés eram a grande plataforma de sustentação da aventura que era um novo assunto, uma nova cadeira, um novo trabalho. Não sei como a pastelaria Capri, na Avenida de Roma, me deixou usar tantas horas seguidas uma mesa, não tenho forma de agradecer a simpatia com que os funcionários da biblioteca da Gulbenkian sempre me ajudavam a encontrar um lugar onde o ar condicionado não fosse demasiado forte para a brutal sinusite de que então sofria. Assim como não consegui nunca perceber por que nunca consegui sequer ler uma página de um livro na biblioteca do Técnico nem por que nunca entrei na Biblioteca Nacional.
Mas é tudo o mesmo e um só fenómeno, o silêncio. Não o de emudecer tudo e todos, mas o de estar em sintonia com o meio e o meio comigo. Em tudo o que faço no vinho e na comida tenho chegado à conclusão de que continuo a aplicar o método. As conversas de café são tanto ou mais importantes do que então eram. Os empregados que neles o ciam é que já não são daqueles que gostavam de nos ver ali todos os dias. Entrar com um livro para ler pode hoje ser decepcionante e não tenho como explicar que preciso absolutamente de o fazer, como preparação para um trabalho ou nova área que esteja a abordar.
Faz-me falta o caos e frenesim dos cafés onde se entra e sai sem ser notado, há um silêncio interior que de certa forma me embala. E sempre um ou dois acontecimentos inesperados desencadeiam novas descobertas, assim como sempre um ou dois encontros inesperados ajudam a criar o desejado caos e que acaba por ter o inefável efeito de ajudar à concentração. O conhecimento não vive mais em torres de marfim, e encerrados em quatro paredes dificilmente crescemos, quando esse é o maior, se não único, imperativo de consciência. As listas, as pontuações, os guias, as provas, as visitas, todas terão sido em vão se não tiverem tido na base o sentido do novo e da descoberta.
Partilhar a mesa com personalidades do mundo do vinho e gastronomia deu-me ao longo dos anos as maiores alegrias. Não tenho ainda a idade su ciente para ter direito a escrever sobre elas, chegará o tempo em breve e logo poderei reviver esses momentos memoráveis. Ainda estou imerso no exercício da actividade e sei que não chegarei onde queria chegar, implicaria sair muitas vezes, ir longe e voltar de terras distantes, experimentar os sabores, tocar nas texturas e sentar-me a mesas de muitas lógicas diferentes para que eventualmente me desse por satisfeito.
A lucidez e as mesas de café ajudam-me a perceber o muito que está ainda por fazer. Tenho os meus episódios felizes com os mais sábios dentre os sábios, mas não é coisa que se coleccione nem acumule, é importante a transformação que se dá em nós. Numa visita recente a uma escola de hotelaria, surgiu a pergunta inevitável sobre o que é preciso estudar para ser crítico de vinhos e comida. Acontece a todos com certeza não ter palavras por vezes para responder cabalmente ao que se pergunta, mas a verdade é que não tenho a resposta. A experiência da academia não está mais confinada hoje a um espaço físico apenas e a informação ui por toda a parte, cobrindo temas e mil assuntos derivados. Disse àquele aluno o que passarei sempre a dizer. Uma crítica é uma peça literária, ela própria sujeita ao crivo da crítica. O domínio da língua é, não tenho dúvida, o grande activo de quem escreve, pensa e fala. Logo a seguir, procurar provar e experimentar tudo o que a proximidade nos permite e estudar os assuntos que a nossa curiosidade nos mostra. O café ainda existe e tem muitas mesas. É preciso prosseguir e permanecer. Que o método é infalível.
A importância de sustentar a sustentabilidade

O caso é simples, a receita evidente, o sucesso garantido. Dar sem procurar receber. A solidariedade é exclusiva dos povos inteligentes e das sociedades maduras e no universo enogastronómico há razões para acreditar num futuro melhor. DESIGNAÇÕES dramáticas e extremas são-me tudo menos simpáticas. Vivemos inundados de autoetiquetas sucessivas de “melhor do mundo”, de […]
O caso é simples, a receita evidente, o sucesso garantido. Dar sem
procurar receber. A solidariedade é exclusiva dos povos inteligentes
e das sociedades maduras e no universo enogastronómico há razões
para acreditar num futuro melhor.
DESIGNAÇÕES dramáticas e extremas são-me tudo menos simpáticas. Vivemos inundados de autoetiquetas sucessivas de “melhor do mundo”, de tal forma que no mundo dos vinhos e comida já nem reparamos no tema em si. É mais um exagero e deixamos passar. Notícias mal construídas de que determinado vinho foi considerado o melhor do mundo em determinado concurso, quando não existe tal concurso. O mesmo para o azeite e tantos outros produtos, em que voluntariamente nos deixamos ofuscar, sem sequer pensar duas vezes. Qual é o primeiro efeito desta torrente de melhores absolutos? Deixamos de ligar, perdemos a sensibilidade para o sentido da superação que é tão importante em todas as ramificações de vinhos e comida.
Existe, contudo, muito em que acreditar, não no campo dos prémios e medalhas, mas no de uma plataforma horizontal integradora de saberes que dá pelo nome de sustentabilidade. Estabelece um único objectivo de forma subsidiária, para cada um de nós, que é entregar à próxima geração um mundo pelo menos tão bom quanto o que nos foi confiado a nós. O desenvolvimento sustentável, entendido nos braços económico, social e ambiental, é o caminho pragmático para lá chegar.
O que tem isto a ver com o vinho e a comida? Tudo. Chego ao assunto desta crónica, a propósito de um evento que começou discreto e vai acontecer pela terceira vez: o jantar do ano. Quatro chefs, cada um com seu prato e patrocinador, vão fazer um jantar no dia 11 de Novembro, no Convento do Beato, em Lisboa. Até aqui, estamos no ‘mainstream’, dentro das iniciativas do género que se vão fazendo pelo país ao longo do ano. Duas pessoas fazem toda a diferença, contudo: Rita Nabeiro, da Adega Mayor, e Francisco Mello e Castro, da Let’s Help.
O universo Delta, encabeçado pelo carismático Manuel Nabeiro, é uma das grandes forças do desenvolvimento sustentável de Portugal, de resto com assento no World Business Council for Sustainable Development, uma das mais fortes estruturas mundiais que, mais do que simplesmente advogar boas práticas, mobiliiza as nações, empresas e indivíduos para o apoio efectivo e real e garantir que o mundo fica mesmo melhor. A Let’s Help representa o mesmo esforço, próximo da heroicidade, por tratar de resolver problemas específicos que vão sendo identificados. Francisco Mello e Castro mantém diversos projectos em simultâneo, reunindo as pessoas certas para atingir os fins a que se propôs. A forma determinada e profissional que utiliza tem mobilizado capital humano e financeiro de forma consistente, a ponto de criar postos de trabalho, marcas e mercados novos.
Estive na prova oficial de apresentação do Jantar do Ano 2017, no picadeiro do antigo Museu dos Coches. Henrique Sá Pessoa (Alma) inaugurou a refeição, com uma entrada de salmão da Noruega curado com caldo de castanhas, patrocínio Leroy. Intervenção simples, casamento pleno de sabores e texturas. Justa Nobre (Nobre), em tandem com a Milaneza, apresentou a sopa rica de robalo à Justa, com a sua assinatura inconfundível. Vítor Sobral (Peixaria da Esquina) deu a provar a tomatada de bacalhau da Noruega, batata-doce e hortelã que, com o patrocínio da Terra do Bacalhau, vai servir no jantar. João Magalhães Rodrigues (Feitoria Altis Belém), serviu, em parceria com a Carnes Jacinto, as bochechas de vitela, cogumelos e puré trufado de batata. Os vinhos estão a cargo da Adega Mayor.
Clara de Sousa e Rodrigo Guedes de Carvalho são os embaixadores do Jantar do Ano desde a primeira edição e estiveram a animar este jantar de afinação com uma descontracção e sentido familiar que ajudou a aproximar todos de todos. Falta dizer que são patrocinadores oficiais o azeite Oliveira de Serra, cerveja Sagres Bohemia, PT Empresas e gelados Magnum, da Olá. O lugar simples para uma pessoa vai custar 45 euros e o pack premium, mesa de 10 pessoas custará 600 euros, em locais diferentes da sala. Serão mais de mil os convidados a assegurar presença, pelo que o êxito da operação está praticamente assegurado. No final, Rita Nabeiro referiu-se a este jantar do ano com a discrição que lhe é característica, como “o evento em que todos os portugueses querem estar”. O lucro reverterá integralmente para a Let’s Help, para investimento em negócios sociais sólidos e sustentáveis.
A terminar, é imperativo reiterar o postulado inicial, de que não existe o melhor do mundo em praticamente nada. Agora, há que acrescentar que melhor do que o Jantar do Ano é difícil conseguir. E que mais vale entrar na onda sustentável por mão segura do que de forma desarticulada, sem fins explicitamente assumidos. Todos ao Convento do Beato, então, no dia 11 de Novembro.
Vícios à mesa

O serviço de mesa é o calcanhar de Aquiles do negócio dos restaurantes. Outras áreas têm melhorado, mas esta, em muitos casos, está cada vez pior. Entre a arrogância, o desleixo e a falta de noções básicas de como lidar com o cliente, venha o diabo e escolha. É fundamental que os empresários do sector […]
O serviço de mesa é o calcanhar de Aquiles do negócio dos restaurantes. Outras áreas têm melhorado, mas esta, em muitos casos, está cada vez pior. Entre a arrogância, o desleixo e a falta de noções básicas de como lidar com o cliente, venha o diabo e escolha. É fundamental que os empresários do sector valorizem esta actividade.
POR razões profissionais e por prazer pessoal frequento há muitos anos, e com regularidade, restaurantes em diversos pontos do país. Não sou – longe disso – um especialista na matéria, mas considero-me… um cliente com experiência, digamos assim. E manda a verdade dizer que tenho assistido a uma notável melhoria de qualidade na nossa restauração em muitos itens, sendo os mais importantes, como é evidente, o maior cuidado na selecção das matérias-primas, o aperfeiçoamento das técnicas de confecção, a abertura a novas influências e, sobretudo, o cuidado com a apresentação. Melhorou muito também, na grande maioria dos casos, o conforto dos clientes, sendo vulgar já encontrar ar condicionado em muitas tascas populares, a decoração dos espaços passou a ser considerada (nem sempre com bom gosto, concedo) e até as casas de banho tiveram a sua dose de melhoria. Está ainda tudo muito longe de ser perfeito, mas é inegável a evolução verificada.
Dito isto, há ainda aspectos fundamentais no negócio dos restaurantes que tardam a acompanhar esta evolução positiva. Em alguns casos, até pelo contrário, notou-se mesmo uma degradação sensível no serviço prestado aos clientes. Falo hoje concretamente do serviço de mesa, aquele que considero ser o calcanhar de Aquiles desta actividade.
Abundam ainda as falhas grosseiras, a falta de profissionalismo campeia em muito lado, a ignorância e a arrogância e, mesmo em certos casos, a má criação, muitas vezes substituíram, sem vantagem, algumas das velhas pechas no atendimento ao cliente. Não em todos, mas em muitos dos nossos restaurantes. E aqui temos que ser democráticos, o panorama é transversal: tanto ocorre nos estabelecimentos mais populares e tradicionais (e nem sempre mais baratos) como naqueles mais pretensiosos a atirar para o fino e com contas finais bem mais carregadas.
A maior culpa nem será dos próprios empregados de mesa, nem eles muitas vezes têm a noção das suas próprias limitações. Mas muitos empresários acham que vale a pena investir muitos milhares de euros em decoração, um pouco menos na contratação de cozinheiros e muito pouco na formação de quem recebe o cliente e o serve à mesa. E nem vou entrar hoje no capítulo do serviço de vinhos que merece uma reflexão à parte. A verdade é que a profissão, ainda com o estigma da palavra “criado” colada à função, não é considerada prestigiante de forma a atrair os profissionais qualificados que as Escolas de Hotelaria apesar de tudo vêm formando e os empregadores não a valorizam nem lhe reconhecem a importância.
Mostrar aos clientes que vale a pena ser exigente e que um melhor serviço é um valor acrescentado, que terá retorno, mais tarde ou mais cedo
Em alguns restaurantes ditos de fine dinning há agora a moda de ter um relações públicas, na maior parte das vezes uma simpática e bem parecida menina que nos conduz à mesa entre sorrisos e salamaleques. A verdade é que depois de sentados nunca mais lhe pomos a vista em cima, e os sorrisos evaporaram-se nesse instante. É então que acontece um fenómeno estranho. Por algum passe de mágica, adquirimos o espantoso dom da invisibilidade que permite que muitos empregados passem repetidamente por nós e não nos consigam ver por muito que esbracejemos ou que requeiramos apenas um pouco da sua atenção. Algumas vezes ficamos com a nítida sensação de que só somos atendidos quando eles finalmente consideraram que já penámos o suficiente por algum pecado passado que tenhamos cometido. Em muitos restaurantes populares a rudeza sem cerimónias é o prato do dia: a demora em levantar os restos da refeição anterior, a limpeza da mesa às três pancadas com um pano húmido que já passou por todas as outras mesas, os talheres atirados para cima do tampo, os pratos colocados em pilha e o freguês que os distribua, o pratinho com azeitonas que já vem com os caroços de outros clientes, são alguns dos mimos com que somos brindados, entre outro conjunto de delicadezas very typical indeed.
Nos restaurantes finos e elegantes, (só em alguns deles, temos que ser justos) por vezes o que mais se destaca é a requintada sobrançaria. As batas negras impõem respeito, a pose é empertigada, o sorriso condescendente. Mas a impertinência depressa desaparece quando o discurso com a descrição do prato se engasga num termo de que o pobre moço desconhece o significado ou quando perguntamos que ingrediente é aquele e ele bate em retirada a dizer que vai perguntar ao chefe. Santa nossa! É nessa altura que tenho por vezes saudade daqueles antigos profissionais, exímios de mãos, que despinhavam o peixe à nossa frente, trinchavam a carne com destreza ou desossavam uma ave com a precisão de um relojoeiro. A cozinha de sala está hoje infelizmente fora de moda mas era um regalo para os olhos. Aqueles crepes flambeados à minha frente valiam a refeição.
Como podem as coisas mudar? Não há segredos, toda a gente sabe! É saber, e sobretudo, querer investir em recursos humanos da mesma forma que se está disposto a pagar a decoração ou se é exigente nos equipamentos. É afinal pagar condignamente aos bons profissionais, de acordo com o seu mérito, e, claro, saber motivá-los e mantê-los empenhados no projecto. É mostrar aos clientes que vale a pena ser exigente e que um melhor serviço é um valor acrescentado que terá retorno, mais tarde ou mais cedo.
Excelência garantida
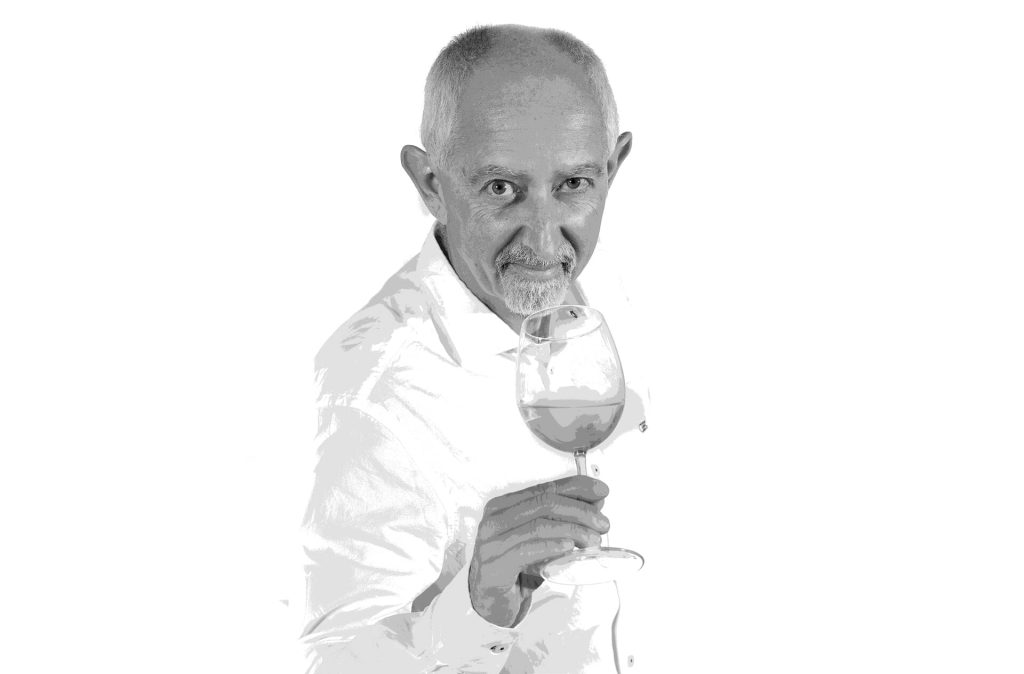
Quando se pensaria que as “receitas” para fazer grandes vinhos tinham passado à história, eis que elas regressam, vestidas agora com novas roupagens e utilizando ingredientes mais apelativos para o consumidor. MICHEL ROLLAND, sendo o grande enólogo que é, viu a sua imagem beliscada junto do consumidor quando se constatou que, para acudir às […]
Quando se pensaria que as “receitas” para fazer grandes vinhos tinham passado à história, eis que elas regressam, vestidas agora com novas roupagens e utilizando ingredientes mais apelativos para o consumidor.
MICHEL ROLLAND, sendo o grande enólogo que é, viu a sua imagem beliscada junto do consumidor quando se constatou que, para acudir às inúmeras adegas a que prestava consultoria no mundo inteiro, utilizava um “protocolo” enológico que era aplicado de forma demasiado generalizada. Provavelmente não poderia fazer de outra forma, dado o gigantesco volume de vinhos que trabalhava em diferentes continentes, mas crítica era justificada e a aversão às receitas ficou.
Na verdade, sobretudo quando se procura a qualidade máxima, trabalhar com receitas é inútil, pois o vinho é feito de diversidade e imprevisto. Não existe um igual a outro porque as condições que os originaram, na vinha e na adega, são também elas diferentes e se alteram em cada vindima. Pretender que, reunindo determinados factores e utilizando determinadas técnicas, se obtém automaticamente um vinho de excelência, é enganar-se a si mesmo e enganar os outros.
Nos últimos anos, porém, tenho vindo a assistir ao regresso das receitas, centradas agora mais na vinha do que na adega (o que não deixa de ser curioso, pois a uva é precisamente aquilo que menos se pode controlar e replicar de um ano para o outro). Vinha velha, viticultura orgânica, leveduras indígenas, barrica usada, vindima precoce, intervenção mínima (seja lá o que isso for), eis a nova receita para o sucesso. A “fórmula” está a ser promovida como sendo a única capaz de assegurar vinhos com grandiosidade e personalidade. E vem com a arrogância de uma certa superioridade moral vitícola e enológica.
A fórmula da grandeza não existe
A receita mudou, mas o erro é o mesmo e pode ser exposto ponto por ponto. Para não me alongar, vou centrar-me apenas num dos seus ingredientes, a vinha velha. O próprio conceito de vinha velha é pouco claro, mas vamos assumir que será uma vinha com muitas castas, todas misturadas e plantada há mais de 70 anos. Ora, dizer que uma vinha origina grandes vinhos por ser velha, é completamente absurdo. Como se a sua localização ou a conjugação de castas que lá existe não tivesse qualquer importância. Uma vinha velha não é igual a outra vinha velha, mesmo quando plantadas a 500 metros uma da outra, como qualquer produtor com várias vinhas deste tipo pode testemunhar. E se uma oferece consistentemente vinhos de enorme categoria, outra pode não originar mais do que vinhos banais.
Já bebi muitíssimos vinhos de grande nível oriundos de vinhas velhas. Mas também já me deliciei muitas vezes com belos vinhos de vinhas jovens, até do primeiro ou segundo ano de produção. Excelência e banalidade já provei de vinhas orgânicas ou de proteção integrada, filtrados ou não filtrados, com leveduras indígenas ou selecionadas, com barrica nova ou usada, de lagar ou de inox.
Não existe uma fórmula que assegure a grandeza. E ainda bem. A paixão do vinho (pelo menos a minha) alimenta-se precisamente do imprevisto, da surpresa, da noção de que nada podemos dar como garantido e de que existe sempre margem para descobrir e aprender. Após 28 anos de escrita de vinhos, a única coisa de que estou certo é de que não há certezas. Quem não percebe isto, não percebe nada.



