Mal me quer, bem me quer
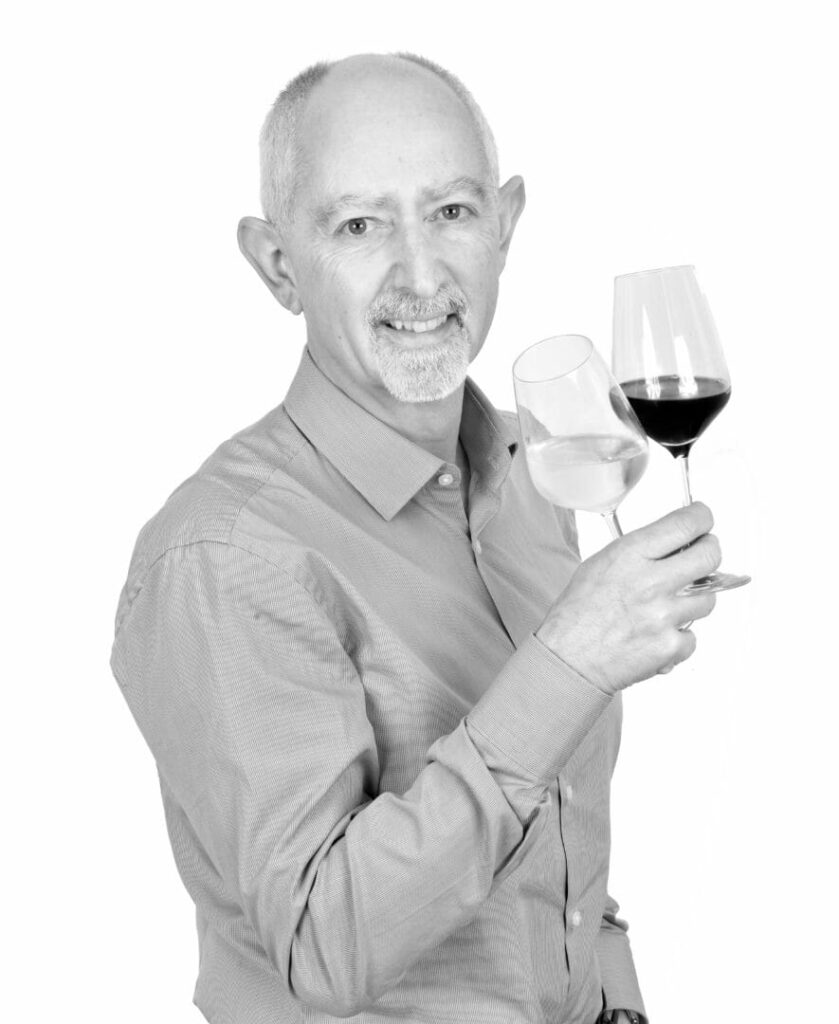
Editorial da revista nº39, Julho 2020 Num movimento (vínico e não só) que um pouco por toda a Europa aponta para uma espécie de regresso às origens, um retorno ao tradicional e ao clássico, estamos a assistir também em Portugal à reabilitação de algumas variedades de uva que caíram em desgraça a partir dos anos […]
Editorial da revista nº39, Julho 2020
Num movimento (vínico e não só) que um pouco por toda a Europa aponta para uma espécie de regresso às origens, um retorno ao tradicional e ao clássico, estamos a assistir também em Portugal à reabilitação de algumas variedades de uva que caíram em desgraça a partir dos anos 90. E os resultados são bem interessantes.
Luís Lopes
Nesta edição da Grandes Escolhas publicamos dois trabalhos que, de alguma forma, se centram em castas mal amadas. Mariana Lopes relata e comenta uma prova temática de Fernão Pires organizada pela CVR da região do Tejo; e Dirceu Vianna Junior reflecte sobre o passado, presente e futuro da variedade Jaen.
A Fernão Pires é um caso paradigmático de casta incompreendida. É a variedade branca mais plantada em Portugal, presente de norte a sul do país e, sem sombra de dúvida, a casta identitária do Tejo. Nesta região, ao longo de décadas, foi utilizada como pau para toda a obra, explorada até ao tutano, plantada em terrenos de melão, sempre com o intuito de produzir quantidade a baixo preço. Quando o mercado mudou e exigiu mais qualidade, os produtores procuraram de imediato outras castas “salvadoras” em vez de tratar melhor aquela que tinham em casa. E, no entanto, Fernão Pires é uma uva plena de carácter, adaptável a diferentes tipos de solo e clima, muito plástica nos perfis de vinhos que pode originar. Apenas pede a atenção e cuidado que tantas vezes são disponibilizados a castas supostamente mais nobres.
A Jaen passou, no Dão, pelo mesmo calvário. Na primeira metade do século XX tomou o lugar da Touriga Nacional, porque esta produzia pouco e amadurecia tarde, e o que se queria era quantidade e fugir às chuvas de setembro que arruinavam a colheita. E a Jaen fazia tudo o que lhe pediam. No final da década de 80, quando a Touriga regressou do longo exílio, agora bem mais musculada e rejuvenescida, a Jaen tornou-se a casta a abater: fazia vinhos sem cor, sem taninos, sem longevidade. Pudera, se a obrigavam a produzir barbaridades de uva! Felizmente, tal como acontece com a Fernão Pires no Tejo, os produtores do Dão estão agora a redescobrir a Jaen e a dar-lhe a oportunidade de mostrar o que vale quando bem tratada. E, como revela a prova de Dirceu Vianna Junior, vale muito. É verdade que a maturação precoce que Fernão Pires e Jaen partilham, e que foi outrora uma “vantagem competitiva”, pode vir a ser um problema num cenário de alterações climáticas. Mas o conhecimento vitícola que hoje possuímos e as ferramentas que temos à nossa disposição permitem contornar favoravelmente essa aparente desvantagem.
Por outro lado, avaliar a qualidade de uma casta unicamente pelo seu desempenho enquanto vinho monovarietal é um enorme disparate. As variedades de uva não precisam, para ser muito boas, de fazer grandes vinhos a solo. Basta que cumpram um papel de relevo no “blend”, que se evidenciem como importante mais valia no conjunto, que sejam a base ou o complemento de um grande vinho. Nos melhores tintos de Bordeaux, raramente o Cabernet Sauvignon aparece sozinho. Nos melhores vinhos do Douro, dificilmente encontramos Touriga Franca sem companhia. Nos melhores clássicos alentejanos, Alicante Bouschet, Trincadeira, Aragonez, são complementares. Haverá casamento mais perfeito do que Fernão Pires e Arinto no Tejo? Ou Fernão Pires (Maria Gomes) com Bical e Cercial na Bairrada? Ou Jaen com Touriga Nacional e/ou Alfrocheiro no Dão?
Fernão Pires e Jaen, a solo ou acompanhadas, são capazes de nos oferecer muita qualidade sem perder personalidade. Mais do que isso, podem assumir-se como fundamentais no reforço da identidade regional. Além de que, convenhamos, dá sempre um certo gozo ver o patinho feio transformar-se em cisne… [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”1″ divider_color=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Siga-nos no Instagram
[/vc_column_text][mpc_qrcode preset=”default” url=”url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvgrandesescolhas|||” size=”75″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:55px;margin-left:55px;”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Siga-nos no Facebook
[/vc_column_text][mpc_qrcode preset=”default” url=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvgrandesescolhas|||” size=”75″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:55px;margin-left:55px;”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Siga-nos no LinkedIn
[/vc_column_text][mpc_qrcode url=”url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fvgrandesescolhas%2F|||” size=”75″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:55px;margin-left:55px;”][/vc_column][/vc_row]
Antes, durante, depois
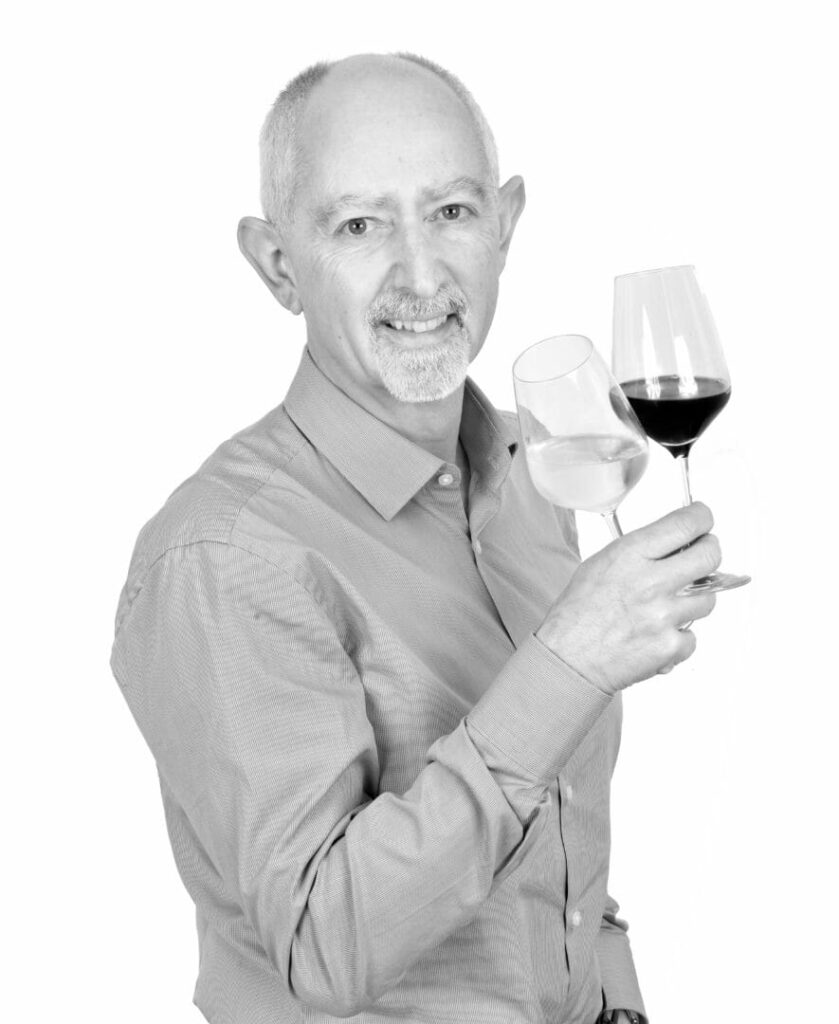
Editorial da revista nº38, Junho 2020 Escrevo estas linhas pouco mais de 24 horas após ter terminado o chamado confinamento. Ou, melhor dito, um dia depois do início da primeira fase do desconfinamento. No que ao mercado do vinho respeita, sabemos como foi o antes, estamos agora a analisar o que se passou durante, e […]
Editorial da revista nº38, Junho 2020
Escrevo estas linhas pouco mais de 24 horas após ter terminado o chamado confinamento. Ou, melhor dito, um dia depois do início da primeira fase do desconfinamento. No que ao mercado do vinho respeita, sabemos como foi o antes, estamos agora a analisar o que se passou durante, e não temos qualquer indicação sobre o que acontecerá depois. Mas, entretanto, surgiram interessantes estudos de mercado que nos ajudam a perceber (e tentar antever) o comportamento dos consumidores em diferentes países.
Luís Lopes
Ao longo destes últimos dois meses, fechado em casa, tenho falado diariamente com inúmeros produtores de vinho, grandes, médios e pequenos, especializados em diferentes mercados e segmentos de preço, e a unanimidade é impressionante relativamente a um dado em particular: até ao estado de emergência decretado a 18 de março, o primeiro trimestre do ano estava a ser o melhor de sempre em termos de facturação para o mercado interno e externo. Tão positivos foram os números que, apesar da quase total ausência de negócio nas últimas duas semanas do mês, o rótulo de “ 1º trimestre campeão” não lhe pode ser retirado. Mas isso foi o antes. E o antes já é história.
Quanto ao durante, esse vai durar até uma relativa normalidade ser reposta. Mas tive acesso a alguns estudos de mercado que ajudam a perceber em que ponto estamos. Talvez o mais interessante de todos seja o promovido pela European Association of Wine Economists (EuAWE), da qual faz parte a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através do Prof. João Rebelo. A 17 de abril foi lançado um inquérito em 8 países (Espanha, Bélgica, Itália, França, Áustria, Alemanha, Portugal e Suíça) para determinar como a crise da Covid-19 afeta o comportamento dos consumidores europeus de vinho. Apesar de o inquérito ter terminado apenas a 10 de maio, a 30 de Abril existiam já dados que permitiam conclusões “estatisticamente robustas” em Espanha, França, Itália e Portugal, com base em 6600 respostas de consumidores de vinho e bebidas alcoólicas.
Eis alguns dos dados mais impactantes recolhidos pelo estudo da EuAWE. Nos quatro países, a frequência do consumo de vinho aumentou acentuadamente com o confinamento, ao passo que caiu para a cerveja e, ainda mais, para as bebidas espirituosas. O preço médio de compra do vinho diminuiu significativamente. Os supermercados continuam a ser o principal canal de distribuição. O e-commerce cresceu muito, ainda que partindo de uma base reduzida: 80% dos inquiridos continuam a não fazer compras on-line, mas 8,3% dos italianos, 6,6% dos espanhóis, 5,2% dos portugueses e 4,6% dos franceses compraram vinho pela primeira vez via Internet; os stocks pessoais levaram um rombo – as garrafeiras de casa têm sido o principal vector para aumentar a frequência do consumo de vinho. Registou-se uma explosão das “provas digitais”, especialmente entre os franceses, com quase metade dos inquiridos a referir ter experimentado esta forma de degustação. Outras fontes confirmam o padrão. A fiável Wine Intelligence, relativamente aos EUA e ao Reino Unido (o estudo relativo a Portugal chegou-me depois do fecho desta edição), aponta para mais consumo em casa, mas compras a preços mais baixos.
E quanto ao futuro a curto prazo, aquilo que vem depois? Bom, também aí o estudo da EuAWE deixa algumas pistas. Por exemplo, 70% dos inquiridos consideram que é necessário favorecer a compra de vinho local, o que é consistente com a tendência, que já se esboçava antes da crise, de privilegiar circuitos curtos na indústria alimentar. Três quartos das pessoas pensam que deixarão de lado as provas on-line. Por outro lado, é possível prever alguma retoma na compra de vinhos mais ambiciosos, para repor o stock das garrafeiras pessoais. Já a Wine Intelligence refere que cerca de 40% dos consumidores norte-americanos inquiridos disseram que teriam menos probabilidade de ir a um restaurante nos tempos pós confinamento. E mostram-se bastante cautelosos relativamente às finanças domésticas e à ideia de embarcar num avião. Mas nem tudo está perdido. Ao que o estudo indica, a intenção parece ser substituir grandes luxos, como férias no estrangeiro, por pequenos luxos, como uma garrafa de vinho de melhor qualidade. O desafio está em fazer com que esse vinho seja português…
As palavras destes tempos
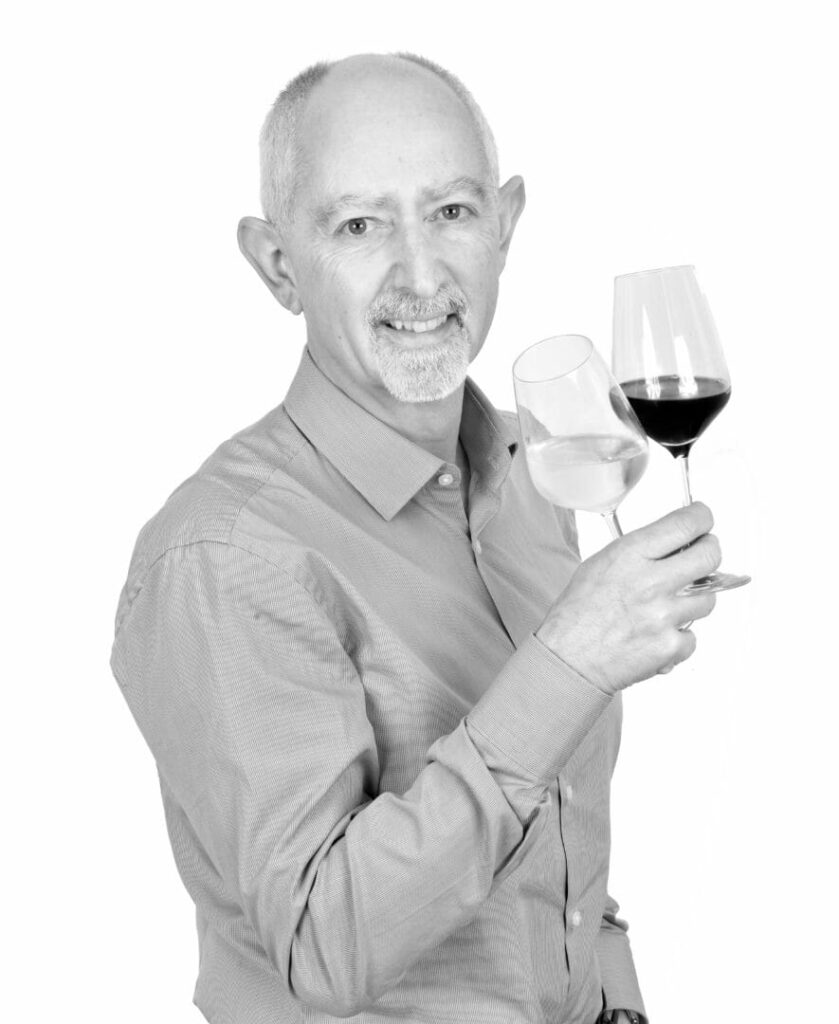
Editorial da revista nº37, Maio 2020 Nas vinhas de todo o país, as plantas acordam do sono de inverno e não percebem que o mundo que encontram já não é o mesmo. O ciclo da vida continua ali como se nada tivesse mudado, daqui a pouco a flor, o fruto, a vindima. Mas normalidade só […]
Editorial da revista nº37, Maio 2020
Nas vinhas de todo o país, as plantas acordam do sono de inverno e não percebem que o mundo que encontram já não é o mesmo. O ciclo da vida continua ali como se nada tivesse mudado, daqui a pouco a flor, o fruto, a vindima. Mas normalidade só existe mesmo no campo. Nas adegas, nos produtores de vinho, nas casas dos consumidores, o mundo é feito de incerteza, e as palavras que se dizem e ouvem, são as palavras destes tempos.
Luís Lopes
Imprevisibilidade. É talvez a pior coisa para qualquer empresa ou família, a incapacidade de planear a curto ou médio prazo. Pura e simplesmente não saber com o que contar, não por irresponsabilidade, desleixo, incompetência, mas pela total ausência de controlo sobre os factores que determinam a forma como vivemos. Todos os que directa ou indirectamente estão ligados ao mundo do vinho (produtores, distribuidores, consumidores, viticultores, retalhistas, fornecedores de rótulos, caixas, garrafas e rolhas, jornalistas, consultores de comunicação, restaurantes, organizadores de eventos, a lista é infinda…) foram severamente atingidos pelas restrições provocadas pela pandemia. Falamos uns com os outros e ansiamos por indícios que permitam antever um calendário de normalidade. Mas a imprevisibilidade mantém-se e o normal, quando chegar, será um outro normal.
Online. Parece ser a palavra mágica destes tempos novos, aquela que resolve todos os problemas, a que contorna as dificuldades, a que encurta as distâncias. A urgência (desesperada?) com que um mundo confinado abraçou o “online” é avassaladora. No caso do vinho, desde logo, na comercialização. De um momento para o outro não há produtor que não aposte tudo na venda online em loja virtual própria ou através das lojas especializadas. E apesar dos constrangimentos logísticos (ninguém esperava que, de repente, o país deixasse de ir comprar e ficasse em casa à espera das compras) a coisa vai funcionando. Online é também a palavra de ordem da comunicação. À mesma hora de um único dia cheguei a assistir a quatro directos (live-streaming, convém usar o nome adequado, para não passar por infoexcluído…) promovidos por quatro diferentes produtores de vinho. Toda a gente quer chegar a toda a gente ao mesmo tempo. O take-away dos restaurantes, também assenta na encomenda online. No seio das famílias, é a única maneira de nos vermos e, até, bebermos “juntos”. A minha mãe, de 84 anos, vê-me, fala comigo, dá-me um beijo por whatsapp. Em fevereiro passado, ela nem sabia que essa “coisa” existia. O salto digital foi gigantesco para todos. Veio para ficar? Vai ser assim de agora em diante? Vai substituir a conversa cara a cara, o aperto de mão, o abraço, o tocar dos copos? O take-away e a venda online não salva restaurantes, lojistas e produtores, tal como o whatsapp não resolve as saudades da família e dos amigos. É um compromisso pífio e frustrante. Mas ajuda.
Mudança. Estratégias de mudança são definidas e implementadas nas empresas, restaurantes, profissões, unidades familiares. No universo empresarial procura-se perceber os comportamentos do mercado, diversificar os canais de distribuição, minimizar o risco, tentar o crowdfunding, levar o produto até ao consumidor final. Enquanto centenas de milhar caem no desemprego, as operações logísticas têm falta de mão de-obra, não dão conta do recado. Em casa, as palavras de ordem são proteger e poupar. Mas o confinamento é doloroso, física e mentalmente, e comer uma boa refeição e beber um bom vinho é o mínimo a que temos direito. E, se pudermos, usamos (e abusamos, sim!). O consumo de vinho dispara nos países nórdicos e Canadá. No Google brasileiro, a palavra “vinho” ultrapassou a “cerveja”.
Solidariedade. Da dificuldade, do desespero, nasce a solidariedade. Sempre assim foi nos grandes desafios da humanidade. Dispenso-me de falar dos que zelam pela nossa saúde, o seu espírito de missão é assumido e reconhecido. Mas os produtores de vinho e destilados têm feito a sua parte. Multiplicam-se as doações de desinfectantes ou percentagens de vendas para instituições de saúde ou de cuidados a idosos. É bom saber que, nestes momentos difíceis, o ser humano que há em nós prevalece. Na esperança de que melhores dias virão. Porque têm mesmo de vir.
O branco mais brilhante
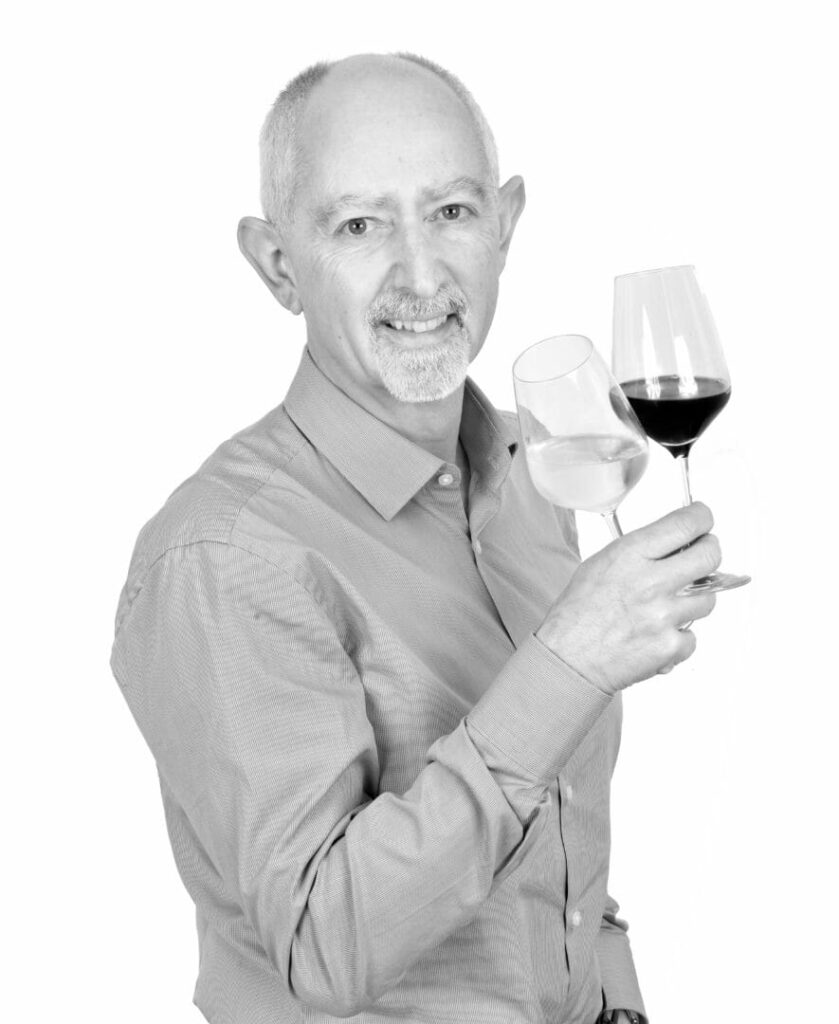
Editorial da revista nº36, Abril 2020 Uma edição especialmente dedicada aos vinhos brancos, é a proposta da Grandes Escolhas para este mês de Abril de 2020. E não é por ter chegado a Primavera – o consumo de brancos já deixou de ser sazonal – mas sim porque o tema merece por inteiro o destaque. […]
Editorial da revista nº36, Abril 2020
Uma edição especialmente dedicada aos vinhos brancos, é a proposta da Grandes Escolhas para este mês de Abril de 2020. E não é por ter chegado a Primavera – o consumo de brancos já deixou de ser sazonal – mas sim porque o tema merece por inteiro o destaque. Lojas, restaurantes e consumidores são unânimes: os vinhos brancos estão decididamente em alta.
Luís Lopes
Ao longo da minha vida profissional assisti, naturalmente a muitas tendências, modas, transformações nos perfis de vinho e nos hábitos de consumo. Avaliando tudo isto, não errarei em dizer que os vinhos brancos são, globalmente, a categoria de vinho onde ocorreram mais mudanças. Desde logo, qualitativas. Convenhamos, a qualidade média dos brancos portugueses do início dos anos 90 deixava bastante a desejar, porventura nivelada com a dos seus congéneres espanhóis, mas bem longe do que já se fazia em França, norte de Itália, Alemanha e, até, em diversos países do chamado Novo Mundo. A tecnologia de adega (prensas, inox e sistemas de frio, sobretudo) que os dinheiros europeus tornaram possível, aliada à vaga de enólogos recém formados que nessa época entrou na indústria, resolveu em poucos anos este problema, trancando no baú das memórias os brancos oxidados, de aromas a mofo e pano molhado e sabores desequilibrados e amargos (ainda que alguns procurem hoje ressuscitar o estilo em nome da sagrada “naturalidade”…).
Promover o carácter da região e da casta foi o passo seguinte, e esse passo crucial foi dado pela viticultura. Não apenas os enólogos deixaram de olhar para a uva à entrada da adega como uma simples fruta, avaliada unicamente pelo seu estado sanitário, como passaram a ser acompanhados por viticólogos conhecedores, que tratavam cada variedade de forma diferenciada em função da sua origem e características. A noção de “branco de terroir” que, apesar de tão abusada, continua a fazer sentido, instalou-se junto de produtores, técnicos e consumidores.
Foram estes últimos que apoiaram e sustentaram todo o movimento transformador dos vinhos brancos portugueses, reconhecendo esse incremento qualitativo, comprando e promovendo o produto no seu meio. Acompanhando esses consumidores cada vez mais exigentes, foram-se multiplicando os brancos cada vez mais ambiciosos, em qualidade absoluta, personalidade, longevidade e capacidade de desafiar os sentidos, enquanto algumas variedades se tornavam categorias de produto, pedidas pelo nome: Alvarinho, Loureiro, Encruzado, Antão Vaz, Arinto…
Olhando para a oferta de brancos portugueses de superior categoria que hoje chega ao mercado, oriunda de todas as regiões do continente e ilhas, é fácil esquecer que há apenas duas décadas havia “líderes de opinião” que escreviam e defendiam em público que: “Portugal é país de tintos, só em tintos podemos competir, os brancos serão sempre inferiores aos do resto da Europa; “os vinhos brancos devem ser bebidos no ano a seguir à colheita”; “Douro e Alentejo, pelo seu clima quente, nunca farão brancos de grande nível”; ou ainda que “o primeiro dever de um Porto é ser tinto”.
Felizmente, os apreciadores optaram por não ligar a estes disparates. A procura por brancos de qualidade continua a crescer e hoje, entre as uvas mais bem pagas de Portugal, a larga maioria pertence a variedades brancas (Verdelho nos Açores, Alvarinho nos Verdes, Antão Vaz no Alentejo ou Encruzado no Dão). É verdade que, no topo da pirâmide, os tintos atingem os preços mais elevados e alcançam os maiores índices de notoriedade – o mesmo se passa, aliás, com a generalidade dos vinhos do mundo. Mas não tenham dúvidas: os brancos portugueses ainda vão dar muito que falar.
Online
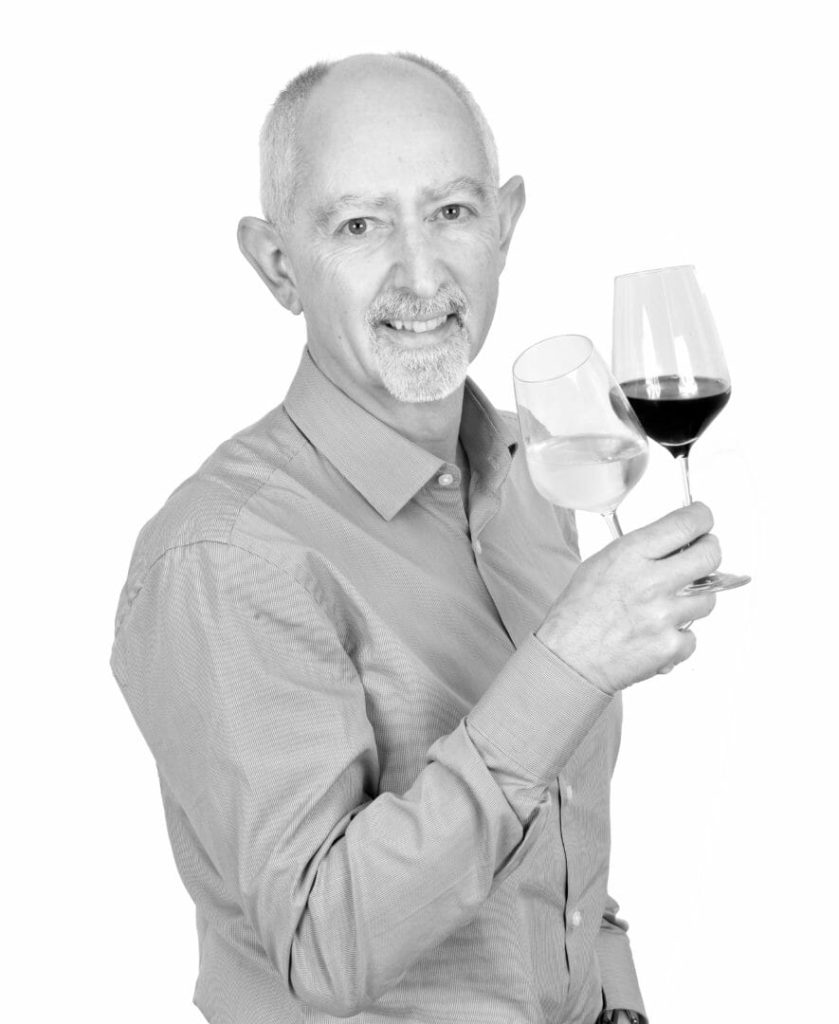
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] Editorial da revista Nº43, Novembro de 2020 A internet aumentou desmesuradamente o seu peso nas nossas vidas profissionais (e pessoais!) desde março de 2020. No sector do vinho, a verdade é que o online, não resolvendo […]
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Editorial da revista Nº43, Novembro de 2020
A internet aumentou desmesuradamente o seu peso nas nossas vidas profissionais (e pessoais!) desde março de 2020. No sector do vinho, a verdade é que o online, não resolvendo nada e, muito menos (longe disso), substituindo a interação pessoal, atenua os efeitos que o distanciamento social nos impõe. E em algumas áreas, quando bem usadas, as soluções online são de tal forma eficazes que, acredito, nunca mais voltaremos a trabalhar como antes da pandemia.
Luis Lopes
Reuniões, apresentações, vendas, muito do que fazemos hoje deixou de ser presencial e passou a virtual. No meu caso, nunca acreditei naqueles que, quando o covid-19 dinamitou os negócios, apontaram o e-commerce como solução milagrosa. Hoje, a grande maioria dos produtores de vinho portugueses possui uma loja online ou trabalha com um parceiro nessa área, mas quase todos confessam que as vendas são residuais.
No que respeita à comunicação produtor/líderes de opinião ou produtor/consumidor, também, confesso, desconfiei da eficácia do online. As muitas apresentações de vinhos a que assisti através das habituais plataformas (Zoom, Teams…) reforçaram essa desconfiança. Algumas foram absolutamente patéticas, com produtores calados e estáticos enquanto meia dúzia de jornalistas e sommeliers provavam, igualmente sisudos, o vinho que fora enviado para casa, interrompendo o desconfortável silêncio com uma ou outra pergunta do tipo “que grau tem este vinho?” mostrando que nem a ficha técnica do produto se tinham dado ao trabalho de consultar.
No entanto, no meio de tudo isso, uma ou outra apresentação dinâmica, bem conseguida, interventiva, sugeriu-me que o online poderia funcionar como ponte de comunicação, desde que bem utilizado. Recentemente, dois eventos completamente distintos, derrubaram as minhas dúvidas e revelaram-me o enorme potencial da ferramenta que temos em mãos.
Num deles, participei como convidado na adega de um produtor, enquanto através do Zoom era feita a apresentação de um vinho para um grupo de 20 jornalistas e sommeliers de topo no Brasil. Não foi uma apresentação vulgar. Espalhados pela gigantesca metrópole de São Paulo, esses 20 profissionais receberam, ao mesmo tempo, um kit composto por um prato de bacalhau elaborado por um famoso restaurante de cozinha portuguesa e um frappé selado com garrafa e gelo.
Na adega, um ecrã de grande formato revelava as caras dos participantes, incluindo o importador local. O almoço decorreu como se estivéssemos todos na mesma sala. O produtor, e eu próprio, fomos bombardeados com perguntas interessantes e interessadas, ouvidas e respondidas mais facilmente do que se nos encontrássemos numa comprida mesa. Saí dali a pensar que: primeiro, a acção deve ter saído muito mais barata ao produtor do que se tivesse voado para São Paulo e pago a refeição num restaurante; segundo, muitas daquelas pessoas nem sequer iriam comparecer no restaurante e ali estavam todas, confortavelmente, em suas casas; terceiro, nenhum deles se vai esquecer nem do momento nem do vinho.
O outro evento foi muitíssimo mais ambicioso, na escala e nos meios envolvidos. Nunca, no mundo, se fez algo como o Vinhos de Portugal, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro e transmitido online para os domicílios de quase 1100 pessoas, que compraram os bilhetes (com a opção de packs de vinhos) no Brasil e em Portugal. O evento dos jornais Público, O Globo e Valor Económico, em parceria com a Viniportugal, e em que tive o privilégio de participar como um dos orientadores das sessões, realizou 62 lives/entrevistas de 25 minutos com produtores e 16 provas temáticas de 60 minutos. A milhares de quilómetros do local da acção, grupos de amigos e famílias abriam as garrafas recebidas, assistiam às provas, questionavam oradores e produtores.
O enorme sucesso desta iniciativa substitui o contacto pessoal e a interacção numa sala de provas? Não, definitivamente. Mas evidenciou-se como um modelo alternativo, agora, e complementar, no futuro. O online é uma ferramenta, como um martelo ou um automóvel. Posso estragar uma parede quando queria pregar um prego ou atropelar alguém quando apenas pretendia levar-me a um local. No fundo, o online não é mais do que o reflexo das pessoas que o usam.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”1″ divider_color=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Siga-nos no Instagram
[/vc_column_text][mpc_qrcode preset=”default” url=”url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvgrandesescolhas|||” size=”75″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:55px;margin-left:55px;”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Siga-nos no Facebook
[/vc_column_text][mpc_qrcode preset=”default” url=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvgrandesescolhas|||” size=”75″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:55px;margin-left:55px;”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Siga-nos no LinkedIn
[/vc_column_text][mpc_qrcode url=”url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fvgrandesescolhas%2F|||” size=”75″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:55px;margin-left:55px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” url=”#” size=”small” open_new_tab=”” button_style=”regular” button_color=”Accent-Color” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”” hover_color_override=”” hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” el_class=”” text=”Assine já!” margin_top=”15px” margin_bottom=”25px” css_animation=”” icon_fontawesome=”” icon_iconsmind=”” icon_linecons=”” icon_steadysets=”” margin_right=”” margin_left=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column][/vc_row]
O bazar de Istambul

A promoção, o desconto, está cada vez mais enraizado no sector do vinho. Aparentemente, os elos mais visíveis da cadeia de valor – hipermercados e clientes – estão satisfeitos. Mas a produção fica completamente estrangulada e refém de um modelo de negócio que não lhe deixa margem e não promove a justa retribuição para quem […]
A promoção, o desconto, está cada vez mais enraizado no sector do vinho. Aparentemente, os elos mais visíveis da cadeia de valor – hipermercados e clientes – estão satisfeitos. Mas a produção fica completamente estrangulada e refém de um modelo de negócio que não lhe deixa margem e não promove a justa retribuição para quem criou as uvas e fez os vinhos.
Luís Lopes
“O consumidor português é um bocado viciado em promoções (…) No sector alimentar, 50% das compras são feitas em promoções. Naturalmente que, a partir de certa altura, não há milagres. A indústria defende-se, empolando os preços, para poder absorver essas promoções. Mas, de facto, é um problema cultural. Como eu costumo dizer, há uma cultura, não sei se mediterrânica, que faz lembrar o bazar de Istambul” – João Vieira Lopes, presidente da Confederação de Comércio e Serviços, em entrevista ao Público, 28 de Novembro de 2019
O autor das frases que acima reproduzo definiu de forma perfeita as raízes em que assenta este modelo de negócio. O português adora, na verdade, discutir o preço, regatear, sair de um encontro negocial com a sensação de que levou a melhor sobre a outra parte. Está-lhe no sangue. Como nas lojas modernas o cliente não tem um interlocutor físico, e a discussão do preço não é possível entre comprador e vendedor, a loja presta diligentemente esse autêntico serviço social e cultural que é simular uma negociação na qual o cliente sai vencedor e satisfeito.
E o cliente tem razões para isso. Os vinhos tabelados a €9 e vendidos €3 são, na esmagadora maioria dos casos, bons vinhos, vinhos que valem inteiramente o que custaram. Foram feitos para valer €3 e não €9, é claro, mas se o consumidor bebe um bom vinho e ainda por cima julga que fez um grande negócio, qual é o problema?
Acontece que, se no sector alimentar 50% das compras são feitas em promoções, no que ao vinho diz respeito são mais de 70%. E isso traz não um problema, mas muitos. Desde logo, problema para toda a cadeia de valor a montante. Quem produziu e engarrafou fica com pouco ou nada de margem. Por conseguinte, para não perder dinheiro (e muitos perdem), reduz ao máximo os seus custos, o que significa também pagar o mínimo pelas uvas ou vinhos que comprou. Nada sobra para investir nas marcas. E o elo mais fraco, o mexilhão da nossa estória, quem trabalha a terra o ano inteiro para manter a vinha, empobrece a cada vindima.
Depois, problema para a marca do produtor. Um vinho vendido em promoção durante 9 meses por ano tem a sua imagem colada ao modelo. No dia (e esse dia virá) em que for substituído na prateleira por outro ainda mais barato, a marca nunca mais recupera o valor. Nenhum restaurante ou garrafeira a quererá comprar. Foi-se, já era, kaputt.
Problema ainda para a cotação do vinho português. Os muitos milhões de turistas que nos visitam, se gostam de vinho e entram num hipermercado para levar uma garrafa para o seu airbnb, devem pensar que chegaram ao paraíso terrestre. E regressam a casa não se lembrando da marca que compraram, apenas que era vinho português, era muito barato e era bom. E isso torna-se a identidade dos vinhos de Portugal.
Os hipermercados fazem o seu trabalho, que é ganhar dinheiro e satisfazer o cliente, e fazem-no muito bem. O consumidor, esse, leva um bom vinho por pouco dinheiro e está na maior. Que pode fazer, então, quem produz? Colectivamente, o sector perdeu uma excelente oportunidade para subir preços, após duas colheitas sucessivas de escassa quantidade. 30 ou 40 cêntimos que fossem, fariam toda a diferença. E nesta euforia pós-troika, em que o consumidor acredita que é rico, se as garrafas de €2.49 passassem a €2.89 ninguém se iria queixar e as vendas não se ressentiriam. Mas para isso seria preciso que as associações do sector funcionassem, e não funcionam. Será cada um por si, como sempre foi. E o bazar de Istambul soma e segue.
Edição nº 34, Fevereiro 2020
2020
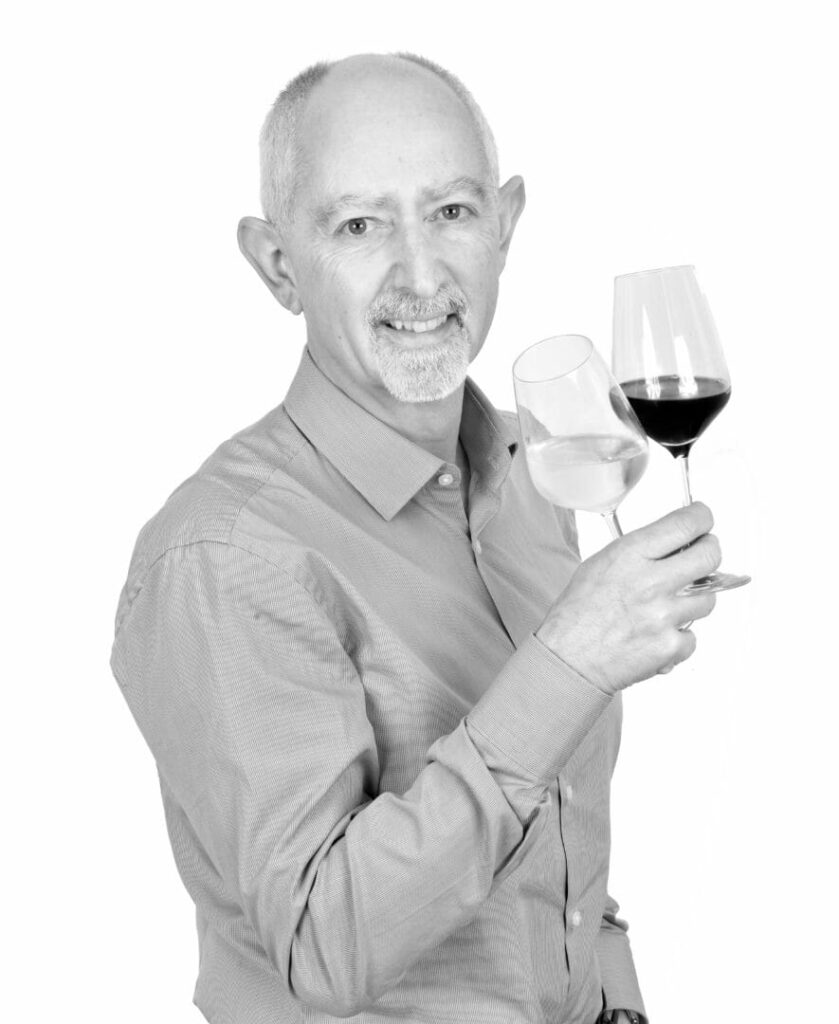
É um número bem redondinho, o do ano que agora se inicia. E como é natural, todos esperam ou desejam que o novo ano seja melhor do que o anterior. Ao nível individual, as previsões não fazem sentido. “Prognósticos, só no final do jogo”, como dizia o outro. Mas sectorialmente, podemos sempre descortinar tendências. No […]
É um número bem redondinho, o do ano que agora se inicia. E como é natural, todos esperam ou desejam que o novo ano seja melhor do que o anterior. Ao nível individual, as previsões não fazem sentido. “Prognósticos, só no final do jogo”, como dizia o outro. Mas sectorialmente, podemos sempre descortinar tendências. No que vinho diz respeito, aqui deixo o meu contributo sobre o que podemos esperar de 2020.
Luís Lopes
Espumantes. As bolhas parecem estar, finalmente, a conquistar o coração e a boca dos portugueses. O mercado pede mais espumante e praticamente todos os produtores procuram incluí-lo no seu portefólio. Muitos esquecem, no entanto, que o espumante é um produto altamente especializado em termos de vinha, cave, equipamento e know-how. E que para se alcançar um patamar elevado, para além desses requisitos, é preciso dar-lhe tempo. E tempo é dinheiro. Porém, para quem quer um bom espumante a um preço muito acessível, o método “cuba fechada” é sempre uma boa solução, e com tendência para crescer.
Diferença. O consumidor de nicho ambiciona ser reconhecido enquanto tal. E para isso, nada como beber diferente. De tal forma o “conhecedor” valoriza a singularidade que, em alguns casos, a qualidade deixa de ser importante. Mas a qualidade e diferença são compatíveis e estão disponíveis no mercado, basta escolher os produtores que não abdicam da primeira para ter a segunda. Para atingir o factor distintivo tão valorizado no consumo de nicho, toda a diferença serve: altitude, atlântico, castas raras, orgânico, vegan, “natural”, talha, branco de curtimenta ou branco de tintas, pet nat. Separar o trigo do joio, é o desafio para o apreciador.
Marcas. O mercado não vive dos nichos. A esmagadora maioria dos consumidores quer beber vinho, não estatuto. Com as prateleiras inundadas de marcas e designativos, o cliente que procura ir além dos exclusivos super promocionados dos hipermercados, tentará defender-se com aquilo que conhece e que, normalmente, não o desaponta. As marcas que fizeram nome assente na consistência qualitativa e na boa comunicação, vão ser cada vez mais um porto seguro no revolto oceano de vinho. E fazer marca, construir marca, será também a forma dos produtores se defenderem e garantirem o futuro.
Aquisições. Para quem produz, o negócio tornou-se muito competitivo e difícil. Para ganhar dinheiro, dentro e fora de portas, é preciso ser-se muito talentoso e muito profissional. E mesmo para aqueles que são tudo isso, frequentemente, falta músculo financeiro. Um número considerável dos agentes do sector do vinho, em Portugal, arruma-se em dois tipos: os amadores, que não vivem de e para o vinho; e os de média dimensão, nem tão pequena que permita viver do mercado de nicho, nem suficientemente grande para alcançar economia de escala e capacidade de investimento. A solução é vender. Há muitos negócios, propriedades e marcas apetecíveis que irão mudar de mãos em 2020.
Sub-regiões. Afinal, elas existem. Depois do grito do Ipiranga dado por Monção e Melgaço, os produtores de outras sub-regiões começam a perceber a mais valia que pode haver na afirmação identitária de uma unidade geográfica mais pequena. E a pouco e pouco, as sub-regiões vão aparecendo nos rótulos e na comunicação empresarial: Lima e Baião, nos Vinhos Verdes, Douro Superior, no Douro, Portalegre e Vidigueira, no Alentejo, Serra da Estrela, no Dão, são algumas das que já iniciaram esse caminho. E a tendência será sempre o reforço dessas identidades regionais.
Sustentabilidade. É absolutamente incontornável. A consciência ambiental generaliza-se junto de produtores e consumidores. Cada vez mais, os primeiros sentem uma genuína necessidade de introduzir práticas e modelos amigos do ambiente, na vinha e na adega. E cada vez mais, os segundos querem saber que essas medidas são implementadas, mesmo que não estejam dispostos a pagar mais por um vinho “eco-friendly”. Todos somos escrutinados nas nossas acções e comportamentos ambientais. Sem fundamentalismos, que nada trazem de positivo para o ambiente e para o mundo, é bom que assim seja.
Edição nº 33, Janeiro 2020
30 anos não são 3 dias
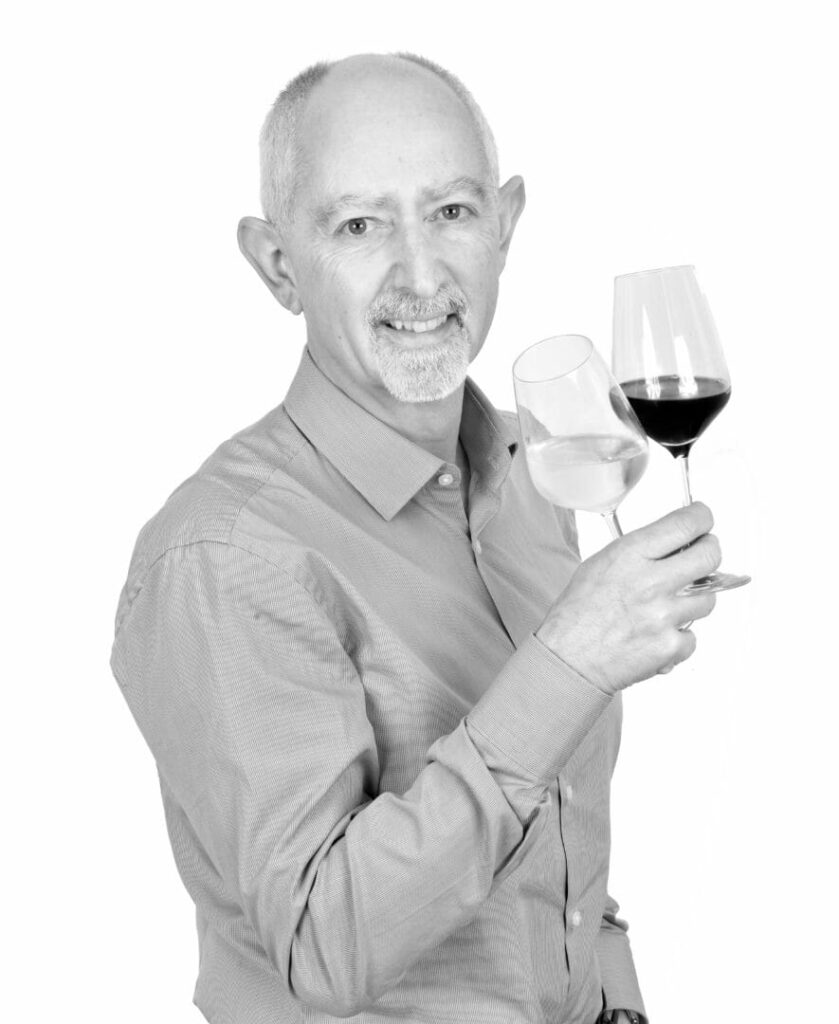
Neste mês de dezembro de 2019 atinjo três décadas consecutivas de escrita sobre vinhos. Não sei se é muito ou pouco, mas talvez seja o suficiente para poder transgredir a regra de ouro do jornalismo (nunca se tornar o sujeito da notícia) e deixar aqui uma reflexão, tão lúcida quanto possível, sobre a minha passagem […]
Neste mês de dezembro de 2019 atinjo três décadas consecutivas de escrita sobre vinhos. Não sei se é muito ou pouco, mas talvez seja o suficiente para poder transgredir a regra de ouro do jornalismo (nunca se tornar o sujeito da notícia) e deixar aqui uma reflexão, tão lúcida quanto possível, sobre a minha passagem por esta profissão.
TEXTO Luís Lopes
Tenho 58 anos de idade, sou jornalista há 35 e escrevo sobre vinhos há exatamente 360 meses, sem interrupção. Não trocaria esta profissão por nenhuma outra e adorei todos (ou quase todos) os momentos que passei aprendendo, provando, conversando, visitando pessoas, vinhas, adegas, mercados, em Portugal e no mundo.
Ao contrário do que se vê por aí, eu não renego o passado e muito menos procuro reescrever a história, apagando ou omitindo factos e personagens à boa maneira estalinista (nos dias de hoje, com o digital, seria ainda mais fácil fazer desaparecer das fotos os antigos líderes do regime…). Pelo contrário, olho para trás com saudade, respeito e prazer. Orgulho-me de, em 1989, ter fundado a Revista de Vinhos (estão a ver, escrevi o nome e não fui fulminado por um raio…) e ter orientado essa publicação ao longo de quase vinte e oito anos. Tanto quanto me orgulho destes dois anos e meio enquanto director da Grandes Escolhas.
Ao longo da minha vida assisti à ascensão de muitos produtores, castas, técnicas enológicas, perfis de vinho, conceitos, padrões de consumo e modelos de negócio, e ao desvanecer de outros tantos. O meu trajecto profissional permitiu-me conhecer pessoas extraordinárias e criar com algumas delas relações de grande amizade. Aprendi (e continuo a aprender) muitíssimo com todos, desde o viticultor ao enólogo, do produtor ao vendedor na loja. Mas foi junto do consumidor que mais profundos ensinamentos recolhi. Perceber porque é que alguém prefere este vinho àquele é algo que continua a fascinar-me. Entender os mecanismos do gosto e tudo aquilo que condiciona a compra de uma garrafa é, para mim, uma verdadeira paixão.
Cometi erros de avaliação, certamente muitos. A todos os produtores que viram o seu esforço prejudicado por uma prova menos acertada, deixo aqui as minhas desculpas. Acreditem, porém, que sempre procurei escrever e provar com o máximo de concentração, isenção e profissionalismo. A classificação de um vinho encerra sempre alguma subjectividade e, também por isso, exige total sentido de responsabilidade, que deverá estar obrigatoriamente presente quando levamos um copo à boca. Nesse aspecto, estou de consciência tranquila.
Os projectos são feitos de pessoas, e na Revista de Vinhos e na Grandes Escolhas muitas foram aquelas e aqueles que ajudaram a tornar o sonho realidade. Alguns ficaram pelo caminho (ou por vontade própria ou porque a lei da vida não os deixou prosseguir), com outros continuo a trabalhar diariamente. A todos agradeço sentidamente o terem-me ajudado a fazer o que gosto e que espero continuar a fazer por muitos e bons anos, assim leitores e consumidores tenham paciência para me ler e ouvir.
Na última década, sobretudo, muitas vezes me questionaram sobre o que de mais significativo ajudei a mudar ou desenvolver no sector do vinho ao longo da minha carreira. Uma pergunta à qual tenho respondido, invariavelmente, da mesma forma: o progresso é feito de contributos colectivos, não individuais, e o que verdadeiramente me deu gozo foi poder assistir, na primeira fila, à fulgurante caminhada que o Portugal do vinho tem feito desde 1989. De agora em diante, porém, quando surgir a questão a resposta será outra. O contributo de que mais me orgulho, o meu legado, se quiserem, é presente e futuro e não passado: chama-se Mariana, tem 28 anos e é jornalista de vinhos.
Termino como comecei, solicitando a vossa indulgência por desperdiçar espaço editorial desta revista a falar sobre a minha pessoa, coisa que, como sabem todos os que minimamente me conhecem, não é algo que me agrade. Mas enfim, há momentos para tudo, e trinta anos não são três dias.
Edição n.º32, Dezembro 2019



