Editorial: O Douro das vinhas velhas

A chamadas “vinhas velhas” do Douro constituem elemento de notoriedade e qualidade que muitos dos melhores e mais conceituados vinhos da região partilham, um denominador comum, portanto. Mas nem sempre nos damos conta que essas mesmas vinhas são também aquilo que, primeiramente, os diferencia, definindo a sua singularidade e identidade. Editorial da edição nrº 68 […]
A chamadas “vinhas velhas” do Douro constituem elemento de notoriedade e qualidade que muitos dos melhores e mais conceituados vinhos da região partilham, um denominador comum, portanto. Mas nem sempre nos damos conta que essas mesmas vinhas são também aquilo que, primeiramente, os diferencia, definindo a sua singularidade e identidade.
Editorial da edição nrº 68 (Dezembro 2022)
A região do Douro foi a primeira a colocar ordem no uso da designação “vinhas velhas” na rotulagem, corrigindo um verdadeiro escândalo de publicidade enganosa. Em dezembro de 2020, o IVDP criou a menção tradicional “Vinhas Velhas”, regulamentando-a. Desde então, em traços muito gerais, para colocar o designativo na rotulagem, um produtor deverá cumprir as seguintes condições: a vinha ter mais de 40 anos de idade (avaliada pela idade média das videiras mais velhas da parcela); o rendimento por hectare não exceder 50% do máximo fixado anualmente para DOC Douro; a vinha ter, pelo menos 5.000 cepas por hectare (com tolerância de 30% para falhas – videiras mortas – e excepção das parcelas com armação pré-filoxérica, com menor densidade); apresentar um mínimo de 4 castas, com 3 delas a representar um mínimo de 25% do total; e o vinho proveniente destas vinhas ser aprovado na câmara de provadores do IVDP com nota mínima de nível 2 (equivalente a Reserva). Para além destes requisitos, o viticultor tem a obrigatoriedade de comunicar anualmente todas as alterações verificadas nestas parcelas, nomeadamente replantações ou reenxertias.
A meu ver, dever-se-ia ter ido mais longe, nomeadamente na nota mínima (passar a nível 3, equivalente a Grande Reserva, seria sensato), na idade (para a realidade vitícola do Douro, 40 anos é curto) e no número mínimo de castas existente no “field blend”. Mas este já foi um passo bastante significativo que veio acabar com grande parte do abuso. Um abuso que, curiosamente, só existe porque o consumidor associa, quase como sinónimos, “vinha velha” e qualidade acrescida. Algo que está muito longe de corresponder à realidade.
Na verdade, o que mais há no Douro são vinhas velhas de má qualidade: mal localizadas, mal tratadas, com predominância de castas de fraco valor enológico. Mas, nos casos em que “os astros se conjugam”, a vinha velha oferece qualidade e carácter inigualáveis. Os motivos são vários e conhecidos, mas aqui elenco, de forma muito simplista, os principais: inexistência de rega, originando um stress hídrico benéfico; raízes profundas, que absorvem outro tipo de nutrientes e minerais; produção muito menor, conduzindo a mais concentração em cada cacho; muitas décadas de adaptação de cada cepa ao solo, ao clima, à exposição solar – a videira “conhece” o território onde está; maior resiliência a condições climatéricas adversas; colheita e fermentação das castas misturadas, em diferentes fases de maturação, originando maior complexidade de aromas e sabores.
No entanto, bem mais do que a qualidade (uma vinha velha com 30 castas não produz obrigatoriamente melhor vinho do que uma vinha com 20 anos de idade e Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinto Cão, por exemplo), o que me fascina nas vinhas antigas do Douro é a sua singularidade. A diversidade de “field blends” que encontramos num conjunto de parcelas dispersas, com 60 ou mais anos, é absolutamente incrível, variando imenso o número de castas, suas percentagens e até a casta predominante. O resultado são vinhos imensamente distintos uns dos outros, cada um expressando a identidade da vinha onde nasceu. Juntemos a isto os vinhos de vinhas “modernas” e obtemos uma pintura duriense multicolor.
A prova de Douro tinto de topo que faz capa desta edição espelha tudo o que acima descrevi. Manoella, Vale Meão, Poeira, Quinta Nova, Duorum, Boavista, Noval, Xisto, Vale D. Maria, Leda e tantos, tantos outros, só possuem em comum duas coisas: a origem geográfica (que se traduz em alguns marcadores de aroma e sabor que nos remetem para uma dada região) e a excelência do vinho. Em tudo o resto são diferentes. E esse é o maior elogio que se pode fazer ao Douro de hoje.
Feira de vinhos, para que te quero?

O que faz com que o consumidor se decida por uma marca em detrimento de outra? Para além do apelo do preço, que tem sobretudo maior relevância nos vinhos de entrada de gama, há um factor que tem uma força indesmentível no momento crítico da selecção: a identificação com a marca e as suas “estórias” […]
O que faz com que o consumidor se decida por uma marca em detrimento de outra? Para além do apelo do preço, que tem sobretudo maior relevância nos vinhos de entrada de gama, há um factor que tem uma força indesmentível no momento crítico da selecção: a identificação com a marca e as suas “estórias”
Texto: João Geirinhas
Quando no já longínquo ano 2000, a equipa que está hoje na Grandes Escolhas, organizou a sua primeira feira de vinhos, muita gente fez esta pergunta. E, confesso, na altura não foi fácil de explicar, até porque o conceito não tinha ainda sido ensaiado em Portugal. “É uma montra para vender garrafas ao público?”, perguntavam-me quando solicitei reuniões a algumas das empresas mais importantes do sector para explicar o incipiente projecto. “Serve para registar as encomendas dos clientes?” A todos respondia que não, não era bem isso que se pretendia.
Uns meses antes tínhamos visitado em Londres uma mostra de vinhos organizada por uma revista da especialidade num charmoso hotel, com toda a pompa e circunstância, com bilhetes e provas vendidas a preços estratosféricos. Sentimo-nos inspirados, mas com a certeza que em Portugal o modelo teria de ser diferente. Mas a ideia de uma mostra de vinhos promovida por uma revista começava a fazer todo o sentido. Estava-se a viver por esses tempos a eclosão de novos produtores, a explosão de marcas a inundarem o mercado, os jornais começavam timidamente a falar deste assunto e o vinho começava a ficar na moda e o interesse pelo tema era crescente. Afinal onde se encontravam aqueles vinhos feitos pela nova geração de enólogos de que tanto falávamos nas páginas da revista? Onde os podemos conhecer e provar? Que quintas e herdades são essas que enchiam as nossas páginas?
Foi esta necessidade de partilhar com os nossos leitores os vinhos de que toda a gente falava, mas que não existiam ainda nas prateleiras dos supermercados que levou a aquela equipa a organizar aquilo que podemos hoje considerar, sem falsas modéstias, a primeira experiência de uma feira pensada no e para o novo consumidor, mais exigente e ávido de experiências inovadoras. Chamámos então os produtores, muito poucos nessa primeira edição, e convidámos os nossos leitores para virem conhecê-los e provarem as novidades. Não por acaso chamámos ao evento de “Encontro”.
Este encontro de vontades foi um sucesso que ultrapassou as nossas melhores expectativas. O modelo vingou, cresceu e foi depois replicado por muitos outros e em vários locais. Hoje é unanimemente reconhecido que estas “novas” feiras de vinhos foram importantes para abrir horizontes, divulgar produtores e marcas que de outra forma teriam acesso dificultado ao mercado.
Mas se tudo isto é história, que aplicação tem no presente? E voltamos à pergunta inicial: para que serve hoje uma feira como a Grandes Escolhas Vinhos & Sabores? O modelo mantém validade ou está esgotado como alguns se apressam a vaticinar? Ou a feira apenas vale pelos contactos profissionais que o dia de segunda-feira proporciona, sendo o tempo dedicado aos consumidores uma maçada constrangedora? A verdade é que quem olha para o mundo através de uma folha de Excel e apenas contabiliza o deve e haver das encomendas firmes vê apenas uma parte da realidade. E ainda por cima distorcida.
Vejamos. Na longa cadeia de elos que compõem a fileira do vinho, produtor e consumidor estão em polos opostos. Para além de distantes, entre eles há uma barreira natural que decorre do normal funcionamento do mercado: distribuidores, grandes e regionais, comerciais retalhistas, etc. Uma garrafa de vinho passa por muitas mãos antes de acabar nas mãos de quem a bebe. Pelo meio deste percurso longo haverá sempre algo que se perde. O produtor e sua equipa de viticultura e enologia desenham um vinho para o mercado, essa entidade abstrata e invisível que decide às vezes misteriosamente a sorte do investimento e de todo o trabalho que eles colocaram na sua criação. Adivinhar qual será a reação do mercado a um novo produto é a tal pergunta de milhão que todos gostariam saber de antemão.
O consumidor por outro lado é bombardeado com comunicações, anúncios do lançamento de novas marcas, inúmeras referências e amiúde fica perdido no meio de tantas mensagens e apelos comerciais, promoções agressivas e grandes descontos, alguns deles aliás bem falaciosos. Em frente de uma prateleira de supermercado ou mesmo numa garrafeira da especialidade não raras vezes depara-se com a dificuldade da escolha. O que faz com que ele se decida por uma marca em detrimento de outra? Para além do apelo do preço, que tem sobretudo maior relevância nos vinhos de entrada de gama, há um factor que tem uma força indesmentível no momento crítico da selecção: a identificação com a marca e as suas “estórias”. Quando por detrás desta o consumidor reconhece uma imagem, uma cara, uma conversa, uma prova que lhe são familiares, quando um vinho lhe recorda uma experiência gratificante, estão encontrados os pressupostos emocionais que conduzem a uma escolha em detrimento de outra. A feira de vinhos, permitindo o contacto directo, com o produtor que expõe a cultura da casa, a explicação do enólogo que desvenda as particularidades daquele talhão ou as vicissitudes da vinificação, os segredos da construção de um lote, tudo isso ajuda a construir uma narrativa que se cola à marca e que fica para sempre na memória do consumidor curioso. Uma garrafa de vinho sem a contextualização da história que a suporta é… apenas uma garrafa de vinho!
Uma feira de vinhos, quando bem preparada e melhor servida por profissionais competentes, com atitude disponível para o acolhimento, simpatia quanto baste, ajuda na construção da marca, consolida a imagem do vinho e fideliza o consumidor. O sucesso nas vendas vem a seguir.
Editorial: Turismo no Douro, ilhas na paisagem

Dizer que o potencial turístico do Douro é enorme, tornou-se lugar-comum. Mas eu continuo a pensar que esta região ainda não é destino de viagem tão perfeito quanto a fazemos crer. Faltam muitas peças no puzzle, entre elas, gastronomia, urbes bonitas e organizadas, oferta em rede, espaços verdes, arte e cultura, enfim, tudo aquilo que […]
Dizer que o potencial turístico do Douro é enorme, tornou-se lugar-comum. Mas eu continuo a pensar que esta região ainda não é destino de viagem tão perfeito quanto a fazemos crer. Faltam muitas peças no puzzle, entre elas, gastronomia, urbes bonitas e organizadas, oferta em rede, espaços verdes, arte e cultura, enfim, tudo aquilo que um destino turístico ambicioso deveria ter.
Editorial da edição nº 67 (Novembro 2022)
Não me interpretem mal, adoro o Douro. De tal forma que, apesar de visitar a região, em trabalho, várias vezes por mês, ainda lá regresso nas férias com a família para passar uns dias. Mas a questão é mesmo essa. Dificilmente “aguento” mais do que dois ou três dias a olhar a paisagem, com pouco mais para ver e fazer.
Deixem-me despachar a heresia de uma vez, para ficar o assunto arrumado. As quintas do Douro são hoje, no seu conjunto, a mais impactante oferta enoturística que temos em Portugal. A paisagem vinhateira, classificada Património da Humanidade desde 2001, o rio e seus afluentes são, só por si, motivo mais do que suficiente para que centenas de milhar de turistas ali acorram em cada ano e, cada vez mais, em todas as estações do ano. Muitos destes polos de enoturismo estão no patamar da excelência, pelo cuidado e profissionalismo colocado no espaço e na oferta (provas, visitas guiadas, passeios, etc.), num modelo que, em vários casos, se estende à gastronomia e hotelaria de qualidade. Estas quintas procuram, geralmente, ser autossuficientes em termos de “ementa turística”, para que o visitante não sinta a necessidade de dali sair. E, na verdade, a única justificação turística para sair de uma quinta é ir visitar outra quinta.
Atentemos na seguinte situação. Cheguei a uma propriedade esplendorosa, com uma oferta enoturística de primeira linha. Fiz as provas acompanhado por guias competentes, passeei pelas vinhas, visitei a adega, comprei na loja, já dormi a sesta no quarto do hotel. Ao fim da tarde, sento-me numa espreguiçadeira, frente ao rio, com um livro na mão e descanso os olhos no monte que se avista na outra margem enquanto aguardo pelo jantar. Lindo. No segundo dia, repito o programa, com algumas variantes: subo até ao ponto mais alto da vinha, onde ainda não tinha estado, faço uma outra prova, mas agora com Porto e, antes do jantar, sento-me novamente na espreguiçadeira com o livro, o rio e o monte em frente. Ao terceiro dia, para mim, chega. Quero ir petiscar fora, usufruir de uma bonita esplanada ou jardim, conversar com os locais, passear por ruas pitorescas, comprar pão e queijos, visitar um museu, um castelo, um atelier de artesanato, jantar num bom restaurante com comida local e regressar à quinta/hotel sem sobressaltos. O problema: tudo o que acabei de elencar, e que qualquer enoturista tem como garantido a cada passo na Toscana, no Loire, em Rioja… ou no Alentejo, é coisa muito, muito rara no Douro.
As quintas têm reforçado a oferta gastronómica e actividades “intramuros”, é o seu papel, mas ao mesmo tempo tornam-se cada vez mais “ilhas”, sem contacto com o exterior. Podiam (e deviam) desenvolver o trabalho em rede, para que o turista possa saltar de quinta em quinta, diversificando caras, comida, paisagem. Mas não podem inventar esplanadas, jardins, ruas pitorescas, museus, vida urbana.
Os números contrariam, evidentemente, esta visão pessimista. Nunca o Douro teve tanto turista a circular, por terra ou por água (os primeiros ainda deixam o dinheiro na região, os segundos nem isso, fica tudo nas ilhas flutuantes). Mas é preciso olhar além, a médio e longo prazo. A extraordinária paisagem vinhateira e a qualidade dos vinhos e das quintas não serão suficientes para garantir o futuro do turismo duriense se não houver autenticidade local a envolver tudo. Para que a galinha dos ovos de ouro não acabe por definhar um dia, seria bom que produtores e autarquias reconhecessem e identificassem as carências e trabalhassem em conjunto para as resolver.
Editorial: Alentejo, origens e estilos

Os vinhos do Alentejo são definidos por um vasto conjunto de factores, desde logo, a sua origem ou, mais correctamente, origens. Mas também pelo seu estilo, ou perfil particular. Num e noutro caso, em maior ou menor grau, a intervenção humana tem papel primordial. Editorial da edição nº 66 (Outubro 2022) Os vinhos do Alentejo, […]
Os vinhos do Alentejo são definidos por um vasto conjunto de factores, desde logo, a sua origem ou, mais correctamente, origens. Mas também pelo seu estilo, ou perfil particular. Num e noutro caso, em maior ou menor grau, a intervenção humana tem papel primordial.
Editorial da edição nº 66 (Outubro 2022)
Os vinhos do Alentejo, cujos tintos são tema de capa desta edição, constituem, muito provavelmente, o conjunto DOC (Denominação de Origem Controlada) mais diverso que existe em Portugal. Uma boa parte dessa diversidade tem a ver com a origem (origem, sim, terroir é algo muito mais raro e geograficamente preciso). Numa região enorme, que vai da costa atlântica ao interior fronteiriço e que pelo meio abarca colinas, planícies e serras, com vinhas plantadas numa vasta tipologia de solos, das areias aos granitos, do xisto aos mármores, das argilas aos calcários, tem, necessariamente, de existir um pouco de tudo. No que à origem respeita, o papel do produtor é naturalmente mais restrito. Mais ainda que não possa mudar o clima, pode intervir, de diversas formas, nas qualidades do solo, através de movimentação de terras, mobilização, arrelvamentos, adubação, entre muitas outras práticas. Ao nível da viticultura, o produtor intervém de forma ainda mais decisiva, desde o modelo adoptado (convencional, produção integrada, orgânico, etc.) – e aqui é justo referir o avanço que o Alentejo leva, face as outras regiões nacionais, em termos de práticas sustentáveis certificadas na vinha e na adega – até à cultura da videira propriamente dita, da poda à condução da planta, da dotação de água até à escolha dos porta-enxertos e castas.
No Alentejo, as castas selecionadas pelo produtor determinam boa parte da forma como ele e os seus vinhos se definem. Em regiões clássicas, como Douro, Dão ou Verdes, a categoria IG/Regional (Duriense, Terras do Dão, Minho) tem muito pouca expressão e é até sujeita a alguma desvalorização no mercado, o que “obriga” (e bem!) os produtores a focarem-se em meia dúzia de variedades “tradicionais”. Já no Alentejo, DOC Alentejo e Regional Alentejano equivalem-se em notoriedade e preço junto do apreciador. Sem esse constrangimento, o leque de castas legalmente colocado à disposição do produtor é imenso, entre variedades mais antigas ou mais recentes na região. O que, se de algum modo promove a diversidade e até, em certa medida, a qualidade (em teoria, pelo menos, uma casta “de fora” só se justifica se trouxer valor acrescentado…) de algum modo há que reconhecer que não favorece uma identidade regional mais assertiva.
A casta, a meu ver, é o elemento de transição entre a origem (que controlamos menos) e o estilo ou perfil do vinho (onde controlamos quase tudo). É aqui, com base nas decisões que toma na vinha e na adega, que o produtor determina como se vê e como quer que o vejam a si e aos seus vinhos. Na prova de mais de 50 tintos alentejanos que Valéria Zeferino fez para esta edição da revista, a autora identifica quatro grandes estilos, ou perfis: dois “clássicos” (um que alia concentração e elegância, outro focado na concentração e potência) e dois “modernos” (um centrado na intensidade de fruta, estrutura e suavidade, outro que acaba por ser quase neoclássico, recuperando práticas e conceitos de outrora para fazer vinhos mais “light” e diferentes). Acredito que o puzzle Vinho do Alentejo é bem mais complexo, mas tendo a concordar com a Valéria na visão geral. Importante é que cada produtor saiba definir muito bem que caminho (ou caminhos) quer seguir e que o assuma na sua identidade vínica; e que cada apreciador saiba navegar no mar imenso de marcas e perfis de vinho alentejano para que, quando compra uma garrafa, acerte no estilo (ou estilos) que, realmente, o satisfazem. A Grandes Escolhas estará sempre presente para dar uma ajuda.
Editorial: Água

Adaptar a produção industrial e a utilização individual à crescente escassez de água é uma necessidade premente, mas que a maior parte do mundo ainda não reconhece como tal. Enquanto país do sul europeu, Portugal será sempre dos mais afectados em cenários de seca como o que agora atravessamos. A indústria (e o consumidor) estão […]
Adaptar a produção industrial e a utilização individual à crescente escassez de água é uma necessidade premente, mas que a maior parte do mundo ainda não reconhece como tal. Enquanto país do sul europeu, Portugal será sempre dos mais afectados em cenários de seca como o que agora atravessamos. A indústria (e o consumidor) estão obrigados a agir. E o sector do vinho não é excepção.
Editorial da edição nº 65 (Setembro 2022)
De tempos a tempos, a seca e as suas consequências entram-nos pela sala dentro, nas imagens televisivas, nas páginas dos jornais. Este ano, mais do que nunca. No entanto, a esmagadora maioria dos portugueses olha para a seca como algo conjuntural, passageiro, não equacionando sequer o cenário de abrir a torneira e, durante dias (meses?), não sair água. Mas essa é uma possibilidade que pode não estar tão longe assim e que áreas do mundo dito “desenvolvido”, como a California, já experimentam. A este respeito, recomendo a leitura da novela “Seca”, de Jarrod e Neal Shusterman, uma ficção assustadora e perigosamente plausível.
Segundo a União Europeia, atravessamos um período de seca como não há memória e que, à data em que escrevo (finais de agosto), não tem fim à vista. Entretanto, arrancaram as vindimas em diversas regiões de Portugal. Em traços gerais, a coisa não está brilhante. Bagos pequenos, mirrados pela falta de água, maturações muito heterogéneas, devido ao “adormecimento” da videira pelo calor e stress hídrico, pH desequilibrado, acidez em baixa. Vinhas regadas e vinhas de sequeiro foram igualmente afectadas, variando o grau do impacto em função da localização, orientação solar, tipologia de solos, opções vitícolas. E se nada pode substituir (na vinha, na uva, no copo) a água que a Natureza entrega sob a forma de chuva, a verdade é que, a nível global, a indústria do vinho está absolutamente dependente da rega. A grande dúvida é se, num futuro próximo, vamos continuar a ter água para regar.
Porém, vejo ainda um número demasiado curto de produtores nacionais seriamente preocupados com isto. Talvez devido, precisamente, à sua dimensão, os maiores parecem estar bem mais despertos para o problema e, sobretudo, mais disponíveis para agir na busca e aplicação de soluções. Confesso que me custa muito ver, por exemplo, pequenos produtores, claramente comprometidos com o ambiente a outros níveis, de mangueiras abertas na adega como se a água fosse um recurso inesgotável. E convictos de que práticas como optimização científica da rega ou reutilização de água na adega, não são para si. Um pouco naquela de que “como produzo pouco vinho, gasto pouca água”. Só que isso não funciona assim. É o mesmo que dizer que uma casa com duas pessoas faz menos lixo do que uma com oito e que, portanto, pode fazer lixo à vontade. Na verdade, a questão não está no volume total de água gasto pelo produtor; está no que gasta por cada litro de vinho produzido.
Os cálculos relativos à pegada de água na produção de vinho estão, naturalmente, condicionados à enorme diversidade existente no sector. Ainda assim, estima-se que, a nível mundial e em média, são necessários 870 litros de água para produzir um litro de vinho (ver water footprint network). Muito menos, ainda assim, que o café (1056 l/l), sumo de maçã (1140 l/l), leite (1020 l/l), pão de trigo (1608 l/kg), arroz (2497 l/l), manteiga (5550 l/kg), carne de vaca (15500 l/kg) ou chocolate (17000 l/kg). Mas bem mais do que a cerveja (298 l/l)…
Sabe-se que, através processos de optimização na vinha e adega, é perfeitamente possível reduzir a pegada de água vitivinícola para um terço da actual. Só que é obrigatório que os produtores interiorizem essa necessidade e resolvam agir. A água é um bem limitado, e vai sê-lo cada vez mais no futuro. Utilizá-lo com a máxima eficácia, racionalidade e parcimónia na produção de vinho é um imperativo. Certamente mais impactante, em termos de cuidado ambiental e sustentabilidade, do que fazer uma vinha biológica.
Esta obrigação aplica-se a quem faz vinho mas também, é claro, a quem o bebe. Os produtores que façam a sua parte. Nós, consumidores, tratemos de ir fechando as torneiras.
Editorial: O feliz regresso do Loureiro

Levou tempo, é verdade. Mas temos hoje, na região dos Vinhos Verdes, um sólido conjunto de produtores a ver na casta Loureiro muito mais do que uma uva rentável. Com conhecimento técnico, talento e ambição, tiram desta casta o máximo partido, buscando a excelência. Os vinhos estão aí e têm grande qualidade, carácter e, para […]
Levou tempo, é verdade. Mas temos hoje, na região dos Vinhos Verdes, um sólido conjunto de produtores a ver na casta Loureiro muito mais do que uma uva rentável. Com conhecimento técnico, talento e ambição, tiram desta casta o máximo partido, buscando a excelência. Os vinhos estão aí e têm grande qualidade, carácter e, para espanto de muitos, longevidade.
Editorial da edição nº 64 (Agosto 2022)
“Eu vim de longe
De muito longe
O que eu andei pra aqui chegar”
A lírica da canção de José Mário Branco, nas suas múltiplas interpretações, aplica-se na perfeição à variedade Loureiro e aos vinhos que dela nascem, tema de capa desta edição da Grande Escolhas. Desde logo pela antiguidade da casta. Com origens na Galiza (Rias Baixas e Ribeiro) e no noroeste de Portugal, em 1790 era já classificada por Lacerda Lobo (chamava-lhe Loureira) como muito antiga e localizada em Melgaço e Vila Nova de Cerveira. Menos de um século depois (1875), o Visconde de Vila Maior situava-a já, sem margem para dúvidas, naquele que é hoje considerado o seu terroir de eleição, o vale do Lima. Para quem, como eu, sempre associou Loureiro ao Lima, não deixa de ser intrigante perceber que passou primeiro (e, ainda por cima, sem deixar rasto!) pelo vale do Minho. Mas, se pensarmos bem, faz sentido: sendo uma casta tradicional na Galiza, seria estranho que “saltasse” por cima do rio Minho para “aterrar” no rio Lima. As variedades de uva, como bem sabemos pelos exemplos Baga e Alicante Bouschet, entre outros, nem sempre atingem o seu máximo potencial nos locais onde nasceram. Ainda por cima, ao contrário da sua conterrânea Alvarinho (que dá o seu melhor na terra mãe, Monção e Melgaço, mas mostra muita classe em diferentes solos e climas), a uva Loureiro, é mais picuinhas quanto ao local onde é plantada. E a parte mais atlântica da região dos Vinhos Verdes é, claramente, a sua praia.
O que o Loureiro andou para aqui chegar, parafraseando o Zé Mário, pode também ser visto no sentido figurado. Lembro-me bem do que eram os varietais de Loureiro nos anos 90. É óbvio, os Vinhos Verdes, no seu conjunto, cresceram enormemente desde então. Mas, com raras excepções, os vinhos de base Loureiro que existiam na década de 90 eram demasiado medíocres, sobretudo quando comparados com os Verdes de lote (Loureiro-Arinto-Trajadura-Azal) feitos pelos mesmos produtores. O denominador comum dos Loureiro da época era a extrema facilidade com que passavam de um vinho floral e citrino a um vinho amarelado, pesadão e oxidado de aromas e sabores. Entre um estado e outro, frequentemente, distavam apenas 6 ou 9 meses. E quando não era a oxidação era o cheio a pano molhado que, logo ao nascer, tapava qualquer veleidade de a fruta se mostrar. É fácil, mas errado, imputar culpas à ausência de condições de adega. Desde meados dos anos 80 que grande parte dos produtores dos Verdes, grandes e pequenos, tinha inox e sistemas de frio instalados. Os problemas estavam na vinha, na vindima, e no desconhecimento geral de como trabalhar uma uva delicada e elegante como a Loureiro. E, acima de tudo, na falta de ambição.
A Grande Prova que apresentamos este mês, com tantos Loureiro notáveis em qualidade, carácter e longevidade, mostra uma realidade tão distinta que mais parece estarmos a falar de outra casta. Mas a uva esteve sempre lá. E casas pequenas em área de vinha, como Ameal, médias, como Anselmo Mendes ou grandes, como Aveleda, só para dar três exemplos, sabem desde há muito como tirar partido do seu elevadíssimo potencial. Entusiasmante é também perceber que, na última meia dúzia de anos, novos produtores cheios de talento e dinamismo elegeram a Loureiro como porta-estandarte.
Deixo dois indicadores significativos: nos 9 Verdes Loureiro que classificámos acima de 17,5 pontos, não havia nenhum da mais recente vindima, distribuindo-se pelas colheitas de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. Outro sinal de ambição: o preço médio de venda ao público destes 9 vinhos ronda os €20. A continuar assim, parece que o Alvarinho vai ter de partilhar o trono: o Loureiro está a chegar.
Editorial: Ser “vigneron”

Fazer vinho exclusivamente a partir das suas próprias uvas tem hoje, em Portugal, muito mais desvantagens do que benefícios. É que, aos enormes constrangimentos de produção que esse modelo obriga, não corresponde um acréscimo efectivo de notoriedade ou valor de marca junto do consumidor. Para este último, são todos produtores de vinho. Mas não é […]
Fazer vinho exclusivamente a partir das suas próprias uvas tem hoje, em Portugal, muito mais desvantagens do que benefícios. É que, aos enormes constrangimentos de produção que esse modelo obriga, não corresponde um acréscimo efectivo de notoriedade ou valor de marca junto do consumidor. Para este último, são todos produtores de vinho. Mas não é verdade.
Vem este tema a propósito de uma das peças desta edição de julho da Grandes Escolhas, a que aborda os extraordinários Garrafeiras brancos da Quinta das Bágeiras e do seu criador, Mário Sérgio Nuno. Alguém que, contra ventos e marés, criou uma marca de referência e que, teimosamente, continua a fazer os seus vinhos exclusivamente a partir das uvas que crescem nas suas vinhas. Mesmo que, para tal, abdique de vender, a bom preço, mais umas boas dezenas de milhar de garrafas por ano. A única compensação: poder, com orgulho e legitimidade, intitular-se “Vigneron” e manifestar isso mesmo nas T-shirt que usa nos eventos e provas de vinho. Mas, feitas as contas, vale a pena?
Tempos houve em que acreditei que sim. Quando comecei a escrever sobre vinhos, em 1989, a estrutura de produção, em Portugal, estava perfeitamente definida. Havia as adegas cooperativas, que vinificavam as uvas dos cooperantes; havia os armazenistas puros, que não vinificavam (e eram muitos, acreditem!), compravam vinho feito que engarrafavam com a sua marca; havia os armazenistas “híbridos”, que faziam o mesmo que os anteriores mas também vinificavam, compravam uvas e, por vezes, até tinham algumas vinhas; havia os viticultores, que vendiam uvas e, muitas vezes, também faziam vinho para vender a granel aos armazenistas; e havia os produtores-engarrafadores que, genericamente, correspondiam aos então chamados “vinhos de quinta” que começavam a ganhar notoriedade. Este conceito de fazer vinho a partir de uvas de uma só quinta mexeu bastante com o mercado dos anos 90: eram vinhos bem mais cotados e mais caros do que os de “armazenistas”. Significava que eram melhores? Nuns casos sim, noutros não. Mas os consumidores tinham por eles mais respeito e estavam dispostos a pagar mais.
Com o tempo, tudo isto se diluiu. Hoje, para o apreciador, mesmo o mais exigente, tudo entra no mesmo saco com a etiqueta “produtor de vinho”, incluindo os “marketeiros” que assinam rótulos de vinho que nunca produziram. No entanto, a legislação existe e é bem explícita. A inscrição obrigatória, no IVV, para o exercício de atividade no sector vitivinícola, determina em que categoria, ou categorias se está. Alguns exemplos, resumidos, da lei. “Armazenista: pratica o comércio de vinho a granel ou engarrafado”; “Negociante sem estabelecimento: compra e vende vinhos engarrafados sem dispor de instalações para a sua armazenagem” (aqui caberiam muitas das marcas de nicho hoje reverenciadas em restaurantes da moda…); “Produtor: produz vinho a partir de uvas obtidas na sua exploração ou compradas” (aqui se insere a esmagadora maioria das empresas nacionais); “Vitivinicultor-engarrafador: elabora vinho a partir de uvas produzidas exclusivamente na sua exploração vitícola” (é o que, em França, se chama “vigneron”). As empresas podem inscrever-se em mais do que uma categoria, mas a lei determina que a inscrição como vitivinicultor-engarrafador é incompatível com a inscrição como armazenista ou como produtor. Ou seja, é o que tem as mãos “atadas”, sem vantagens óbvias.
Ao contrário do que, até junho de 2019, era obrigatório colocar nas cápsulas de todos vinhos franceses (R de “recoltant” ou N de “negociant”) e que ainda hoje se mantém em diversas AOC, como Champagne (aqui até de forma bem mais rigorosa), em Portugal essa obrigatoriedade nunca existiu. Resultado: os poucos “vigneron” que ainda existem entre nós vão fazendo contas à vida e percebendo que não compensa insistir nesse ideal romântico, mas pouco rentável, de usar só as uvas que criam. São vinhos melhores do que os outros? Não necessariamente. Mas num mercado que, tantas vezes, paga irracionalmente a diferença, esta é uma diferença que merece ser paga.
Editorial da edição nº 63 (Julho 2022)
Editorial: A cor do vinho
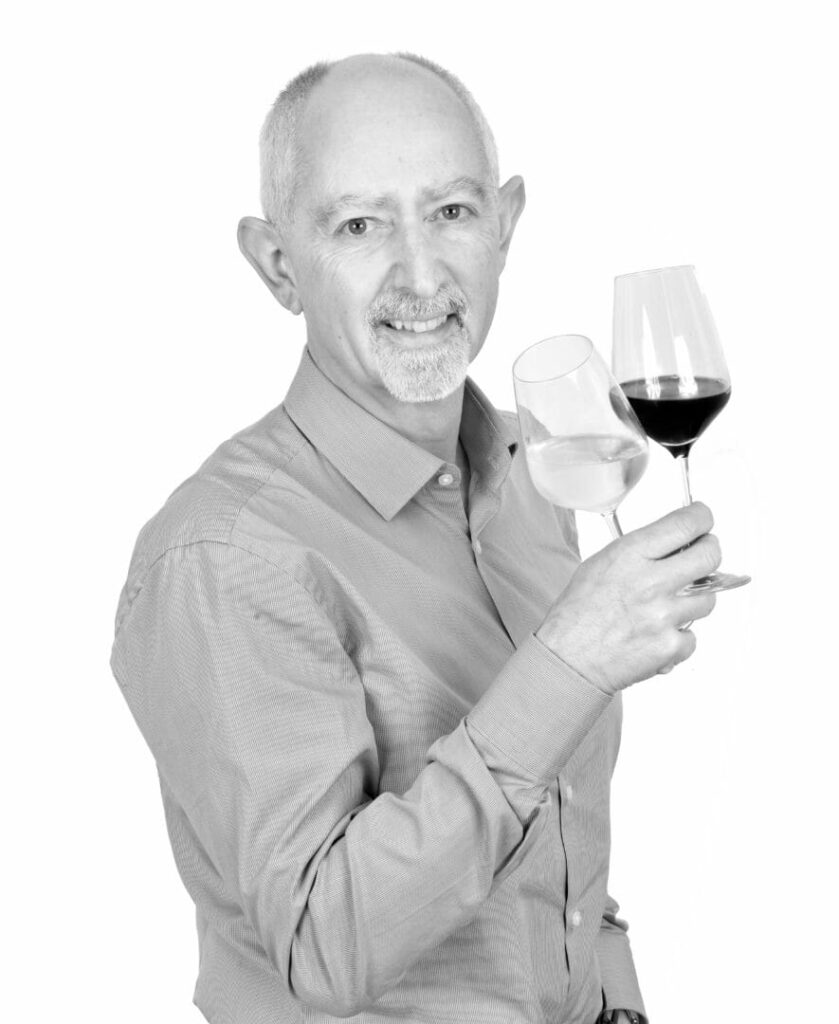
Parecendo não lhe dar grande importância, a verdade é que o consumidor (e, por arrasto, o mercado) continua a olhar para a cor de um vinho (seja branco, rosé ou tinto) como um factor importante na avaliação da qualidade geral do produto. Mas será que é mesmo assim? Existem cores (ou intensidades de cor) certas […]
Parecendo não lhe dar grande importância, a verdade é que o consumidor (e, por arrasto, o mercado) continua a olhar para a cor de um vinho (seja branco, rosé ou tinto) como um factor importante na avaliação da qualidade geral do produto. Mas será que é mesmo assim? Existem cores (ou intensidades de cor) certas ou erradas?
Editorial da edição nº 62 (Junho 2022)
A cor, enquanto atributo qualitativo na avaliação de um vinho, não é uma coisa recente. Na cultura do vinho do Porto, por exemplo, a intensidade de cor foi, durante séculos, o primeiro indicador qualitativo na apreciação de um vinho, só depois vindo o aroma e sabor. Ainda hoje, muitos provadores ao olharem para um Porto Vintage condicionam desde logo a sua avaliação pela intensidade da cor. Tão importante era (ou é) este factor que se tornaram famosos os “concentrados” de baga de sabugueiro que alguns lavradores durienses tradicionalmente juntavam aos seus vinhos para lhes aumentar a cor e, consequentemente, o seu valor junto dos compradores de Gaia.
Mas a obsessão pela intensidade corante não se resumia ao negócio do Porto. Nos anos 60 e 70 do século XX, sobretudo, também os vinhos de mesa transacionados a granel por todo o país eram frequentemente “tintados” para aumentar o seu valor. Nem sempre foi assim, porém. No final do século XIX e durante a primeira metade do século seguinte, a forte influência da cultura francesa junto das elites nacionais, levou a que muitos agentes com responsabilidades no sector do vinho privilegiassem a delicadeza em detrimento da potência, colocando no lugar mais elevado do podium vinhos com pouca cor natural, como os tintos de Colares, do Dão ou de Lafões, os palhetes (mistura de uvas brancas e tintas) ou os sofisticados claretes, estes últimos o mais próximo que havia dos famosos tintos abertos que Bordéus sempre fez até ao advento da “parkerização” dos anos 80 e 90.
Demos um salto na história até aos dias de hoje. E o que encontramos? No que aos tintos respeita, podemos assumir que a importância conferida à cor varia em função do segmento de preço em que o vinho se insere. Os vinhos mais simples e baratos são oriundos de produções vitícolas com elevados rendimentos por hectare e, portanto, necessariamente menos concentrados e com menos cor. Mas o consumidor que paga €3 ou €4 por uma garrafa valoriza bastante a cor, que associa de imediato a vinhos mais ambiciosos. Portanto, um vinho de cor intensa nesse segmento de preço tem sucesso garantido, sobretudo se tiver também macieza e doçura, claro.
A cor continua a ser muito importante nos segmentos superiores, de €10, €20, €30 ou acima, mesmo que muitos consumidores não o admitam. Cor é concentração, concentração é qualidade, acredita-se. Porém, à medida que a escala de preço sobe, a importância da cor atenua-se. E começam a aparecer tendências vitícolas e enológicas que, embora orientadas para mercados de nicho ou super nicho, mostram desenvolvimento crescente e sustentado. Uma delas assenta na colheita mais precoce, fugindo assim das sobrematurações. Outra, actualmente com bastantes seguidores junto dos produtores de topo, aposta na menor e mais suave extracção das componentes corantes e fenólicas das uvas, fazendo, por exemplo, menos remontagens nas cubas (em alguns casos mais extremados, abandonando-as por completo) e macerações menos prolongadas.
Outra ainda, cada vez mais notória, passa pela reabilitação de castas antigas e abandonadas por, entre outros motivos, terem “falta de cor”. É o caso de variedades como, por exemplo, Bastardo, Rufete, Alvarelhão, Tinta Carvalha, Tinta Francisca, Moreto e até, em certa medida e dependendo da origem, Jaen e Castelão. Junte-se a isto a recuperação de métodos de vinificação ancestrais (como a talha de barro) e percebe-se que a intensidade de cor, nos vinhos tintos, não é hoje motivo de preocupação junto de enólogos/produtores, em particular nas gamas mais altas da pirâmide de marcas.
Já no que aos brancos respeita, a conversa é outra. Seja qual for o segmento de preço, os brancos com mais cor do que o “socialmente aceitável” estão votados ao ostracismo. Isso significa que o vinho branco de cor mais intensa, a rondar o limão maduro, é imediatamente percepcionado pelo consumidor como estando demasiado evoluído, cansado, oxidado, fora de prazo. É uma preocupação adicional para os enólogos, sobretudo os que trabalham em regiões mais quentes ou com castas brancas que, naturalmente, retiram mais cor da película na prensagem. Muitos são obrigados, apenas por causa da cor “incorrecta”, a utilizar produtos enológicos descorantes, aí sim, com efeitos colaterais negativos na estrutura do vinho.
Mas também nos vinhos brancos há, felizmente, lugar aos super-nichos. É o caso dos brancos de curtimenta, fermentados total ou parcialmente com as películas e que acabam por ficar com a tal cor de limão maduro. E estes vinhos podem mesmo ser objecto de uma abordagem mais extremada através de oxidação controlada para produzir os conhecidos “orange wines”, bem alaranjados. Portanto, enquanto o mundo dos tintos aceita, progressivamente, diferentes gradações de cor, o mundo dos brancos é altamente polarizado: a quase totalidade dos consumidores quer vinhos com muito pouca cor e uma minúscula aldeia de irredutíveis rebeldes paga o que for preciso por um vinho laranja.
Ainda mais estranho, inexplicável mesmo à luz de tudo o que é racional, é o que se passa com os rosés. Há 10 ou 15 anos, havia dois tipos de rosés: os rosés de bica aberta, com muito pouco contacto pelicular, e de cor mais aberta, em diferentes gradações de rosa; e os rosés obtidos a partir de sangria de cubas de tintos, com cores de cereja, quase a rondar o palhete.
A dada altura, a “onda Provence” foi subindo de sul para norte, a partir do Algarve, com a pressão dos turistas estrangeiros, primeiro, e dos consumidores nacionais, depois, a exigir a cor que caracteriza os vinhos rosados daquela região francesa. Primeiro, foram apenas os rosés de topo, mais caros e ambiciosos, a adoptar a cor Provence, bem mais exigente em termos de colheita e prensagem das uvas. Mas rapidamente quase todos os outros produtores, mesmo para os rosés mais simples e baratos, foram obrigados a seguir o modelo. Frequentemente, é preciso descorar o vinho para afinar a cor. E, por vezes, o zelo é tanto que o vinho se confunde com água. Também aqui, porém, existem excepções. A mais notável é, sem sombra de dúvida, a do icónico Mateus. O rosé mais famoso do mundo não vai em ondas e mantém a cor, hoje “fora de moda”, que sempre o caracterizou. E, ao que parece, o mercado não queixa, com as vendas a continuarem em alta. Também, aqui e ali, começam a aparecer produtores a fazer rosés caros e corados. Talvez tenham chegado à conclusão de que, se a cor Provence deixou de ser distintiva, uma vez que todos a seguem, então mais vale destacar-se pela diferença voltando às cores de antigamente.
A grande, incontornável verdade, é que cor nada tem a ver com qualidade. Está tão dependente da origem do vinho, das variedades de uva, dos métodos de produção, do perfil do enólogo ou produtor, que procurar uma relação entre a cor e a excelência de um vinho é tarefa fútil e insensata. A cor pode dar-nos sinais, isso sim, sugerir-nos maior ou menor concentração, maior ou menor evolução, climas mais quentes ou mais frios, castas mais ou menos coradas. Mas um tinto de Rufete não é inferior a um outro de Alicante Bouschet apenas por ter menos cor.
O vinho tem tantas cores quanto aromas e sabores. E desde que nos dê prazer a beber, não existem cores certas e cores erradas.



