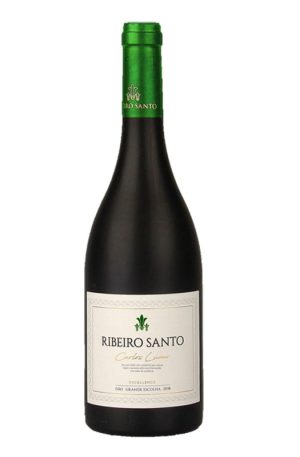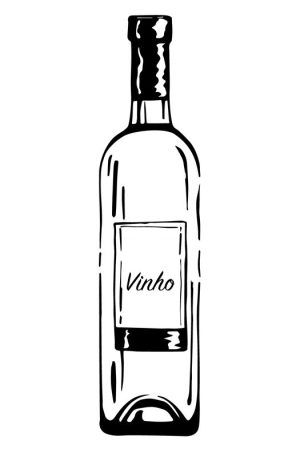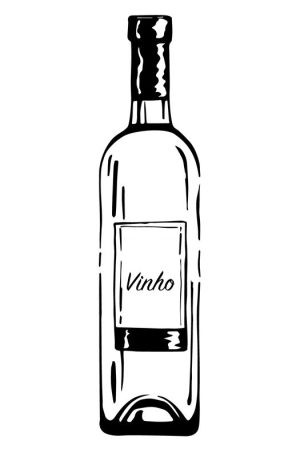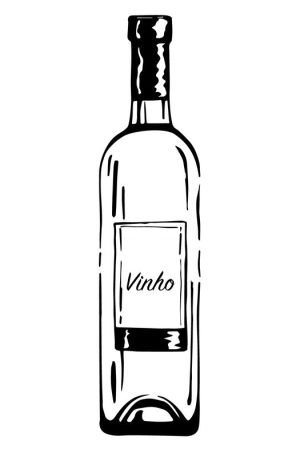Vinalda distribui vinhos da Quinta de S. Sebastião

Os vinhos das marcas S. Sebastião e Mina Velha, produzidos pela Quinta de S. Sebastião, na Arruda dos Vinhos, vêm agora reforçar o portefólio da distribuidora Vinalda. O projecto da Quinta de S. Sebastião nasce da vontade do seu proprietário – António Parente – colocar no mapa a região de Arruda dos Vinhos, unindo vários […]
Os vinhos das marcas S. Sebastião e Mina Velha, produzidos pela Quinta de S. Sebastião, na Arruda dos Vinhos, vêm agora reforçar o portefólio da distribuidora Vinalda.
O projecto da Quinta de S. Sebastião nasce da vontade do seu proprietário – António Parente – colocar no mapa a região de Arruda dos Vinhos, unindo vários produtores locais num projecto único, sob a umbrela da Quinta. Um dos objectivos é combater uma percepção negativa antiga com a produção de vinhos de qualidade.
“Um marco da própria vida, associado à memória e ligação com a terra, fizeram da Quinta de S. Sebastião o meu lugar”, confessa António Parente. E adianta: “A minha paixão não são os vinhos, mas o que eles contam sobre um lugar. A minha ligação com a terra vem das memórias de infância, em especial da paixão pelos cavalos, pela sensação de liberdade e pela relação de afinidade que estes exigem. É este o espírito com que me dediquei à produção dos vinhos da Quinta”.
Enquanto José Espírito Santo, Diretor-Geral da Vinalda, diz que “os vinhos da Quinta de S. Sebastião vêm trazer mais diversidade e competitividade ao nosso portefólio, numa região que tem registado grande crescimento”. Ao mesmo tempo, salienta que “é uma aposta no renascer de uma sub-região com muita história, como é a Arruda dos Vinhos”.
A Quinta tem hoje várias marcas, no mercado nacional e internacional, tendo uma boa capacidade de crescimento alavancada na parceria com alguns produtores da zona da Arruda. A equipa de produção acompanha directamente todas as vinhas, de castas nacionais e internacionais, de diversas idades e com altitudes entre os 70 e os 450 metros.
O Dão de Carlos Lucas, e a Quinta de Santa Maria

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] Não é o mais antigo produtor do Dão, mas o vinho não escolhe idades. Com um portefólio diverso, de qualidade mais do que comprovada, Carlos Lucas continua a adquirir terreno e a alargar os horizontes da […]
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Não é o mais antigo produtor do Dão, mas o vinho não escolhe idades. Com um portefólio diverso, de qualidade mais do que comprovada, Carlos Lucas continua a adquirir terreno e a alargar os horizontes da empresa.
TEXTO Mariana Lopes NOTAS DE PROVA Luís Lopes e Mariana Lopes FOTOS Anabela Trindade

Há vinhos que se associam a um homem e um não faz sentido sem o outro. Condição sine qua non. É o caso do Ribeiro Santo e de Carlos Lucas, dois nomes que juntamos desde o ano 2000, data do primeiro vinho assim baptizado. Localizada em Oliveira do Conde, Carregal do Sal, a Magnum Carlos Lucas Vinhos materializa-se numa adega bonita e discreta, mas moderna e prática, bem ao estilo pragmático do seu mentor. Mas é aqui que esta palavra se torna plural: mentores. Sempre ao lado de Carlos Lucas está Carlos Rodrigues e, juntos, estes dois enólogos criam vinhos no Dão e também além das suas fronteiras, essencialmente no Douro (com os vinhos Baton) e no Alentejo (origem dos Maria Mora).
Carlos Lucas iniciou a sua carreira em enologia em 1992, na Adega Cooperativa de Nelas, após ter concluído a formação em Montpellier. Um par de anos mais tarde, dedicou-se à fundação e administração de outros projectos, uma era que culminou na criação da empresa que tem o seu nome, em 2011, e à qual acoplou a marca Ribeiro Santo. Enquanto tudo isto, várias consultorias tomaram lugar e também a responsabilidade pelo projecto Quinta da Ala¬meda de Santar, que partilha com o amigo Luís Abrantes. Carlos Rodrigues, por sua vez, é bairradino e foi nessa região começou a actividade enológica, sob a orientação de Mário Pato, um dos primeiros enólogos a ensinar o ofício em Portugal. Provavelmente foi essa vivência que o fez ligar-se tanto à investigação e participar em vários estudos científicos. Apesar de ter feito vinhos em várias regiões do país, foi na Bairrada que se afirmou como “mestre” em espumantes, experiência que hoje aplica na Magnum Vinhos.
A QUINTA DO RIBEIRO SANTO
Conta a história que nesta quinta havia um ribeiro que nunca parava de correr, nem nos anos mais secos. Tendo outrora sido quinta de fidalguia, foi depois adquirida por um padre, que crismou esse ribeiro e o tornou “santo”. Mais tarde, em 1994, a Quinta do Ribeiro Santo tornou-se propriedade da família de Carlos Lucas, que encetou a reconversão das vinhas. Plantadas, no solo de granito pobre, estão as uvas tradicionais do Dão, as tintas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinto Cão e a branca Encruzado. Além do vinho homónimo, é desta quinta que saem nomes como Automático, Envelope e o icónico E.T. (nome que vem de Encruzado e Touriga Nacional), entre outros.
A produção anual já vai nos 200 mil litros, mas Carlos Lucas revelou que vão “duplicar a capacidade das cubas de inox até ao Verão”, o que significa que esse número continuará a crescer. Para fora de Portugal vai 60% dessa produção, principalmente para o Brasil, que é o melhor mercado da Magnum Carlos Lucas Vinhos. No entanto, “as vendas crescem cada vez mais nos países da Europa e nos Estados Unidos”, disse o enólogo.
APOSTANDO NA REGIÃO, E NÃO SÓ…

Foi com as aprendizes e jovens enólogas Natália Korycka e Nádia Rodrigues que Carlos Lucas nos levou à Quinta de Santa Maria, propriedade adquirida por si em Maio de 2018. São dez hectares em Cabanas de Viriato, uma vila com um encanto muito próprio, daquele que só as pequenas localidades do Dão comportam, com as casas em pedra onde o sol reflecte e reluz ao amanhecer. Com muita história, Cabanas de Viriato é o berço de Aristides de Sousa Mendes, cuja casa ainda lá figura.
O primeiro impacto ao pôr os pés no terreno é a deslumbrante vista para a Serra da Estrela, em plano de fundo. A quinta, murada em todo o seu redor, tem vinhedos com 18 anos e esteve abandonada durante cinco, antes de passar para as mãos da Magnum Vinhos. Era posse de uma família de Nelas que lá tinha raízes e Carlos já conhecia bem o potencial daquelas parcelas, tendo sido ele a plantá-las quando do seu anterior projecto. Rodeadas por oliveiras e retalhos de bosque, as uvas são 30% brancas e 70% tintas, com Encruzado, Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen e Tinto Cão a crescer no solo típico da região, pobre, granítico e arenoso, de raízes superficiais. Mas ainda há planos para plantar mais Encruzado nos espaços livres, deixando sempre as manchas de pinheiros bravos. “A partir de agora, tudo o que eu puder plantar será branco”, revelou Carlos Lucas.
Caminhando pela propriedade adentro, chega-se a uma adega antiga, ainda intocada, que será remodelada, mantendo o seu carácter tradicional. Depois, uma casa que parece descansar ali há muito tempo… Virando a sua esqui¬na, somos surpreendidos por uma pérgola de granito coberta por musgos, condição própria de um habitat que está quase sempre à sombra da casa. O interior está “romanticamente” abandonado, com algum mobiliário velho e esquecido, e algumas garrafas de vinho, de outro tempo, partidas no chão. E é quando passamos para a frente desta que entendemos tudo: aquele local tem um grande potencial para enoturismo e Carlos Lucas sabe disso. Toda essa zona, protegida por árvores, convida a um almoço “on site” descontraído a olhar para as videiras, harmonizado com os vinhos Magnum. “Vamos remodelar a casa e construir mais quartos no meio da vinha, para que o visitante possa ter aqui a experiência completa”, adiantou Carlos Lucas. Mas esta quinta tem um objectivo maior: fazer um vinho de topo, um Vinha Santa Maria. Por enquanto, temos de esperar por ele.
A expansão, no entanto, não acaba aqui. Foi em jeito de notícia em primeira mão que o enólogo nos contou que 109 hectares, no Douro, já são seus, dez desses de vinha. “Eu não quero ser a maior empresa, quero ter credibilidade, bons vinhos e uma equipa feliz”, confessou. Daquilo que apurámos, parece que tudo se confirma.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Edição Nº25, Maio 2019
Vercoope, uma adega muito especial

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] Que caso especial é este? De facto, não existe nenhum projecto semelhante em Portugal. E existe há umas boas décadas na região dos Vinhos Verdes, embora poucos enófilos o conheçam. Veja o relato de uma associação […]
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Que caso especial é este? De facto, não existe nenhum projecto semelhante em Portugal. E existe há umas boas décadas na região dos Vinhos Verdes, embora poucos enófilos o conheçam. Veja o relato de uma associação que não só teima em singrar, como está apostada em fazer mais e melhor.
TEXTO António Falcão NOTAS DE PROVA Luís Lopes FOTOS Anabela Trindade
Em Portugal, a maioria das cooperativas vitivinícolas nasceu nos anos 60 do século passado. Nestas últimas décadas, a história encarregou-se de validar este modelo empresarial (e social) e, olhando para trás, chegamos à conclusão de que foram muitas as que, entretanto, tombaram, caindo no esquecimento dos consumidores. Sobretudo por falhas de gestão, e, dentro destas, por falta de capacidade comercial.
Nos anos 60, um conjunto de seis cooperativas da região dos Vinhos Verdes teve a visão de se associar para, em conjunto, conseguirem ter mais força no mercado. Assim nasceu a Vercoope, criada em 1964 e que reuniu sete adegas cooperativas: Alto Cávado, Amarante, Felgueiras, Guimarães, Paredes, Vale de Cambra e Vila Nova de Famalicão. Algumas tinham já anos de laboração, como Felgueiras e Amarante. Outras tinham acabado de nascer.
O objectivo era o de criar uma espécie de braço comum para receber os vinhos vinificados por cada um dos associados, fazer os respectivos lotes, engarrafar e tratar de todo o marketing e da comercialização do vinho.
Esta filosofia de funcionamento seria pouco comum nos dias de hoje, mas nos anos 60 terá certamente sido extraordinária. Melhor ainda, o projecto foi singrando ao longo dos anos e hoje mantém-se de pedra e cal. Implica entre 4.000 e 5.000 viticultores e muita gente se teria questionado que, se não tivesse existido a Vercoope, quantas destas adegas ainda estariam vivas…
A Cooperativa de Felgueiras é a maior por boa margem e por isso não espanta que o administrador da Vercoope tenha vindo de lá.
DA VINHA ATÉ À ADMINISTRAÇÃO
A ‘cabeça’ da Vercoope chama-se Casimiro Alves e é engenheiro agrónomo de formação. Teve, contudo, um percurso muito sui generis, quase sempre ligado à Adega de Felgueiras: começou na vinha, mas passou depois para a adega, como enólogo. Algum tempo depois transitou para a área comercial, antes de entrar, em 2011, como administrador da Vercoope. Ou seja, Casimiro conhece todo o processo de produção e, melhor ainda, os meandros da comercialização. Esse conhecimento certamente lhe faz muito jeito no dia a dia, nomeadamente no relacionamento com João Gaspar, o enólogo residente da Vercoope.
O trabalho de João passa fundamentalmente por provar (e analisar) os vinhos nas respectivas adegas e depois fazer lotes, já nas instalações da Vercoope. A maioria do vinho vem das adegas em monocasta e o facto de ir para lote ou ser engarrafado como varietal é depois decisão de João Gaspar, que toma resoluções depois de consultar a área comercial e de gestão. Em alguns casos, João faz lotes de meio milhão de litros, como o Escolha da marca Via Latina.
No total, contudo, a Vercoope produz anualmente cerca de 9 milhões de garrafas.
UMA ADEGA DE GENEROSO TAMANHO
Já se adivinha que, para armazenar e engarrafar todo este vinho, a adega tem de ser grande. E é de facto enorme, ocupando vários pavilhões industriais junto à estrada nacional 105, vizinha à povoação da Agrela, concelho de Santo Tirso. Estas instalações foram inauguradas em 1980, mas já foram alvo de muitas obras. Como as que foram feitas para acomodar as duas linhas de engarrafamento, usadas não só para os produtos da casa, mas ainda para algumas marcas feitas pelas próprias adegas associadas. Ou ainda para terceiros. Uma das linhas consegue 5 a 6 mil garrafas/hora; a outra, mais moderna e totalmente automatizada, de 8 a 10 mil. Estas linhas trabalham praticamente to¬dos os dias da semana.
A adega inclui um laboratório bastante completo, agrupando a parte química e microbiológica. “Todos os dias se fazem aqui análises, de vinhos a encher até vinhos que recebemos”, diz o administrador. E continua: “os vinhos são pagos consoante a qualidade; aqui fazemos a parte laboratorial; a prova organoléptica é feita na Comissão de Viticultura, no Porto”.
O quê? Análises? Químicas e sensoriais? E de repente, nós paramos, atónitos.
 UM MODELO BASEADO NA RESPONSABILIDADE
UM MODELO BASEADO NA RESPONSABILIDADE
Pois é, apesar de os fornecedores serem associados (leia-se, sócios), aqui não há facilidades. Ou o vinho que vem das adegas é bom, e o preço compensa, ou é fraco e mal se paga a si mesmo. E os parâmetros de análise são os mais completos que vimos até hoje. Refira-se que a prova sensorial na Comissão dos Vinhos Verdes é cega: os provadores/avaliadores não sabem o que estão a provar. Este serviço, claro, é pago pela Vercoope.
Quer isto dizer que se um vinho não vier em condições, ele pode nem ser pago pela Vercoope ao associado. É para se ver a seriedade com que se trabalha aqui; ou seja, não existem filhos e enteados. “Trabalhamos em clima de confiança total com os nossos accionistas”, garante o administrador.
O preço base do litro adquirido ronda os 75 cêntimos para o branco (o tinto é mais barato) e depois pode ir valorizando até quase ao euro. A única excepção é a casta Alvarinho, que vale quase o dobro. A propósito, a Vercoope também tem Alvarinho de Monção e Melgaço, mas adquire-o na região a produtores locais.
Embora possam parecer baixos, estes preços são compensadores para os associados. De tal maneira que, segundo nos revelou José Sequeira Braga, presidente da Adega de Guimarães e membro da administração da Vercoope, não existem grandes tentações de os próprios accionistas fazerem, por exemplo, o seu vinho ‘especial’ à margem da Vercoope.
EM CONSTANTE CRESCIMENTO
A adega foi sendo remodelada ao longo dos anos, no sentido de melhorar as condições, modernizar a tecnologia e criar condições para certificações cada vez mais exigentes. E agora vai ser ampliada, diz-nos Casimiro. Mais milhão e meio de litros de armazenagem, mas também para fermentação de mostos fora de época. Os mostos são amua¬dos (não se deixam fermentar por acção de sulfuroso) e vão sendo fermentados à medida das necessidades. Isto é benéfico para vinhos de baixa gama, que ficam assim com fruta mais fresca e maior vivacidade. A parte técnica também vai receber novos equipamentos, para aumentar a eficiência e a qualidade dos vinhos. Este ano e nos próximos a Vercoope vai investir 300.000 euros por ano.
Em termos de quantidades, a adega está a receber 10% mais vinho todos os anos. O enorme crescimento vem da reconversão e novas plantações nas vinhas/terras dos associados das respectivas adegas. Este ano deverá superar-se a barreira das 10 milhões de garrafas.
As vendas crescem também mais de 10% ao ano. “Não há muita gente que se possa orgulhar disto”, garante Casimiro Alves, visivelmente satisfeito. Os pagamentos às adegas associadas são por isso rápidos e já ocorreram casos que foram antecipadas, por alguma necessidade pontual. A Vercoope tem estofo financeiro para isso…

3 VINHOS NO TOP 10 DA REGIÃO
As grandes marcas da casa são duas: Via Latina e Pavão. Mas aqui que são também feitas outras referências muito importantes, como Terras de Felgueiras e Urbe Augusta (esta exclusivo Pingo Doce), as duas com mais de um milhão de unidades por ano. A Via Latina vai, na sua maioria (60%), para a exportação, com a Rússia à frente. Todas as outras marcas são muito fortes no mercado interno. No total, a Vercoope tem 3 marcas no top 10 da região.
Só para se ter uma ideia do que tem sido o percurso desta empresa, há 15 anos, por vasilhames, a casa vendia um terço em garrafão, outro terço em garrafa de litro e o restante na normal garrafa de 0,75l. Hoje é quase tudo em garrafa de 0,75. “Ainda não conseguimos acabar com o garrafão, porque alguns clientes, incluindo internacionais, o exigem”, explica Casimiro Alves. Outra exigência do mercado é o vulgar gás adicionado a praticamente todos os vinhos da casa na altura do engarrafamento.
UMA CASA A AUMENTAR EM VELOCIDADE
Casimiro diz-nos ainda que “as vendas estão a correr bem e diversificamos bastante o nosso portefólio, com vários varietais e bi-varietais (Alvarinhos, Loureiro, Azal, Arinto, Espadeiro, etc), Escolhas e Grandes Escolhas…” O monocasta que mais vende é o de Loureiro, mas é a uva Arinto a mais usada nos vinhos da Vercoope. Vai é sobretudo para lotes…
Em termos de mercados, a VVV apenas exporta cerca de 30% da produção. O objectivo, contudo, é aumentar este valor, tarefa a cargo de José Castro, responsável de exportação: “queremos vender este ano 3 milhões de euros em exportação”.
A nossa visita chega ao fim. Não vimos um pé de vinha, quase não se falou em terroir, solos ou climas. São temas importantes, claro, mas aqui na Vercoope o fulcro é manter esta associação de boa saúde para que possa cumprir os seus encargos e que sobre espaço para crescer. Afinal, tal como qualquer empresa que se preze. O que lhe falta? O bem-disposto Sequeira Braga diz na brincadeira que falta “um brasão no portão, o palacete, o charme”. Casimiro Alves pensa em outros voos, como os de fazer conseguir aumentar paulatinamente o preço médio dos vinhos. Afinal, diz ele, “os nossos vinhos têm vindo a melhorar bastante”.
Edição Nº25, Maio 2019
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Tourigando
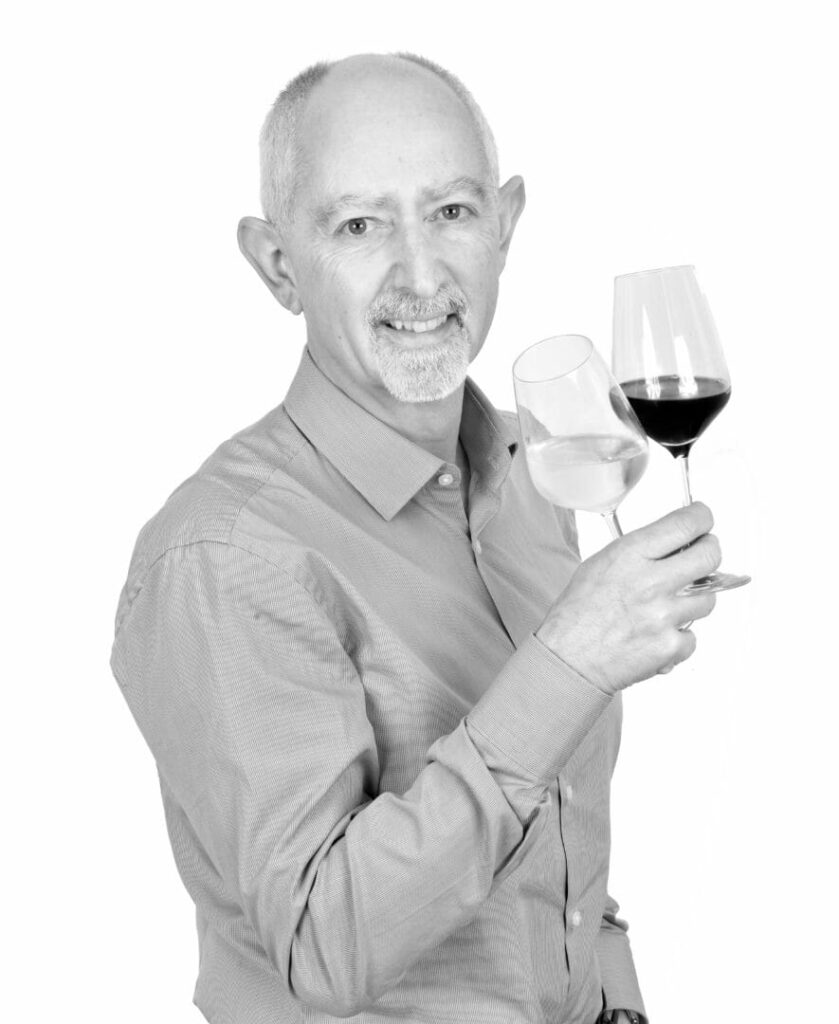
É a estrela mais brilhante na constelação das castas tintas portuguesas, impondo-se pela sua qualidade, versatilidade e personalidade. Há, porém, quem veja nela uma uva demasiado impositiva, excessivamente dominadora, podendo mascarar a identidade de uma região. Na verdade, a Touriga Nacional é tudo isso e mais ainda. Se fosse criada uma competição para escolher a […]
É a estrela mais brilhante na constelação das castas tintas portuguesas, impondo-se pela sua qualidade, versatilidade e personalidade. Há, porém, quem veja nela uma uva demasiado impositiva, excessivamente dominadora, podendo mascarar a identidade de uma região. Na verdade, a Touriga Nacional é tudo isso e mais ainda.
Se fosse criada uma competição para escolher a casta tinta autóctone que melhor representasse o Portugal do vinho, a Touriga Nacional nem precisaria de ir a jogo: ganharia, desde logo, por falta de comparência ou desqualificação dos potenciais concorrentes. Que variedades se perfilariam? Bom, as estatísticas iriam impor Aragonez/Tinta Roriz, já que é a uva tinta mais plantada entre nós. Mas quem se atreveria a eleger uma casta espanhola, que o mundo conhece como Tempranillo, para porta bandeira dos vinhos de Portugal? Além de que o escasso número de tintos 100% Aragonez existentes no mercado não dava para constituir uma equipa. Touriga Franca? Grande casta, sem dúvida alguma, para mim a que melhor representa o Douro, mas também não existem assim tantos exemplares estremes, além de que a Franca embirra com as correntes de ar, a altitude, a humidade, em suma, tem as suas exigências quando se trata de viajar. Castelão e Baga, as rainhas, respectivamente, das areias de Palmela e dos argilo-calcários da Bairrada? Não gostam de sair do sofá lá de casa. E a Trincadeira/Tinta Amarela menos ainda. Claro, não devemos esquecer a Alicante Bouschet, e até seria divertido espicaçar o orgulho dos franceses com esta casta que adoptámos, mostrando-lhes que fazemos com ela vinhos que eles, que a criaram, nem em sonhos realizam. Mas, na verdade, não poderíamos ir pelo mundo fora apresentá-la como “nossa”. Das portuguesas mais representativas, resta, portanto, a Touriga Nacional. E, convenhamos, não é pouco.
A uva a que damos a capa e o tema principal da Grandes Escolhas de Maio possui muitos e variados atributos. Em primeiro lugar, a sua óbvia qualidade. A consistência qualitativa desta variedade, na vinha e na adega, é muito grande. Tem as suas fragilidades, como todas (não há castas perfeitas), mas o resultado final é, geralmente, bom. Mais do que ser bom, é bom numa grande diversidade de solos, climas e exposições solares. Casta nascida no Dão, onde revela tudo o que tem, a Touriga adapta-se às múltiplas condições oferecidas pelo Portugal vitícola, mostrando-se tão confortável na atlântica Lisboa como no interior alentejano. A polivalência é outro ponto a seu favor: faz belos tintos, rosés e bases brancas para espumante. E, consoante a forma como a tratamos na vinha, faz vinhos orientados para distintos segmentos de preço, dos €5 aos €50.
Deixei propositadamente para o fim aquele que é o seu principal factor diferenciador, positiva e negativamente: a forte identidade. A Touriga Nacional, quando bem trabalhada (sem extrações excessivas), origina vinhos imediatamente reconhecíveis nos seus aromas e sabores. Discreta, é coisa que ela não é. E frequentemente, mesmo em minoria no lote, domina o resultado final, sobrepondo-se às outras castas, por vezes mascarando o perfil regional com a sua intensidade frutada e floral. Já em tempos o escrevi nestas páginas e não me importo de repetir: prefiro ter 20% de Cabernet num lote de Alentejo “clássico” (com Trincadeira, Alicante Bouschet, Aragonez) do que a mesma percentagem de Touriga a abafar as outras variedades.
A Touriga Nacional é a minha casta favorita? Não, de todo. Mas é a melhor que temos e a mais bem colocada para representar a grandeza vinícola de Portugal. É exuberante, vaidosa, impositiva, egocêntrica? Sim, claro. O Cristiano Ronaldo também.
Edição Nº25, Maio 2019
O que é que o Wolfgat tem?

Um pequeno restaurante na África do Sul está a chamar a atenção da comunidade foodie mundial. Falámos com um chef português que teve a sorte de já lá ter almoçado. TEXTO Ricardo Dias Felner O exercício de tentar marcar uma mesa no Wolfgat dá uma ideia do que aconteceu a este pequeno restaurante da vila […]
Um pequeno restaurante na África do Sul está a chamar a atenção da comunidade foodie mundial. Falámos com um chef português que teve a sorte de já lá ter almoçado.
TEXTO Ricardo Dias Felner
O exercício de tentar marcar uma mesa no Wolfgat dá uma ideia do que aconteceu a este pequeno restaurante da vila de Posternoster, na costa ocidental da África do Sul. Nos próximos três meses não resta uma única vaga, nem ao almoço, nem ao jantar. E nem sempre foi assim. Em Janeiro, muitos dos 20 lugares desta casinha sobre o mar ficaram vazios.
O que mudou de então para cá? No passado dia 21 de Fevereiro, numa cerimónia realizada em Paris, Kobus van der Merwe foi chamado ao palco dos The World Restaurant Awards. Um júri de 12 especialistas — entre chefs, jornalistas e gastronómos — elegeram-no o Restaurante do Ano, fazendo deslocar a atenção de foodies e gastrónomos de todo o mundo para o continente africano, sempre esquecido neste tipo de galardões.
A escolha não terá sido meramente culinária, mas o marcar de uma posição, um statement ideológico. Os The World Restau¬rant Awards apareceram este ano como concorrentes dos The World’s 50 Best Restaurants, que ganharam notoriedade nos últimos anos, batendo-se com as estrelas do Guia Michelin.
Tendo por trás a IMG, responsável por eventos como New York Fashion Week, os TWRA querem representar uma for¬ma mais “progressista” de olhar para a gastronomia. Dos 100 elementos do júri, metade são homens, a outra metade mulheres. E há — segundo os próprios criadores dos prémios — uma “tentativa de reflectir a verdadeira diversidade do mundo da restauração: desde os inovadores do fine dining a restaurantes mais simples e acessíveis; das maiores capitais da culinária a destinos mais remotos”.
 Embora não tenha sido pública a forma como os vencedores foram escolhidos, o Wolfgat encaixava perfeitamente nestes princípios orientadores.
Embora não tenha sido pública a forma como os vencedores foram escolhidos, o Wolfgat encaixava perfeitamente nestes princípios orientadores.
Bernardo Agrela, ex-chef do Cave 23, teve a sorte de lá almoçar semanas antes do anúncio do prémio e confirmou à Grandes Escolhas tudo o que foi anunciado. “Adorei”, disse, sublinhando que o restaurante fica em cima de uma praia magnífica. “O sítio é absurdo”, disse. “Tem no máximo umas seis mesas e é pouco mais do que uma espécie de barracão”.
Este despojamento é propositado, uma forma de fazer sobressair não apenas a paisagem, como o produto. “O chef Kobus van der Merwe é o típico hipster autodidata que vive isolado do mundo. Apenas utiliza produto existente na terra e no mar à volta do restaurante, que o próprio se encarrega de encontrar”, afirma o chef português.
Na cabeça de Agrela estão por exemplo os “mechilhoew”, enormes mexilhões apanhados mesmo ali e fumados com ervas das dunas. Na nossa, agora, também.
Edição Nº24, Abril 2019
Os novos ventos do Levante

A cozinha do Mediterrâneo Oriental apareceu de mansinho e foi-se instalando em Lisboa. Nos últimos tempos, apareceram vários restaurantes dessa região, com o Líbano a liderar a tendência. TEXTO Ricardo Dias Felner Quando se fala em dieta mediterrânica, é da dieta do Médio Oriente que devíamos estar a falar. Portugal costuma entrar nesse grupo, mas […]
A cozinha do Mediterrâneo Oriental apareceu de mansinho e foi-se instalando em Lisboa. Nos últimos tempos, apareceram vários restaurantes dessa região, com o Líbano a liderar a tendência.
TEXTO Ricardo Dias Felner
Quando se fala em dieta mediterrânica, é da dieta do Médio Oriente que devíamos estar a falar. Portugal costuma entrar nesse grupo, mas Portugal está cheio de carnes vermelhas e fumeiro e gorduras poliinsaturadas. Portugal é muito bom. Mas não é o Levante. Não tem a leveza saborosa e completa de uma refeição libanesa, síria, israelita, jordana, palestina. Uma mesa de mezze — os petiscos levantinos — parece ter sido criada por uma nutricionista com bom senso e bom gosto, esse ser humano raro.
Está lá tudo e tudo parece complementar-se. Quando se pensa numa mesa libanesa, por exemplo, pensa-se em grãos, azeite cru e azeitonas, limão, ervas frescas e pós inventados por perfumistas, como o novo elixir dos chefs europeus, o za’atar, feito de especiarias várias, entre elas o extraordinário sumagre. Pensa-se em frutos secos, com o pinhão e o pistáchio à cabeça. Em tâmaras. E, claro, acidez, limões e romãs. Há também depois as texturas, várias: têm de haver pastas, como o hummus, feito de grão e pasta de tahini (pasta de sésamo torrado); ou o baba ghanoush, cheio de fumados da beringela assada e do tahini; tem de haver saladas vibrantes como o tabbouleh: tomate, salsa e hortelã, claro. E têm de estar lá os pastelinhos: fritos, delicados, como o kibbeh, recheado de carne magras, borrego ou vaca magra, bulgur e especiarias; e o célebre falafel, prato de street food do mundo.
Infelizmente, Portugal demorou tempo a acolher esta culinária. Quando as capitais da Europa tinham já vários libaneses por onde escolher, em Lisboa, durante muito tempo, praticamente só o Fenício’s era um representante digno. Nos últimos anos, contudo, os mezze instalaram-se na capital, com proveniências diversas. Eis alguns dos nossos poisos preferidos, em Lisboa.
ZA’ATAR

A fórmula já tinha sido usada por José Avillez, com sucesso, na Cantina Peruana. A ideia foi chamar um chef autóctone, pedir-lhe consultadoria, afinar a ementa de acordo com o mercado e o paladar português, e dar-lhe um espaço bonito. Aconteceu assim com o chef peruano Diego Muñoz, para a Cantina Peruana e, agora, com o libanês Joe Barza para este Za’atar, nome inspirado na célebre mistura de especiarias. Curiosamente, ambos os restaurantes, situados no Cais do Sodré, partilham a cozinha com as salas em zonas separadas e com decoração própria. A não perder o tajin arnabit, couve-flor marinada em curcuma e limão, depois assada e polvilhada de nozes; o frikeh bil lahmeh, cuscos de trigo verde, com perna de borrego e moleja, a glândula do timo do borrego; e a sopa de lentilhas com frutos secos.
SUMAYA
O Sumaya é da mesma família do Za’atar, no sentido em que é um restaurante sofisticado e cosmopolita, sem folclore, mas com comida autêntica. Abriu pouco antes, em Setembro do ano passado, no Príncipe Real. O dono não precisou

de um chef libanês de renome porque é libanês e tem na cabeça a cozinha de família, embora já viva em Portugal há alguns anos e se dedique a outras comidas, como carnes e hambúrgueres, presentes nos seus restaurantes do grupo Atalho. O Sumaya procura ter só produtos autênticos e tem praticamente todos os mezze clássicos da carta levantina. Um dos pontos altos é o muhallabiyeh, um pudim de leite, com pistáchio e amêndoa no topo.
MEZZE
Este restaurante do Mercado de Arroios, em Lisboa, foi dos primeiros a pôr a comida do Médio Oriente na moda. O arranque fez-se em jantares isolados, nomeadamente com pop ups no Mercado de Santa Clara, e teve como objectivo inicial ajudar na integração de refugiados sírios. O sucesso foi tal que os responsáveis pela associação Pão a Pão decidiram abrir um espaço permanente no Mercado de Arroios, ainda em 2017, mesmo que ninguém tivesse grande experiência em restauração, valendo-se de cidadãos dessa região para tratar da cozinha. O sucesso foi imediato e permanece. O pão árabe, achatado, é do melhor que vai encontrar e os mezze são todos fresquíssimos. Se ficar fã, pode sempre tentar reproduzir em casa os pratos que comeu, abastecendo-se na mercearia com produtos do Médio Oriente que entretanto abriu mesmo ao lado.


TANTURA
Falham restaurantes bons no Bairro Alto, hoje mais do que nunca, mas este Tantura é desde 2017 um porto seguro numa zona cheia de barretes para turista enfiar. A metáfora do porto aqui é só meia metáfora, porque de facto Tantura é uma cidade portuária de Israel, precisamente o sítio de onde este casal partiu quando decidiu vir passar a lua-de-mel a Portugal — e não voltar à casa de partida. Há vários tipos de hummus, várias derivações do clássico shakshuka, com ovos estrelados em molho de tomate e pimentos e outros clássicos com twist de chef. Uma das últimas criações a entrar na carta foi o malawach, um prato iemenita com camadas de massa, entremeadas de manteiga, fritas. O espaço é muito arty e luminoso.
THE SAJ BAKERY

Não é um restaurante, antes uma padaria libanesa que usa o saj, uma chapa aquecida de uma forma convexa, como uma crepeira que engravidou. Fica na Rua do Arsenal, também ao Cais do Sodré, e não tem lugares sentados, é pegar e largar. A dona é uma brasileira dona de uma conhecida padaria no Uruguai, casada com um libanês. Um empregado português que nos atendeu, recentemente, garantiu que este é o único saj em Portugal. Mas o que importa é que aos comandos está quem sabe do assunto, uma síria com anos a amassar o famoso pão árabe, sem fermentos artificiais nem outros aditivos. Os recheios podem ir dos mais simples, como Nutella ou za’atar, aos mais complexos, como o Libanês, recheado com labré, uma coalhada seca, tomate, hortelã e za’atar.
Edição Nº24, Abril 2019
Favas

DO MERCADO TEXTO Ricardo Dias Felner FOTO D.R. A fava é o bicho mau das leguminosas. E não devia ser. Antes das transacções proporcionadas pelas conquistas do Novo Mundo, a fava era o único “feijão” que conhecíamos. Nada mais existia para portugueses e europeus. A […]
DO MERCADO
TEXTO Ricardo Dias Felner FOTO D.R.
A fava é o bicho mau das leguminosas. E não devia ser.
Antes das transacções proporcionadas pelas conquistas do Novo Mundo,
a fava era o único “feijão” que conhecíamos. Nada mais existia para portugueses e europeus. A fava andava por cá desde 3.000 anos a.C.
Já devíamos estar habituados a ela e no entanto muita gente torce-lhe o nariz, seja porque é difícil de cozinhar, seja porque é amargosa. A principal culpada disto é a película que protege a fava, grossa e fibrosa, difícil de amaciar.
Uma forma de se atenuar o amargor é retirar a pele e comprar as favas novas, ainda pequenas. Isso acontece em Abril e Maio, normalmente. A fava fresca pequena coze mais facilmente e não precisa de ser demolhada em água. A sua doçura, quando lhe tiramos a casca, pede só um azeite elegante, um dente de alho, eventualmente limão, à maneira do Egipto, onde também entra nos icónicos pastéis falafel, misturada com grão. No Norte de África e em Itália, as favas são por vezes vendidas já sem pele e cortadas pela metade.
Em Portugal, o receituário é muito substancial, desde a desaparecida sopa de fava rica (feita com fava seca, hoje uma raridade), anunciada em pregões pelas ruas de Lisboa até às decadentes favas com entrecosto e enchidos — uma bomba de proteína. Lá em casa, sempre acompanhámos o prato com uma salada de alfaces e coentros, bem regada de vinagre.
A minha receita preferida é contudo a de favas com bacalhau.
Foi-me passada por um amigo beirão e é só isto. Assar o bacalhau
(pode ser no grelhador do forno, sem o deixar secar…), lascá-lo e juntá-lo
às favas previamente cozidas (com rama de alho, se houver). À parte, frigir alhos laminados em azeite abundante e juntar ao tacho. Mexer tudo novamente. No fim, mandar os detractores… à fava.
Edição Nº24, Abril 2019
Lua Cheia em tom de Bronze

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] De uma quinta em Vale Mendiz e de uma vinha de Barcelos, surgem agora o tinto Quinta do Bronze e o Maria Bonita Barrica Loureiro. Dois vinhos que mostram muito bem a versatilidade da Lua Cheia […]
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
De uma quinta em Vale Mendiz e de uma vinha de Barcelos, surgem agora o tinto Quinta do Bronze e o Maria Bonita Barrica Loureiro. Dois vinhos que mostram muito bem a versatilidade da Lua Cheia em Vinhas Velhas e do enólogo Francisco Baptista.
TEXTO Mariana Lopes FOTOS cortesia do produtor
Como tantas estórias do mundo do vinho, esta começa com um “bicho atrás da orelha”. O projecto Lua Cheia em Vinhas Velhas (LCVV) iniciou-se em 2009, fruto da paixão de dois bairradinos, Francisco Baptista e Manuel Dias, pela região do Douro, com vinhos brancos da zona de Murça. Em 2010 já tinham adega, em Martim, e em 2012 já faziam Alvarinho em Monção. Um ano depois, puseram pé no Alentejo e, em 2015, no Dão. Daí nasceram marcas já bem consolidadas como Lua Cheia, Andreza, Poseidon, Maria Bonita, Maria Papoila ou Insurgente, entre outras. Mas foi algures entre todas essas aventuras que teve início a que deu origem aos dois novos vinhos, lançados em Março.
“Queríamos adquirir uma propriedade para tintos, uma que fosse mesmo nossa”, contou Francisco Baptista, enólogo da LCVV. Esse desejo foi concretizado em 2012, com a compra de 12 hectares de vinha (agora já são mais) em Vale Mendiz, no Cima Corgo do Douro. Na altura eram vinhas com 15 e 30 anos, a 350 metros do rio, das quais Francisco e Manuel queriam fazer um vinho que se identificasse com a sua filosofia, um tinto menos pesado, com equilíbrio. Desde o início que fizeram vários ensaios: começaram pela zona mais baixa e foram subindo, até encontrarem a identidade que procuravam. Mas só com a colheita de 2015 sentiram que acertaram no perfil e na qualidade, surgindo daí o Quinta do Bronze tinto 2015. De Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinto Cão, este vinho estagiou em barricas durante 24 meses e esteve um ano em garrafa, tendo sido feitas cerca de 6 mil garrafas. Recentemente, Francisco Baptista deu início à limpeza de ruínas presentes na quinta e, para sua surpresa, encontrou lagares de xisto e prensas, tudo muito antigo. A propriedade tem também uma vinha centenária, da qual o enólogo aproveita material vegetativo, para reprodução.

A génese do Maria Bonita Barrica Loureiro 2017 é também ela curiosa. Em 2011, a LCVV fez uma parceria com um hospital psiquiátrico, e uma ordem religiosa de Barcelos, que tinha vinhas nos seus terrenos. A primeira resolução foi reabilitar os vinhedos e plantar Loureiro. “Queríamos que os pacientes se sentissem num espaço bonito e à vontade para passear naqueles 34 hectares de vinha”, contou Francisco Baptista. Trinta desses hectares são, neste momento, de Loureiro e quatro de Sauvignon Blanc e Alvarinho. Por trás do hospital-convento, havia patamares de Loureiro com 35 anos e Francisco decidiu fazer algo diferente dessa uva: fermentou-o em barricas usadas, vindas do Douro. Assim, este Maria Bonita estagiou oito meses nessas barricas e mais oito em garrafa, materializando-se em 2 mil exemplares.
A Lua Cheia em Vinhas Velhas tem já uma multiplicidade de faces, é certo, mas ainda não fica por aqui. Francisco Baptista descortinou, entusiasmado: “Estamos prestes a fazer Baga, na Bairrada. Para nós, faz todo o sentido”.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Edição Nº24, Abril 2019