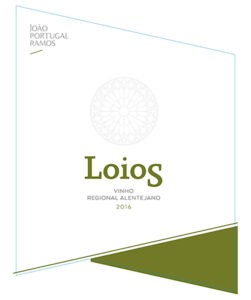Passarella: Saber e tradição da Serra

O lançamento oficial do Casa da Passarella Vindima 2011 foi o pretexto para este produtor da serra da Estrela mostrar as novidades da quinta. Entre vinhos recém chegados e promessa de outros, a vitalidade da empresa é uma realidade. Texto: João Paulo Martins Fotos: Anabela Trindade/Abrigo da Passarela Esta quinta do Dão, situada na sub-região […]
O lançamento oficial do Casa da Passarella Vindima 2011 foi o pretexto para este produtor da serra da Estrela mostrar as novidades da quinta. Entre vinhos recém chegados e promessa de outros, a vitalidade da empresa é uma realidade.
Texto: João Paulo Martins Fotos: Anabela Trindade/Abrigo da Passarela
Esta quinta do Dão, situada na sub-região da serra da Estrela, tem sido amiúde objecto de notícias, sempre por boas razões. Trata-se de uma propriedade antiga, mais propriamente 130 anos, ao que nos foi dito, estendendo-se os vinhedos por inúmeras parcelas espalhadas nos 100 ha da quinta. Renovar e dar nova vida a estas vinhas e dar o salto para um hotel rural a funcionar na antiga casa da quinta são os objectivos do novo proprietário, personagem que faz questão de se manter distante da comunicação social ou destes eventos de apresentação de novidades, o que se respeita.
Uma velha quinta produtora tem necessariamente tradições, hábitos e formas de fazer que podem ter duas leituras e dois destinos: o primeiro é o mais habitual: sim senhor, muito interessante, muito etnográfico mas vamos fazer a coisa em moldes modernos, ter uma vinha nova a produzir bem com castas que nos interessam e uma adega adequada e preparada para receber as novas tecnologias; o segundo destino é menos espectacular: vamos tentar perceber o que aqui se fazia, vamos olhar para o património com olhos do séc. XXI mas na perspectiva de conservar o que for de conservar; na adega a mesma coisa – manter o que for útil, descartar o que já não serve. Paulo Nunes está aos comandos da enologia desde que esta nova história da Passarella se iniciou nos anos 90 e a sua perspectiva e o seu olhar sobre todo o projecto “encaixam” no segundo modelo que acima referi: não estragar, não arrancar, não deitar abaixo, não cair na ditadura da folha Excel, manter, inclusivamente, as pessoas que são as guardiãs das memórias da casa. É o caso da adegueira que lá trabalha há já muitos anos, filha de adegueira e neta de adegueira. Como nos diz Paulo, “há um saber empírico que vai passando de geração em geração e temos de ser capazes de saber ouvir”. Depois, dizemos nós, há que ir para casa pensar e dormir sobre o assunto para perceber o que é de manter e o que há que alterar. Sabendo-se que “naquelas terras serranas fazer vinho é uma consequência de estar vivo”, há sempre muito para ouvir e entender. Também porque a perspectiva de Paulo Nunes quanto ao vinho é muito clara quando diz, “não nos interessa fazer um vinho perfeito mas sim criar um vinho que respeite o saber e a tradição da casa”. Quase me apetecia aqui adaptar a frase, que já está no altar das frases célebres do mundo do vinho, um dia proferida por Aubert de Villaine, co-proprietário do Domaine de la Romanée-Conti, a mítica propriedade da Borgonha: “Eu não sou enólogo, sou apenas o guardião do terroir!” A atitude de Paulo Nunes sugere algo de semelhante: manteve vinhas que estavam na calha para serem arrancadas, conservou as velhas cubas de cimento e os lagares da adega e está a tentar que o perfil dos vinhos desta nova era sejam o espelho da fama e glória passadas. Pelo que temos visto e provado, a missão está ser levada a bom porto.
Novas castas, histórias velhas
O encontro em Lisboa teve lugar a 12 de Outubro, o primeiro dia que se seguir ao fecho da vindima, uma vez que no dia anterior ainda estavam a entrar uvas da casta Baga, curiosamente com apenas 12% de álcool provável; o facto tem alguma graça porque a Baga, ainda que nascida no Dão, foi na Bairrada que encontrou o seu ambiente preferido e os varietais de Baga são praticamente inexistentes no Dão. Paulo, porém, adianta que irá sair um Baga na colecção Fugitivo.
No momento tivemos duas estreias absolutas: um branco de Barcelo e um tinto de Pinot Noir. Barcelo, diz-nos Paulo Nunes, estava, juntamente com a casta Dona Branca, na base dos principais lotes de brancos do Dão, segundo Cincinato da Costa (em 1900). O interesse enológico da casta levou a que se plantasse, já há dois anos, mais um hectare para manter a produção no futuro. A casta, que não tem sinonímia, sobrevive na Passarella numa parcela que tem agora 80 anos. No estágio deste vinho apenas utilizam barricas com muito uso, por forma a manter toda a delicadeza aromática e o perfume que este vinho exala.
A outra novidade foi o Pinot Noir. A casta era muito antiga na quinta e, dada a localização da vinha, era uma casta precoce e usada para fazer um “pé de cuba” que funcionava como concentrado de leveduras que ajudava despois ao arranque da fermentação dos volumes grandes. A vinha que deu origem a este vinho foi plantada em 2008 e na confecção usou-se algum engaço por forma a conferir ao vinho um carácter mais vegetal e um pouco mais rústico, ou seja, mais próximo do modelo inspirador, os tintos da Borgonha. Também este tinto vai passar a ter produção anual.
Um dos vinhos que foi apresentado tem já estatuto de habitué: o branco de curtimenta, cuja primeira edição remonta há 10 anos. Trata-se de um vinho de homenagem, já que até há 40 anos era assim que se faziam os vinhos brancos, com as películas a fermentaram juntamente com o mosto. O resultado é um branco carregado na cor, todo ele a transpirar rusticidade. Quando sai do lagar está castanho de cor mas, segundo Paulo, “com dois invernos em cima a cor cai muito e fica com este tom alaranjado”. É de tal forma diferente dos actuais brancos que virou uma curiosidade, com muitos adeptos. É sempre um branco difícil, mas com inesperada capacidade de ser bom parceiro à mesa.
O Villa Oliveira Encruzado, verdadeiro porta-estandarte da empresa, nasceu na colheita de 2011 e tem, em cada ano, origem em parcelas diferentes, conforme a maturação. É já hoje uma referência obrigatória dos brancos do Dão feitos com a casta-rainha da região. E para completar a apresentação tivemos “o vinho que aqui nos trouxe”, o Casa da Passarella Vindima 2011, em segunda edição, após a estreia com o 2009. O longuíssimo tempo de estágio em garrafa é a sua principal característica e, pensado que está para viver muito tempo em cave, todas as garrafas foram re-rolhadas já este ano. Um método que se aplaude e que bem podia encontrar seguidores noutras casas produtoras. Com o hotel em fase final, é caso para dizer que não faltarão motivos para ver e rever os segredos da Passarella.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2022)
Furtiva Lagrima: A voz de um Alentejo improvável

Projecto de nicho, o topo de gama do produtor Monte da Raposinha já se espraia por 7 edições que alcançaram o aplauso da crítica e do consumidor. Falamos do tinto Furtiva Lagrima, uma marca cujo percurso se iniciou em 2007 num “Alentejo improvável”. Provámos todas as colheitas e os vinhos mostraram-se em grande forma. Texto: […]
Projecto de nicho, o topo de gama do produtor Monte da Raposinha já se espraia por 7 edições que alcançaram o aplauso da crítica e do consumidor. Falamos do tinto Furtiva Lagrima, uma marca cujo percurso se iniciou em 2007 num “Alentejo improvável”. Provámos todas as colheitas e os vinhos mostraram-se em grande forma.
Texto: Nuno de Oliveira Garcia Fotos: Monte da Raposinha
Recordo-me bem dos primeiros vinhos que provei do Monte da Raposinha, e de quanto curioso fiquei sobre este terroir em pleno norte Alentejo, mas territorialmente situado entre as cidades de Portalegre e Santarém. É, com efeito, um local de transição e sem presença massiva de vinhas. O Monte de Raposinha está localizado apenas 500 metros a jusante da barragem de Montargil, sendo que, como nos revela João Nuno Ataíde, essa proximidade à barragem faz com que sejam frequentes nevoeiros até meio da manhã, aportando frescura aos vinhos, mas já lá iremos…
Comecemos, então, pelo nome do monte: em criança, Rosário Ataíde, actual proprietária e mãe de João Nuno Ataíde – gestor executivo do projeto –, era carinhosamente apelidada pelo seu pai de “Raposinha”, daí o nome da propriedade e de alguns dos vinhos. Ou seja, é uma homenagem ao próprio pai (e avô) mas também a toda a família. Temos, portanto, um verdadeiro lugar de família, e tudo isto antes de existir qualquer pé de vinha plantado. Por falar de vinha, os primeiros 2 hectares foram plantados apenas em 2005, tendo existido posteriores plantios em várias fases, as últimas das quais em 2010 e 2014. Actualmente, o total de vinha é de 15 hectares, menos de 10% da dimensão da propriedade, dos quais a clara maioria é tinta, sendo que parte conta com certificação biológica e a restante área está em transição. Nas tintas, encontram-se plantadas Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet e Trincadeira, enquanto nas brancas (cerca de 1/5 da vinha) produz-se Arinto, Antão Vaz, Viosinho e Chardonnay. Existe também produção de azeite, actividade de enoturismo com alojamento local e loja. Com o projeto vitivinícola em movimento, que inclui rega por parcelas, construiu-se uma adega que, descrita pela enóloga Paula Bragança, é “simples, prática e funcional”. Paula e João Nuno são casados (reforçando o lado familiar do projecto) e, no final do dia, são o duo responsável por todas as principais decisões no que aos vinhos diz respeito. Referimo-nos a 100.000 garrafas produzidas por ano, dispersas por 3 gamas fixas: Raposinha (gama de entrada), Monte da Raposinha e Athayde Grande Escolha (premium e ultra-premium) e Furtiva Lagrima (topo de gama). Existem ainda edições especiais, sem regularidade programada, caso das marcas Ensaio (o nome diz tudo…) e Maria Antonieta, este um Touriga Nacional de uma parcela de areia e calau rolado, sem fermentação nem estágio em barrica (ambas por nós provadas, recordamos as edições de 2013 e 2017). Actualmente a produção divide-se equitativamente entre mercado nacional e exportação, sendo os principais mercados, depois de Portugal, o Brasil e a Suíça.
No que ao Furtiva Lagrima diz respeito, o nome advém da aria do compositor G. Donizetti, invocando-se a elegância, mas também vigor desta obra, tão cara ao pai de João Nuno e ao próprio (ambos melómanos com vocação interpretativa). As primeiras edições deste topo de gama – as de 2007, 2009 e 2010 – eram um lote de Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet, sendo que, ano após ano, esta última casta foi ganhando protagonismo, até se tornar monocasta (as últimas 3 colheitas são mesmo 100% Alicante). A fruta advém sempre da mesma parcela de 0,5 hectares de Alicante Bouschet. Plantada em 2010, mesmo por detrás da adega, em solo franco-argilo-arenoso, a parcela conta com um clone diferente das demais parcelas com a mesma casta. A uva francesa dá-se bem no Alentejo, já sabemos, e aqui um pouco mais a norte o mesmo sucede. Não há altitude, mas existe a frescura proporcionada pelos nevoeiros matinais a que aludimos no início deste texto (por sua vez, e ao invés, a Trincadeira sofre com o mesmo fenómeno climatérico). Com abrolhamento e floração precoces, nem sempre a maturação fenólica acompanha a maturação alcoólica, sendo essencial um grande controlo da produção (poda curta de 1 olho e monda de cachos), para que o Alicante não ultrapasse as 5 toneladas por hectare, para, assim, originar vinhos com qualidade e carácter para poderem ser Furtiva Lagrima. Na adega, para onde a fruta é transportada em caixas de 15 quilos, as fermentações alcoólica e maloláctica são feitas em inox, sendo depois trasfegado para barricas novas (ou novas e usadas, dependendo do ano) de 225 litros e de diferentes tanoarias. Até à edição de 2010, o estágio incluía uma parte em carvalho americano. Ao longo dos meses provam-se as barricas para selecionar as melhores que constituirão o lote de Furtiva Lagrima.
Desde o início do projecto, e antes de Paula Bragança, passaram pela enologia os conceituados Carlos Magalhães e Susana Esteban, sendo que “a mão” de cada um (combinação de castas, escolhas de tipos de barrica) está evidente em várias colheitas do Furtiva Lagrima. Em todas as edições encontramos um vinho intenso e balsâmico, sem perder frescura ao longo das várias colheitas, e que provou evoluir muito bem em garrafa. Contudo, com a vinha a entrar numa idade já adulta, e um cada vez maior conhecimento da casta, não espanta que a edição de 2019 seja das melhores deste tinto. São 1500 garrafas de muito prazer, num perfil muito personalizado e de grande carácter.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2022)
Destaque do mês de Dezembro – Parcela Única

Editorial: O Douro das vinhas velhas

A chamadas “vinhas velhas” do Douro constituem elemento de notoriedade e qualidade que muitos dos melhores e mais conceituados vinhos da região partilham, um denominador comum, portanto. Mas nem sempre nos damos conta que essas mesmas vinhas são também aquilo que, primeiramente, os diferencia, definindo a sua singularidade e identidade. Editorial da edição nrº 68 […]
A chamadas “vinhas velhas” do Douro constituem elemento de notoriedade e qualidade que muitos dos melhores e mais conceituados vinhos da região partilham, um denominador comum, portanto. Mas nem sempre nos damos conta que essas mesmas vinhas são também aquilo que, primeiramente, os diferencia, definindo a sua singularidade e identidade.
Editorial da edição nrº 68 (Dezembro 2022)
A região do Douro foi a primeira a colocar ordem no uso da designação “vinhas velhas” na rotulagem, corrigindo um verdadeiro escândalo de publicidade enganosa. Em dezembro de 2020, o IVDP criou a menção tradicional “Vinhas Velhas”, regulamentando-a. Desde então, em traços muito gerais, para colocar o designativo na rotulagem, um produtor deverá cumprir as seguintes condições: a vinha ter mais de 40 anos de idade (avaliada pela idade média das videiras mais velhas da parcela); o rendimento por hectare não exceder 50% do máximo fixado anualmente para DOC Douro; a vinha ter, pelo menos 5.000 cepas por hectare (com tolerância de 30% para falhas – videiras mortas – e excepção das parcelas com armação pré-filoxérica, com menor densidade); apresentar um mínimo de 4 castas, com 3 delas a representar um mínimo de 25% do total; e o vinho proveniente destas vinhas ser aprovado na câmara de provadores do IVDP com nota mínima de nível 2 (equivalente a Reserva). Para além destes requisitos, o viticultor tem a obrigatoriedade de comunicar anualmente todas as alterações verificadas nestas parcelas, nomeadamente replantações ou reenxertias.
A meu ver, dever-se-ia ter ido mais longe, nomeadamente na nota mínima (passar a nível 3, equivalente a Grande Reserva, seria sensato), na idade (para a realidade vitícola do Douro, 40 anos é curto) e no número mínimo de castas existente no “field blend”. Mas este já foi um passo bastante significativo que veio acabar com grande parte do abuso. Um abuso que, curiosamente, só existe porque o consumidor associa, quase como sinónimos, “vinha velha” e qualidade acrescida. Algo que está muito longe de corresponder à realidade.
Na verdade, o que mais há no Douro são vinhas velhas de má qualidade: mal localizadas, mal tratadas, com predominância de castas de fraco valor enológico. Mas, nos casos em que “os astros se conjugam”, a vinha velha oferece qualidade e carácter inigualáveis. Os motivos são vários e conhecidos, mas aqui elenco, de forma muito simplista, os principais: inexistência de rega, originando um stress hídrico benéfico; raízes profundas, que absorvem outro tipo de nutrientes e minerais; produção muito menor, conduzindo a mais concentração em cada cacho; muitas décadas de adaptação de cada cepa ao solo, ao clima, à exposição solar – a videira “conhece” o território onde está; maior resiliência a condições climatéricas adversas; colheita e fermentação das castas misturadas, em diferentes fases de maturação, originando maior complexidade de aromas e sabores.
No entanto, bem mais do que a qualidade (uma vinha velha com 30 castas não produz obrigatoriamente melhor vinho do que uma vinha com 20 anos de idade e Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinto Cão, por exemplo), o que me fascina nas vinhas antigas do Douro é a sua singularidade. A diversidade de “field blends” que encontramos num conjunto de parcelas dispersas, com 60 ou mais anos, é absolutamente incrível, variando imenso o número de castas, suas percentagens e até a casta predominante. O resultado são vinhos imensamente distintos uns dos outros, cada um expressando a identidade da vinha onde nasceu. Juntemos a isto os vinhos de vinhas “modernas” e obtemos uma pintura duriense multicolor.
A prova de Douro tinto de topo que faz capa desta edição espelha tudo o que acima descrevi. Manoella, Vale Meão, Poeira, Quinta Nova, Duorum, Boavista, Noval, Xisto, Vale D. Maria, Leda e tantos, tantos outros, só possuem em comum duas coisas: a origem geográfica (que se traduz em alguns marcadores de aroma e sabor que nos remetem para uma dada região) e a excelência do vinho. Em tudo o resto são diferentes. E esse é o maior elogio que se pode fazer ao Douro de hoje.
Grande Prova: Espumantes de Portugal – A festa é quando alguém quiser

Não é preciso cantar os parabéns ou contar as batidas do relógio para abrir uma garrafa de espumante. Não é o espumante que é o atributo da festa, é a festa que se desenvolve em torno de uma garrafa de espumante, a qualquer momento. Se não há uma razão formal para festejar, o espumante só […]
Não é preciso cantar os parabéns ou contar as batidas do relógio para abrir uma garrafa de espumante. Não é o espumante que é o atributo da festa, é a festa que se desenvolve em torno de uma garrafa de espumante, a qualquer momento. Se não há uma razão formal para festejar, o espumante só por si já é uma, pois o pequeno fogo de artifício no copo traz o ânimo e cria o ambiente. Parafraseando Oscar Wilde, só as pessoas pouco criativas não conseguem encontrar um motivo para beber espumante.
Texto: Valéria Zeferino Fotos: Ricardo Palma Veiga
A tendência mundial é o aumento do consumo do espumante. É um tipo de vinho que harmoniza com vida, oferecendo menos álcool e mais alegria, cativando as fracções mais jovens de população.
De acordo com o relatório da OIV de 2020, os cinco maiores produtores de espumantes a nível mundial são Itália com 27% (só o Prosecco corresponde a 66% de toda a produção de espumantes italianos, a juntar Franciacorta e Trento para os consumidores mais refinados), França com 22% (Champagne, claro, mais os cremants de outras regiões como a Alsácia, Borgonha, Loire e Bordeaux), Alemanha com 14% (já agora, é o pais onde mais espumante se bebe, sendo o nacional sekt o mais consumido), Espanha com 11% (onde o Cava assume 89% de produção) e Estados Unidos com 6%, sendo a Napa Valley a liderar nesta matéria.
Fora dos “big five” o maior crescimento em termos de produção de espumantes foi registado em Inglaterra, Portugal, no Brasil e Austrália. O crescimento no nosso país representa 18% ao ano.
Em Portugal, de acordo com os dados do IVV relativamente aos vinhos espumantes e espumosos (estes últimos são vinhos gaseificados cuja efervescência é produzida pela introdução de gás carbónico) a exportação dos espumantes nacionais está a aumentar, em volume e em valor, nos últimos 6 anos (até 2020), embora o preço médio não varie muito, mantendo-se à volta dos 3,35 euros/litro.
Na Bairrada certifica-se quase 40% dos vinhos com bolhas (embora, presumo, que se desta equação retirar os vinhos espumosos, a quota de espumantes da região vai chegar aos 53% comunicados pela CVR Bairrada). Em Távora-Varosa certifica-se 25%, tendo o segundo maior peso na produção de espumantes portugueses. O Tejo aparece com quase 22% e a região dos Vinhos Verdes também tem uma palavra a dizer com a certificação de mais de 9% de vinhos espumantes.
Regiões clássicas e promissoras
Um dos pioneiros do espumante português foi o Engenheiro Agrónomo José Maria Tavares da Silva que começou aplicar o método champanhês (há algum tempo, por imposição da CIVC – Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, chamado “tradicional”) 1889-1890 como director da Escola Prática de Viticultura e Pomologia da Bairrada. E em 1893 fundou-se a Associação Vinícola da Bairrada com o objectivo produzir e comercializar “vinhos espumantes typo champagnes”, onde o Engº Tavares da Silva era director técnico. Ao mesmo tempo o enólogo da Real Companhia Vinícola do Norte, visconde de Villar d’Allen, também começa a produzir espumante. E poucos anos mais tarde as Caves Raposeira juntam-se à festa.
A seguir à Segunda Guerra Mundial foi fundada a Murganheira em Távora-Varosa, desde então o porta-estandarte desta região, demarcada em 1989.
No mundo do vinho as tradições nem sempre coincidem com a sua fixação formalizada. Na Bairrada, por ironia de destino, os espumantes só obtiveram o estatuto DOC em 1991, mas 130 anos de tradição ninguém lhes tira. Não é por acaso, que em Julho deste ano a Bairrada foi a anfitriã da primeira sessão de espumantes do reputado Concurso Mundial de Bruxelas (que, por tradição, é realizado em sítios diferentes com especialização em determinados tipos de vinhos). E os espumantes portugueses projectaram uma imagem muito boa nesta competição.
Em 1989 foi fundada em Alijó a empresa Caves Transmontanas que apostou no estudo do melhor local para plantação das vinhas e das castas mais apropriadas, com o único objectivo – criar grandes espumantes em Portugal.
A partir dos anos 1990 a região dos Vinhos Verdes entra em jogo. Com clima ameno, solos graníticos e castas com grande estrutura ácida e baixo teor alcoólico – têm todas as condições para se afirmar neste nicho. A Casa da Tapada foi a pioneira, numa altura em que os espumantes locais nem tinham direito à DO, o que só ficou possível a partir de 1999. Em Monção e Melgaço na viragem do século o Alvarinho apresentou-se numa versão efervescente pela Provam, Soalheiro e Quintas de Melgaço.
Com proliferação de “bolhas”, os vinhos espumantes têm vindo a crescer em Portugal em todas as regiões. Algumas empresas começam a produzir espumantes para completar o portefólio, mas como a prática mostra, produzir bolhas é fácil, criar um espumante de qualidade superior exige conhecimento específico e experiência.
As castas do espumante
Parece unânima a predilecção dos produtores portugueses pela Chardonnay e Pinot Noir, quando se fala dos espumante de qualidade excepcional. Mario Sérgio Nuno, da Quinta das Bágeiras, afirma que “Chardonnay dá uma cremosidade única”, por isto mesmo sendo fiel às castas bairradinas, no seu espumante Pai Abel com Bical (maioritariamente) e Cercial acrescentou 15% de Chardonnay.
Luís Pato, repetindo a experiência de plantar Baga em pé franco no solo arenoso que deu vinho excepcional, em 2015 plantou Bical (a casta que gosta muito) num terreno arenoso junto à adega e fez o primeiro espumante de grande personalidade proveniente desta vinha, numa edição ultra-limitada de 333 garrafas.
A Baga tem, naturalmente, um grande peso na Bairrada. Sendo uma casta de maturação tardia e com boa capacidade de preservar acidez, presta-se muito bem para elaboração de espumantes, sobretudo no clima da Bairrada, onde este amadurecimento traz mais uma vantagem – a estratificação de vindima em função do propósito final.
A casta Alvarinho é uma nova estrela na região de Vinhos Verdes, sobretudo em Monção e Melgaço, ainda não em termos de quantidade, mas sem dúvida, em termos de qualidade. A casta consegue juntar duas dimensões, importantes para o espumante: o volume de boca e a óptima estrutura acídica. Obviamente tem carácter varietal vincado, mas numa vindima mais precoce para espumantes, os compostos aromáticos ainda se encontram em muito menor quantidade do que mais tarde na maturação plena. Por isto é possível obter espumantes com grande equilíbrio aromático.
Nas zonas quentes, como Alentejo, o Arinto desempenha um papel importante, graças ao seu perfil aromático bastante neutro e à grande capacidade de reter ácidos.
Pedro Guedes, enólogo da duriense Caves Transmontanas, para além Pinot Noir e Chardonnay destaca o Gouveio pelo excelente equilíbrio entre ácido natural e álcool, não sendo uma casta particularmente aromática.
Mas o sítio é mais importante do que a casta – afirmam todos.
 O que é preciso garantir
O que é preciso garantir
O que não se pode subestimar para produzir um espumante de grande elegância e carácter, são as uvas e o tempo de estágio com borras. Mas há muitas pequenas nuances que podem fazer diferença no resultado.
Pode parecer banal, mas um grande espumante é antes de tudo feito com uvas e o perfil e qualidade da matéria-prima é primordial. Por um lado, as uvas que dão origem ao espumante têm de ser preferencialmente neutras nos aromas que apresentam no vinho base (a menos que se pretenda um espumante deliberadamente aromático). Por outro lado, é importante que demonstrem alguma personalidade, sendo minimamente expressivos. E o ponto de maturação é essencial. As uvas colhidas de propósito para espumante não são a mesma coisa que as uvas imaturas, que darão aromas vegetais e herbáceos. Ao invés, as uvas sobremaduras produzirão um vinho pesadão, alcoólico e aromaticamente excessivo.
Nas regiões mais frescas torna-se mais fácil conseguir este equilíbrio de maturação. Em Portugal uma moderação do clima consegue-se ou através da forte influência atlântica (Bairrada, Vinho Verde, Lisboa), ou pela altitude (acima dos 500 metros) com clima mais continental, como é o caso do Douro e Távora Varosa, onde hoje são produzidos alguns dos melhores espumantes portugueses.
A enóloga da Murganheira, Marta Lourenço, confessa que está apaixonada pela região da Távora-Varosa. Tem ali condições especiais para elaborar espumantes, onde as castas Chardonnay e Pinot Noir com 11% de álcool provável apresentam 24 g/l de ácido tartárico e pH 2,7 – valores fantásticos para a elaboração de um vinho base de espumante.
A sanidade das uvas parece estar muito distante dos copos elegantes com bolhas, mas é absolutamente indispensável. A presença de botrytis cinerea (fungo que provoca a podridão) pode ser desejável para colheitas tardias, mas pode arruinar um espumante causando um impacto negativo no aroma e nas propriedades efervescentes.
O bairradino Luís Gomes, produtor do Giz, ainda sublinha que “para quem quer produzir um bruto natural, sem adição de açúcar, a uva tem de ser muito boa, senão o espumante vai ser rude”. Tendo nível de sulfuroso baixo e teor alcoólico igualmente baixo no vinho base, para além da sanidade das uvas, a higiene na adega é um ponto fulcral , assim o define Pedro Guedes.
Prensagem, tiragem, leveduras
A prensagem das uvas é um momento importantíssimo, confirmam Marta Lourenço e Pedro Guedes. Os cachos vão inteiros para a prensa, com engaço que ajuda a drenagem, permitindo uma boa extracção a baixas pressões. Quanto mais fraccionado o mosto – melhor, permite uma gestão de lotes mais individualizada. À medida que a prensagem avança, a acidez diminui, o pH sobe e aumenta o teor de potássio e extracção de compostos fenólicos. O mosto fica menos elegante e mais susceptível à oxidação.
Marta Lorenço conta que rejeita o primeiro mosto lágrima, pois este contém sempre as impurezas, “é como se fosse lavar as uvas com o próprio mosto”. Esta fracção nunca entra nas categorias especiais. A fracção que vai logo a seguir é a melhor de todas, “produz vinhos com grande limpeza em boca”.
Para iniciar a segunda fermentação, que leva à produção de bolhas, é necessário introduzir ao vinho base licor de tiragem com leveduras e açúcar para as pôr a trabalhar. Luís Gomes está convencido de que a tiragem deve ser feita no inverno, com temperaturas ainda baixas, pois quanto mais lenta for a fermentação, mais fina fica a bolha. Se fazer a tiragem no verão, a segunda fermentação desenvolve-se muito rápido, produzindo uma bolha mais grossa.
Pedro Baptista, o enólogo da Cartuxa, faz a tiragem no início da primavera e Pedro Guedes em Maio, quando os vinhos estão a uma temperatura à volta de 14˚C pelo que não é preciso aquecê-los para arrancar a fermentação e a temperatura não está muito alta para a segunda fermentação ser demasiado rápida.
Tradicionalmente, para a segunda fermentação, usam-se as leveduras livres que obrigam aos processos típicos de remuage para a sua posterior expulsão do vinho. Este processo pode ser feito manualmente ou recorrendo a giropaletes. Já as leveduras encapsuladas (presas numa estrutura de alginato) são uma “invenção” relativamente recente. O alginato é suficientemente poroso e permeável para deixar uma troca de solutos (açúcar, álcool e outros produtos resultantes da autólise das leveduras), supostamente, eficiente entre o vinho e o interior das cápsulas. Estas leveduras encapsuladas facilitam todos os processos desde a sua introdução na garrafa até à expulsão da mesma. Ainda poupam espaço na adega, permitindo o armazenamento das garrafas em pilhas, sem necessidade de remuage manual ou o uso de giropaletes. Mas são, também, tudo menos consensuais.
Todos os enólogos com quem falei concordam que é uma solução interessante e prática para espumantes comuns e jovens, mas dispensam-na quando se entra no patamar superior. Para além de que há sempre um factor de risco associado de que algumas células de leveduras escapem do interior das esferas de alginato, contrariando as vantagens operacionais das leveduras encapsuladas. Mesmo produtores de espumante mais recentes, como a Cartuxa, torcem o nariz quando se coloca a hipótese de utilizá-las para espumantes com mais idade. Pedro Baptista confessa que os espumantes que provou com leveduras encapsuladas lhe evidenciaram menos complexidade aromática e menor volume de boca. Em resumo, existem neste momento duas (ou, melhor, três) grandes correntes nesta matéria: os que as usam para todos os espumantes; os que as usam apenas para os espumantes mais simples; e os que que não admitem um espumante “método clássico” com outras que não as leveduras livres tradicionais.
 Fermentação e estágio
Fermentação e estágio
Se a primeira fermentação para o vinho base pode ser relativamente rápida, a segunda tem de ser lenta. É aqui que se começa a produzir a tão apreciada bolha fina com CO2 que não podendo escapar, fica diluído no vinho. Pedro Guedes aponta para cerca de 6 semanas a 13-14˚C, ganhando, em média, 1 bar por semana. As leveduras introduzidas na tiragem com açúcar, não têm vida fácil. Trabalham literalmente sob pressão, no meio com acidez elevada e pH baixo e ainda por cima já com álcool de cerca de 10,5-11,5% e com pequena dose de dióxido de enxofre (que terá de ser bem medida). Por isto é importante criar para elas as condições de equilíbrio, garantindo que a fermentação não amue e, por outro lado, não se desenvolva demasiado rápido. Neste sentido, até a posição das garrafas faz diferença. Há mesmo quem as prefira na posição vertical para limitar a superfície de contacto com o vinho, prolongando assim, o tempo de fermentação.
O espumante não gosta de atalhos e apela à paciência (e estofo financeiro) do produtor, pois o tempo afina. Vários processos acontecem no vinho durante o estágio e o mais importante é autólise – desnaturação das membranas das células levurianas e degradação da sua parede celular libertando para o vinho glucanas, manoproteinas, aminoácidos, péptidos e outras substâncias que têm impacto na complexidade aromática, sensação em boca e qualidade de espuma. Mas a autólise é um processo muito lento e não ocorre nos espumantes que estagiam apenas uns meses. Um espumante feito com mesmo vinho base que envelhece durante nove meses terá um perfil muito diferente de um vinho que é envelhecido vinte meses ou mais.
Os produtores sabem disto e não dispensam o factor tempo quando se trata de um espumante de topo. Para Pedro Baptista, o estágio mínimo não pode ser inferior de 18 meses, mas com 3-4 anos já se conseguem resultados mais interessantes. Nas caves da Murganheira, Vértice e alguns produtores da Bairrada, estagiam espumantes com borras por 6-8 ou mais anos.
Em Portugal o tempo mínimo de estágio para espumantes com denominação de origem e elaboração pelo método clássico é de 9 meses. Por comparação, em Champagne, o tempo mínimo para a segunda fermentação e estágio em garrafa é de 15 meses para non-vintage e três anos para o Champagne datado. Mas em Poertugal também se caminha, progressivamente, para estágios mais prolongados. Por exemplo, para aumentar o potencial qualitativo dos espumantes com logomarca Baga/ Bairrada, a região alterou a lei inicial e determinou que, a partir de colheita de 2019, os produtores deverão respeitar o estágio de 18 meses depois da tiragem.
Para maximizar o contacto entre o vinho e as leveduras, nas barricas faz-se bâtonnage e nas garrafas de espumante faz-se poignetage – agitam-se as garrafas para pôr o sedimento em suspensão, provocando a desorganização celular e estimulando o processo autolítico, que melhora a complexidade aromática e a textura. Para as categorias especiais da Murganheira e do Vértice esse trabalho é feito 2-3 vezes por ano e, como é fácil calcular, exige muita mão-de-obra.
O nível de doçura no espumante é manipulado através de licor de expedição que é adicionado a seguir ao dégorgement. Antigamente o espumante bebia-se doce (até vinho do Porto se adicionava no licor de expedição), a tendência de hoje vem a “secar” as bolhas. Cada vez há mais produtores (Quinta das Bágeiras e o Giz, por exemplo) a fazer exclusivamente espumantes com dosagem zero, ou seja, sem qualquer adição de açúcar, apenas atestando as garrafas com o próprio vinho.
Espumante na mesa e na cave
Dada a sua acidez cintilante e sabor delicado, o espumante ganha a qualquer bebida no papel de aperitivo. Estimula o apetite e a apetência para a refeição. E há muitos espumantes, com suficiente corpo e estrutura para acompanhar toda a refeição. As bolhas não só oferecem um espectáculo dentro de um copo, criam sensação táctil em boca e transportam os aromas à superfície, onde os libertam no momento do seu colapso.
Usadas outrora, as tradicionais taças de champagne são demasiado largas e rasas para permitir às bolhas o “levantar voo” e perdem rapidamente os aromas, enquanto os flutes, sendo compridos, mostram a efervescência (e já agora permitem encher o copo com menos vinho dando a ideia de copo cheio), mas não deixam espaço para os aromas. Por isto muitos escanções e apreciadores de vinho hoje preferem usar o copo normal de vinho branco ou um flute próprio para espumantes em forma de tulipa. Em minha opinião, o espumante é muito mais interessante à mesa do que numa prova técnica, pois um simples facto de engolir (em vez de cuspir) o líquido efervescente contribui para uma plena percepção da sua cremosidade.
Ao contrário da prática habitual, as garrafas de espumante devem ser guardadas em pé, defende Marta Lourenço. Não estando em contacto com o vinho, não se alteram as propriedades mecânicas da rolha. Quando humedecida, ela não consegue expandir dentro do gargalo e o vinho deixa de estar protegido: entra o oxigénio e escapa o gás carbónico.
E como guardar um espumante depois de aberto? Não sei qual poderá ser a razão que leva alguém a não acabar uma garrafa de espumante… mas se tal acontecer, o melhor é fechar com uma daquelas rolhas que agarram o gargalo de garrafa e a fecham hermeticamente. É importante guardá-lo no frigorífico, pois com temperaturas baixas o gás carbónico fica mais diluído no vinho e conserva-se mais tempo. Mas o melhor mesmo é beber a garrafa aberta. E, como disse no início, não é preciso um pretexto. Basta querer.
(Artigo publicado na Edição de Novembro de 2022)
Johnny Graham: 50 vindimas a ouvir o Douro

Cada vindima tem a sua história, cada uma diferente da outra, e se forem 50 então dá um romance. A olhar o rio e sentados na varanda da Quinta da Gricha fomos ouvir o muito que Johnny Graham tem para contar sobre uma vida dedicada ao Porto e ao Douro. Texto: João Paulo Martins […]
Cada vindima tem a sua história, cada uma diferente da outra, e se forem 50 então dá um romance. A olhar o rio e sentados na varanda da Quinta da Gricha fomos ouvir o muito que Johnny Graham tem para contar sobre uma vida dedicada ao Porto e ao Douro.
Texto: João Paulo Martins Fotos: Churchill Graham e Luís Lopes
“As quintas da Água Alta, Fojo e Manoella foram a fonte de uvas para os primeiros vinhos da Churchill Graham’s que foi, recorde-se a única empresa criada de raiz em 50 anos.”
Chegámos à quinta da Gricha ao final da tarde. Para se alcançar esta propriedade, que fica na margem esquerda do rio, acima do Pinhão e antes de se chegar à foz do Tua, percorremos uma estrada que, como se diz em Lisboa, parecia o Rossio às seis da tarde. O que acontece é que esta é a estrada que dá acesso a várias quintas, todas vizinhas umas das outras, e os nomes são todos sonantes: quinta de S. José, quinta de Roriz, quinta do Pessegueiro, quinta das Tecedeiras; mais à frente quinta da Vila Velha que pertenceu a James Symington. Foi então aqui, neste “coração” do Cima Corgo, que se materializou o sonho de Johnny Graham de ter uma quinta própria. Foi a minha segunda visita à propriedade, mas já lá vamos. Deixem-me jantar primeiro que ao saber que seria a cozinheira Fernanda a elaborar a refeição fiquei sem capacidade de raciocinar. É que a fama dela vem de longe e a sopa de lombardo trouxe-me à memória o que de melhor tenho no arquivo mental de sopas campestres; simplesmente divinal, aqui melhorada pela “técnica Churchill” de colocar uma colher de sopa de molho picante para alegrar e espevitar o conjunto. O molho é feito em casa, com o piri-piri colocado numa garrafa a que se junta Porto branco; deixa-se macerar um mês e só depois é usado. As várias garrafas na mesa dizem-nos que é prática habitual. Coisa séria. Noutro momento, as míticas pataniscas, a deixarem-me meio envergonhado, logo eu que até pensava que fazia umas boas pataniscas…
“A quinta da Gricha dispunha de vinhas velhas mas, sobretudo visando a produção dos novos vinhos, foram plantadas parcelas de Touriga Nacional e Touriga Francesa.”
Johnny Graham recebeu-nos na varanda sobre o Douro que é, na minha modesta opinião, a melhor parte da casa. Todo o interior foi remodelado e, da primeira para a segunda visita, foi notório que o bom gosto inglês marcou aqui presença: manteve-se o espírito da casa e da região, melhorou-se o que era de melhorar. Parece simples, mas é muito mais complicado do que se pensa. Ao longo das duas refeições que tivemos na quinta, Johnny fez questão de ir servindo alguns dos vinhos que fazem parte do arquivo da casa: branco de 2012, tinto de 2005, vintage 1985 e 1982, este o primeiro elaborado pela empresa criada em 1981. O ponto vínico mais alto de toda a visita foi o Graham 1966, o último feito pela sua família, provavelmente na quinta dos Malvedos, antes da empresa ser vendida à Symington. O 66 foi um ano clássico e este vintage disse-nos porquê, todo ele em elegância, em perfeita definição de fruta, com um balanço incrível ente polimento e concentração.
Recuemos então no tempo. A família de Johnny estava ligada ao vinho do Porto desde a primeira metade do séc. XIX, tendo vindo da Escócia para negociar em têxteis. Ele nasceu e cresceu nos lagares, no meio das rogas da vindima, a olhar para o rio ainda sem barragens e a ver os barcos rabelo a serem puxados à sirga, rio acima. Um tempo longínquo que a nova “arquitectura” da região mudou em definitivo. Quando chegou à altura de abraçar a profissão, Johnny percorreu um traçado variado, trabalhou na Cockburn’s de 1973 a 80 onde aprendeu com um dos nomes míticos do sector do Porto na segunda metade do séc. XX, John Smithes. À época ninguém falava de DOC Douro, de vinhos não fortificados ou, se se quiser, em “vinhos de pasto” como também eram conhecidos. Era de vinho do Porto que se falava. Mas a venda da Graham em 1970 deixou Johnny com a vontade de fazer a sua própria companhia, tarefa difícil uma vez que, para constituir uma empresa exportadora era preciso constituir um stock de 300 pipas de Porto, qualquer coisa como 150 000 litros. Difícil? Não, apenas praticamente impossível. Actualmente aquela quantidade baixou para metade, o que continua a ser muito complicado, ainda que não impossível. Mas Johnny arregaçou as mangas e contou com a colaboração do grande lavrador duriense Jorge Borges de Sousa que tinha um enorme stock de vinhos e que permitiu que a empresa arrancasse. E com a boa vontade de amigos que entraram para sócios, reuniu-se o capital necessário.
De Borges de Sousa até à Gricha
As quintas da Água Alta, Fojo e Manoella foram a fonte de uvas para os primeiros vinhos da Churchill Graham’s que foi na época, recorde-se, a única empresa criada de raiz em 50 anos. Não podendo usar a designação Graham para baptizar a empresa, por razões óbvias, o nome do célebre estadista britânico foi ser escolhido por via do apelido da mulher de Johnny. Nasceu então o primeiro vintage Churchill em 1982.
A história da empresa foi assim baseada nestas fontes de matéria prima durante década e meia. Com a morte de Borges de Sousa e sem acesso a propriedades fornecedoras de uvas uma vez que as três quintas foram divididas pelos herdeiros, colocou-se a questão de adquirir uma quinta e é assim que a Gricha chegou ao património Churchill em 1999. Com 50 ha de área e 40 de vinha estavam reunidas as condições para arrancar com vinhos de quinta e iniciar também a produção de DOC Douro, além de poder também fazer um Vintage de quinta. A propriedade dispunha de vinhas velhas mas, sobretudo visando a produção dos novos vinhos, foram plantadas parcelas de Touriga Nacional e Touriga Francesa, as novas coqueluches dos vinhos tintos da região. Mantiveram-se os lagares, datados de 1852 e é lá que, teimosamente, Johnny e Ricardo Nunes, o enólogo da casa, continuam a fazer os vinhos do Porto, sempre com pisa a pé. Ricardo confessa-nos que “enquanto for possível obter mão de obra vamos manter este sistema, costumamos ter um grupo que vem todos os anos fazer a pisa. Já no caso dos vinhos DOC optamos por fazê-los em S. João da Pesqueira.”
Desfiando histórias e memórias, a conversa com Johnny é fácil. Com ele partilhamos a paixão pelo vinho do Porto e pelo Douro. Só se torna difícil quando ele nos tenta convencer das maravilhas da sua outra paixão, o cricket, o tal desporto que ninguém aqui entende e que, ao fim de dois dias de jogo, ainda pode estar empatado. Ficamos contentes de saber que foi capitão da selecção portuguesa mas fica-nos a dúvida sobre onde foi buscar jogadores para constituir uma equipa, em terras onde os adeptos gostam mais de futebol do que da família (Johnny, isto é uma graçola…). Gostos…
O motivo do nosso encontro foi a comemoração das 50 vindimas de Johnny Graham, agora com a filha Zoe totalmente envolvida no projecto. Com o surgimento dos vintages Quinta da Gricha, com o primeiro a aparecer em 1999, o portefólio alargou-se. São vinhos totalmente diferentes, o Churchill mais clássico, bastante fechado em novo, e o Gricha mais elegante, talvez mais fino e com grande harmonia, mais preparado para ser consumido quando jovem.
Os vinhos têm agora nova apresentação e o momento foi também aproveitado para lançar um fantástico tawny 40 anos, uma estreia da casa em vinhos desta idade.
Cinquenta vindimas são muitas vindimas, são muitas noites mal dormidas e, actualmente, muito consulta a tudo quanto é site de informação meteorológica. Muito dificilmente iremos ouvir Johnny Graham falar de uma vindima igual a outra. Provavelmente o fascínio da profissão é exactamente nunca se saber o que vai acontecer até que as últimas uvas entrem na adega. E Johnny e a sua família têm tudo para continuar a olhar o futuro com esperança e optimismo.
Escolha da Imprensa 2022: Veja aqui os resultados

Estão apurados os resultados do “Concurso escolha da Imprensa 2022”. Veja AQUI os vencedores e os premiados de todas as categorias.
Estive Lá: Bomfim 1896 with Pedro Lemos

Com o “Bomfim 1896 with Pedro Lemos” a oferta gastronómica do Douro, carente em muitos aspectos, ficou bem mais composta. À vasta experiência enoturística da família Symington une-se o reconhecido talento e criatividade de Pedro Lemos, tudo isto num espaço de sonho, pensado de raiz, janela aberta para o rio. Só pode dar certo. Texto: […]
Com o “Bomfim 1896 with Pedro Lemos” a oferta gastronómica do Douro, carente em muitos aspectos, ficou bem mais composta. À vasta experiência enoturística da família Symington une-se o reconhecido talento e criatividade de Pedro Lemos, tudo isto num espaço de sonho, pensado de raiz, janela aberta para o rio. Só pode dar certo.
Texto: Luís Lopes Fotos: Symington Family Estates
Associada à Dow’s, a Quinta do Bomfim é considerada o berço da família Symington no Douro, merecendo de todos os seus membros uma atenção muito especial. A ligação não é só emocional, a quinta também faz por a merecer. Não apenas pelos vinhos que origina, mas também pela sua beleza natural e localização privilegiada. Num Douro em que as distâncias são, muitas vezes, maiores do que parecem, Bomfim está logo ali, à beira-rio, no final da N222, estrada que liga a Régua ao Pinhão e que alguém já apelidou como a mais bela do mundo.
Fazer ali um restaurante de topo é tentação impossível de resistir. Frederico Mourão, director de enoturismo da Symington não esconde a ambição: “queremos ter o melhor restaurante do Douro”. Para lá chegar, a família Symington conquistou a assessoria de Pedro Lemos e iniciou o percurso com uma espécie de “ensaio geral”, chamado Casa dos Ecos. Montado em quatro semanas e inaugurado em 2019 numa casa situada no alto da Quinta do Bomfim, era para ser um pop-up sazonal Pedro Lemos, destinado a operar apenas na época alta. Mas o enorme sucesso alcançado obrigou ao seu prolongamento no tempo, o que acabou por ser muito importante para formar e manter pessoal enquanto o “Bomfim 1896 with Pedro Lemos” tomava forma.
O novo restaurante Symington abriu no passado dia 10 de junho, após três anos para requalificar e equipar o espaço, o piso superior de um antigo armazém de vinhos (construído, precisamente, em 1896), com magníficas vistas sobre o rio Douro. Mas a sala panorâmica onde se cozinha e come é apenas, literalmente, a ponta do iceberg. Abaixo da superfície está lá tudo o que encontramos nos bastidores de um grande restaurante: despensas, circuitos de entradas e saídas de produtos, câmaras de frio, vestiários, cozinhas de preparação (aqueles locais onde, por exemplo, se cozinham bases durante longas horas ou descascam legumes), equipamentos sofisticados, tudo o que se possa imaginar.
Pedro Lemos e Frederico Mourão descrevem a Casa dos Ecos (que vai reabrir, sazonalmente), como um espaço “de partilha, a cozinha dos caseiros”; já o Bomfim 1896 é o “espaço onde a família da quinta recebe os seus convidados”. A cozinha assenta exclusivamente em forno de lenha e Pedro Lemos revisita o receituário tradicional para criar pratos clássicos, a partir de produtos da época, da terra e do mar. Durante a visita, tive oportunidade de degustar alguns dos pratos desta primeira carta, incluindo “enguia fumada com brioche, maçã e rabanetes” (textura perfeita, intenso e delicado ao mesmo tempo); “vieiras, espargos, beurre blanc” (sal, iodo, amargos vegetais, belo contraste); “arroz cremoso de lavagante” (perfumado, imensamente saboroso, vai tornar-se, certamente, um clássico da casa); “sundae, chocolate e Porto” (complexo, fumado, uma sobremesa de topo). Aberto de terça a sábado, ao almoço e jantar, o “Bomfim 1896” possui uma garrafeira com cerca de 300 referências, onde a exclusividade Symington se aplica apenas aos Porto, estendendo-se a carta a muitos outros produtores do Douro e de outras regiões. A refeição termina com um cheiroso café de balão e um cálice de tawny 10 anos, descansando o olhar no rio, ali em frente.
 (Artigo publicado na edição de Outubro de 2022)
(Artigo publicado na edição de Outubro de 2022)