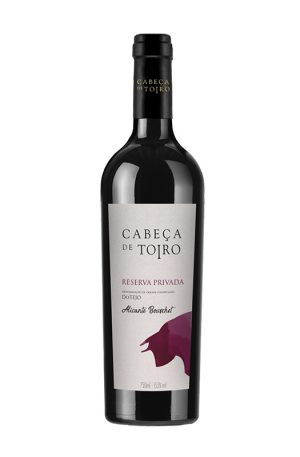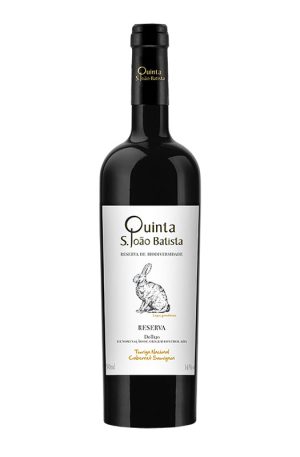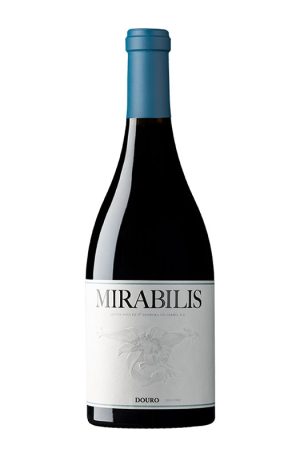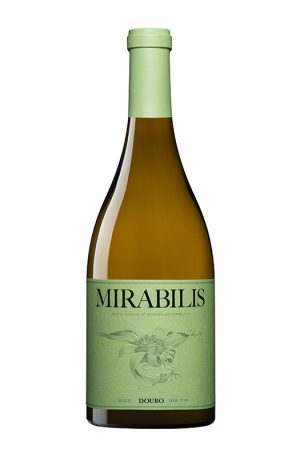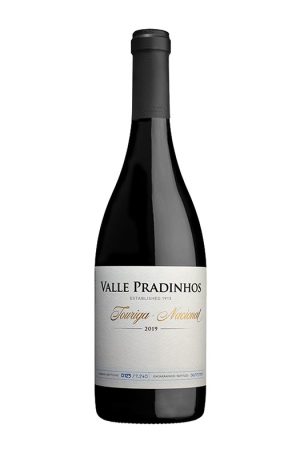Adega do Cartaxo: A aposta está nos “detalhes”

Com uma produção anual na ordem dos 7 milhões de litros, provenientes de uma área de vinha que no conjunto dos seus associados totaliza cerca de 700 hectares, a Adega do Cartaxo, tem feito um esforço consistente na sua modernização tecnológica, na melhoria das instalações e um forte investimento tanto no acompanhamento da viticultura como […]
Com uma produção anual na ordem dos 7 milhões de litros, provenientes de uma área de vinha que no conjunto dos seus associados totaliza cerca de 700 hectares, a Adega do Cartaxo, tem feito um esforço consistente na sua modernização tecnológica, na melhoria das instalações e um forte investimento tanto no acompanhamento da viticultura como nos processos enológicos. Sem descurar os seus valores tradicionais assentes em marcas históricas com forte implantação como o Bridão e Coudel Mor, às quais com o tempo foram adicionando upgrades como as categorias Reservas e Special Selection, os responsáveis da adega sentiram a necessidade de captar novos mercados e um outro perfil de consumidor, mais urbano e sofisticado, com vinhos que respondessem melhor a esses requisitos. É dentro desta estratégia que se insere o lançamento da nova marca Detalhe, nas suas versões branco e tinto. E a aposta não foi deixada ao acaso, o que se torna evidente nos cuidados especiais que rodearam a sua apresentação, onde a imagem global e a rotulagem dos Detalhes entregues à designer Rita Rivotti, alinha nesse desiderato.
O Detalhe branco 2021, feito a partir de uvas Verdelho e Sauvignon Blanc, fermentadas em barricas de 500 litros de carvalho francês e com um curto estágio de 4 meses com bâtonnage conjuga a intensidade aromática de notas tropicais do Sauvignon com a frescura e o nervo do Verdelho, resultando um conjunto bem afinado e de aceitação generalizada. Já o Detalhe tinto 2019, resulta de um lote de Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon. Beneficiou de 10 meses de estágio em barricas, completado com mais 9 meses em garrafa. Também aqui estamos muito longe da rusticidade com que alguns consumidores persistem em associar aos vinhos do Cartaxo. Pelo contrário, é também um vinho polido, equilibrado, com boa fruta, taninos domesticados em que o elevado grau alcoólico (15%) é contrabalançado pela sua frescura.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Quinta S. João Batista: Por terras do “Bairro”

Estamos em terras cheias de história, com vinhas de boa dimensão e no centro de um “condomínio aberto” de cegonhas que sobrevoam os vinhedos a todo o momento. Poderíamos ter tido a sorte de ver lebres (parece que há muitas, mas não se dignaram aparecer) mas as perdizes mostraram que a guarda do ninho é […]
Estamos em terras cheias de história, com vinhas de boa dimensão e no centro de um “condomínio aberto” de cegonhas que sobrevoam os vinhedos a todo o momento. Poderíamos ter tido a sorte de ver lebres (parece que há muitas, mas não se dignaram aparecer) mas as perdizes mostraram que a guarda do ninho é levada muito sério, apesar do ruído do comboio, cuja linha do Norte atravessa a quinta. Estamos então nas cercanias de Torres Novas, onde fica a quinta de S. João Batista. As primeiras referências remontam ao séc. XV, mas a história mais recente, para o tema que nos interessa, começa no séc. XIX quando aqui se criavam cavalos, burros e bois para exportação, na então chamada Quinta de Caniços. Em 1898 João Batista de Macedo comprou a Quinta dos Caniços e rebaptizou-a com o nome que mantém até hoje. Com negócios em S. Tomé, construiu aqui casa de traça colonial (já usada para gravações de novelas) e jardim de palmeiras que lhe lembravam a África longínqua. Na divisão do património, após a morte de viúva, em 1939, uma das três filhas ficou com esta quinta, tendo outra propriedade adoptado o nome original de Quinta de Caniços.
NA ZONA DO “BAIRRO”
A quinta tem 145ha de área e 125 de vinha. A casa, de bonita traça, mas em avançado estado de degradação, vai requerer renovação profunda. Seja para futuras novelas seja para projectos mais completos de enoturismo. A propriedade fica localizada perto da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo e do rio Almonda, o que condiciona o clima da zona. A quinta está inserida na sub-região do Bairro, ou seja, terras a norte do rio Tejo, onde dominam solos argilo-calcários. Nesta quinta existem também parcelas de solos arenosos e de calhau rolado. A diversidade permite, assim, a localização específica de cada variedade de uva.
Com solos ricos e clima ameno, estão criadas as condições que facilitam a produção de vinhos de qualidade. Dispõe também de uma impressionante nave de barricas para estágio de vinhos — construída a partir de 1902 — ainda que os que ali estagiam não sejam desta quinta. A propriedade foi adquirida pelas Caves Dom Teodósio (integrada no grupo Enoport) em 1989.
A vinha já existia, mas, como nos diz João Vicêncio, o responsável da viticultura que nos conduz na visita à vinha, “o Castelão que cá havia era de clones excessivamente produtivos que facilmente geravam 16 a 18 toneladas de uva por hectare. As reconversões iniciaram-se em 2000 e agora dispomos de Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet, Syrah, Castelão.” Nos brancos há Fernão Pires, Chardonnay, Antão Vaz e Sauvignon Blanc e mantiveram-se algumas parcelas de vinhas velhas de Castelão, Trincadeira e Fernão Pires. O tiro na mouche, segundo João Vicêncio, “foi mesmo o Syrah, uma casta que se adaptou perfeitamente a estes solos e clima; o Fernão Pires, por exemplo, é aqui muito menos produtiva do que em Almeirim, é uva de bago pequeno e baixa produção, originando um branco diferente do habitual na região”.
Outra variedade que aqui mostrou boa adaptação foi a Alicante Bouschet que facilmente chega às 12 toneladas por hectare. Ao contrário do que é comum em quase todo o país, a casta Arinto parece menos bem-adaptada, é demasiado tardia. Já quanto ao Antão Vaz “ainda não temos opinião”, refere o viticólogo, “só agora vai começar a produzir; o Cabernet Sauvignon é muito bom mas curiosamente é o mais tardio em tudo (abrolhamento, pintor) mas o primeiro a ser vindimado. Até decisão em contrário, estas são as castas com que por aqui se vai continuar a trabalhar.” Quando, e se houver, alargamento da área de vinha, logo se verá, até porque a quinta ainda dispõe de uma pequena parcela de Marselan, casta introduzida em tempos pelo enólogo Osvaldo Amado.
AMIGA DO AMBIENTE
As práticas agrícolas são cada vez mais amigas do ambiente. Abandonaram os herbicidas, usam rega na vinha, só utilizam os produtos aconselhados numa reconversão para bio que vai agora no 2º ano. A zona é mais fustigada pelo míldio do que oídio e estão a usar também novas soluções (como óleo de laranja incorporado nos produtos para pulverizar a vinha) para combater afídios. A “intenção bio” choca, no entanto, com a legislação, uma vez que esta impede que uma empresa tenha parte em bio e parte em convencional, mesmo que em regiões diferentes. No caso da Enoport, e estando estas quintas muito longe entre si, não se pode ser bio em S. João Batista e convencional em Bucelas, por exemplo. Segundo a lei, num mesmo número de contribuinte ou é tudo bio ou não há certificação, não pode ser apenas parte. Vários produtores têm assim optado pela criação de novas empresas onde figurem apenas as parcelas bio.
A vindima é mecânica e o facto de a adega estar ao lado da vinha permite um ganho em termos de tempo de chegada das uvas à vinificação, além da possível vindima nocturna. Os terrenos planos desta zona do Tejo também ajudam.
Ainda que dispondo de algumas parcelas de vinhas velhas, não há uma comercialização de vinhos com aquela indicação, como nos diz Nuno Faria, o enólogo. Usam-se estes vinhos das vinhas mais antigas para completar os lotes. O futuro está em aberto, não só porque existem intenção de alargar a área da quinta com aquisições de parcelas contíguas, como o facto de terem castas que só agora se estão a começar a mostrar, haverá muito por escolher e decidir.
Dos vinhos que provámos há a salientar que o Grande Reserva branco está já esgotado na empresa e que a próxima edição será de 2020, a sair a todo o momento para o mercado. Também a nova edição do vinho de lote de Touriga Nacional/Cabernet Sauvignon espera pacientemente a decisão sobre o momento em que estará disponível para o público. O tinto Cabeça de Toiro, que já está engarrafado e até já foi premiado em concurso, irá para o mercado no final do Verão.
Um produto de grande tradição herdado do portefólio das Caves Dom Teodósio é a aguardente Fim de Século que continua a ser um destilado de sucesso que ainda corresponde a 70 000 garrafas/ano. As outras marcas que faziam parte do portefólio Dom Teodósio deixaram de ser usadas.
No Outono sairá uma edição especial que inclui um licoroso e uma aguardente velha de superior qualidade, da qual têm em stock 1900 litros certificados. A pensar no futuro deste produto de luxo foram enviados este ano 62 mil litros para destilar. Esperam receber cerca de 10 mil litros que depois envelhecerão longamente nas caves. Quando chegarem ao mercado, falaremos então com mais detalhe sobre estes dois novos produtos, mas a prova feita agora revelou-se bastante impressionante. Aguardemos pois.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Mirabilis: Nascidos no Douro, feitos com Mundo

Dez anos antes destes vinhos serem feitos, em 2011, nasciam os primeiros Mirabilis, fruto do “sonho de criar um branco fora de série e um tinto disruptivo para o Mundo”, relembra Luísa Amorim, “um Douro que não se prendesse aos muros da Quinta Nova ou exclusivamente à tradição da região, num perfil mais internacional”. Em […]
Dez anos antes destes vinhos serem feitos, em 2011, nasciam os primeiros Mirabilis, fruto do “sonho de criar um branco fora de série e um tinto disruptivo para o Mundo”, relembra Luísa Amorim, “um Douro que não se prendesse aos muros da Quinta Nova ou exclusivamente à tradição da região, num perfil mais internacional”.
Em Maio, no Depozito, espaço de artesanato tradicional e contemporâneo em Lisboa, foram lançadas as edições de 2021, que surgem hoje com mais maturidade do que as antecessoras, por várias razões: o branco sai com mais tempo de estágio, e o tinto com um perfil aprimorado na elegância e selecção ainda mais minuciosa das barricas. Luísa Amorim dá-nos uma perspectiva bastante humana do processo de criação: “Quando somos muito novos, achamos que o mundo vai acabar amanhã, que temos de pôr as coisas cá fora rapidamente para provar o que valemos. Hoje, estamos noutra fase da vida, com mais maturidade e sabedoria, com ainda mais certeza do que queremos. Ao mesmo tempo, temos de ser muito conscientes e certeiros, fazer os vinhos com cuidado, porque hoje as exigências do mercado são outras, e Portugal cresceu em qualidade”.
Para Ana Mota, responsável de viticultura da Quinta Nova, 2021 foi um ano difícil para a vinha, mas, por outro lado, tendo perícia para ultrapassar as dificuldades, acabou por ser, como diz a própria, “uma dádiva”. “Foi um ano vitícola bastante chuvoso, com temperaturas amenas, e por causa disto os fungos deram-nos muito trabalho, mas conseguimos, com cuidado, trazer boas uvas para adega. Foi preciso estarmos muito atentos à vinha. Na vindima, tivemos de ter muita paciência, por causa da chuva”, descortina Ana Mota. Quanto ao Mirabilis branco, Ana Mota revela, contente, “cada vez mais, temos os nossos viticultores parceiros, das uvas brancas, a querer continuar com o nosso projecto, o que nos dá estabilidade. Além disso, da colheita de 2022 teremos mais algumas garrafinhas do branco, porque conseguimos mais 1,3 hectares de uma vinha muito velha, com características para Mirabilis”.
A complementar a perspectiva da viticultura, Jorge Alves, director de enologia, também considera que 2021 foi um ano de excelência: “Foi magnífico por vários motivos, trouxe-nos vinhos brancos mais minerais, intensos e com uma acidez bastante cintilante. A vindima foi um pouco mais tardia, o que não tem mal nenhum, excepto a parte das borboletas no estômago com medo dos apodrecimentos, até porque as uvas tiveram tempo extra de maturação, o que é importante para a combinação final. Foi também um ano em que os equipamentos deram um jeito enorme, mesas de triagem e tapetes de escolha ajudaram-nos a criar estes vinhos de enorme pureza aromática e gustativa”, afirma o enólogo.
O Mirabilis branco 2021 tem origem em vinhas velhas de altitude, muito ricas em Gouveio e com algum Viosinho, entre outras castas. Fermenta e estagia em barricas de carvalho francês e húngaro de 300 litros, 80% das quais, novas, com bâtonnage quinzenal. “O estágio de um ano em garrafa adiciona-lhe textura”, acrescenta Jorge Alves. Já o Mirabilis tinto 2021 tem a sua génese numa vinha a 10 metros da adega da propriedade da família Amorim, e traduz-se num lote de Tinta Amarela, em grande percentagem, com vinha centenária. Vinificado sem engaço, estagia 12 meses em barrica nova de carvalho francês e 5 meses em garrafa. “Este é o vinho mais ‘afrancesado’ da Quinta Nova, muito vegetal, mentolado, texturado. Provavelmente, é o nosso tinto com mais tensão e nervo, que fica mais no final de boca e envelhece de forma muito subtil. É um projecto lindíssimo”, confessa o enólogo.
A equipa da Quinta Nova aproveitou, ainda, o momento de lançamento destes vinhos para anunciar algumas novidades ao nível da vinha e da adega. Além de novas plantações com castas mais adaptadas às alterações climáticas, e de ajustes na geometria da vinha para maior adaptação a máquinas, uma experiência inovadora com o objectivo de combater a seca que se tem verificado no Douro: “Não fossemos nós produtores de cortiça… fizemos, nas vinhas centenárias, uma descava profunda e estamos a colocar aí uma quantidade muito significativa de granulado de cortiça. A cortiça é isolante térmica, e consegue reter água e humidade no solo durante mais tempo. Com a água da chuva, incha e faz um efeito tampão, retendo a humidade”, avança Ana Mota. Luísa Amorim, por sua vez, levantou o pano ao projecto da nova adega, que se encontra já numa fase bastante avançada. “Apenas ficaram as paredes, não restou uma peça interior nem um pavimento. Tudo isto para virmos a ter ainda melhores vinhos”, garante a administradora. A vindima de 2023 já será feita nesta nova adega.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Cinco Moscatéis de Setúbal no top 10 do concurso Muscats du Monde

Os produtores de Moscatel de Setúbal Venâncio da Costa Lima, Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões e Bacalhôa Vinhos de Portugal voltaram a figurar no Top 10 do Concurso Internacional Muscats du Monde. A 23ª edição desta competição decorreu nos dias 20 e 21 de Junho, na localidade de Entre-Vignes, na região francesa de Occitânia. […]
Os produtores de Moscatel de Setúbal Venâncio da Costa Lima, Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões e Bacalhôa Vinhos de Portugal voltaram a figurar no Top 10 do Concurso Internacional Muscats du Monde. A 23ª edição desta competição decorreu nos dias 20 e 21 de Junho, na localidade de Entre-Vignes, na região francesa de Occitânia.
Durante os dois dias do concurso, foram provados 167 moscatéis oriundos de 17 países, por mais de 55 jurados internacionais, que atribuíram 55 medalhas, 29 de Ouro e 26 de Prata.
Destacam-se, ainda, as medalhas de Ouro da Casa Ermelinda Freitas, com o seu Moscatel Roxo de Setúbal 2010, e da Venâncio da Costa Lima, com o Rubrica Reserva Moscatel de Setúbal 10 Anos; e as medalhas de Prata da Venâncio da Costa Lima, com o Moscatel de Setúbal Reserva da Família 5 Anos, e da Adega Camolas, com o Moscatel de Setúbal Reserva Barrel Aged 2019.
Para o presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, Henrique Soares, as distinções obtidas no Concurso Muscats du Monde são o reconhecimento das características naturais da região para a produção deste generoso: “O reconhecimento obtido no Concurso Internacional Muscats du Monde, a consistência e o número de medalhas obtidas ao longo dos últimos 15 anos, num concurso com esta dimensão e prestígio, têm tido grande importância para a Península de Setúbal e para a sua histórica Denominação de Origem (no ano em que se contam 116 anos da sua criação), afirmando de forma inequívoca a qualidade dos vinhos generosos que aqui se produzem há séculos e que estiveram na origem da demarcação da região em 1907”.
Muscats du Monde 2023 – Resultados Vinhos Península de Setúbal:
TOP 10 | Ouro – VENÂNCIO DA COSTA LIMA Moscatel de Setúbal Venâncio Costa Lima 2019
TOP 10 | Ouro – COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTO ISIDRO DE PEGÕES Moscatel Roxo de Setúbal Contemporal 2013
TOP 10 | Ouro – BACALHÔA VINHOS DE PORTUGAL Moscatel de Setúbal Superior 20 anos 2000
TOP 10 | Ouro – COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTO ISIDRO DE PEGÕES Moscatel Roxo de Setúbal Pingo Doce
Top 10 | Ouro – COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTO ISIDRO DE PEGÕES Moscatel de Setúbal Pingo Doce
Ouro – CASA ERMELINDA FREITAS Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010
Ouro – VENÂNCIO DA COSTA LIMA Moscatel de Setúbal Rubrica 10 anos Reserva
Prata – VENÂNCIO DA COSTA LIMA Moscatel de Setúbal Reserva da Família 5 anos
Prata – CAMOLAS & MATOS Moscatel de Setúbal Adega Camolas Reserva Barrel Aged 2019
Grande Prova: Trás-os-Montes – A última fronteira

Trás-os-Montes é um território vitivinícola bem determinado no nordeste do nosso país, delimitado pelas cadeias montanhosas do Gerês, Cabreira, Alvão e Marão. Com Espanha a fazer fronteira a este e a norte, a região estende-se a noroeste até Montalegre e a sul até às cercanias de Alijó e Vila Real, ou seja, mesmo junto à […]
Trás-os-Montes é um território vitivinícola bem determinado no nordeste do nosso país, delimitado pelas cadeias montanhosas do Gerês, Cabreira, Alvão e Marão. Com Espanha a fazer fronteira a este e a norte, a região estende-se a noroeste até Montalegre e a sul até às cercanias de Alijó e Vila Real, ou seja, mesmo junto à Região Demarcada do Douro. Para lá de Miranda do Douro, ou seja, já do outro lado da fronteira, a região de Arribas (del Duero) está muito próxima, e a mais badalada Toro também não se dista muito.
Ainda em Espanha, mas agora a norte, encontramos as regiões de Monterrei, Valdeorras e a crescentemente cobiçada Bierzo. Não se estranha, portanto, que a tradição ibérica da viticultura e vinificação esteja bem implementada em Trás-os-Montes, lugar remoto e apaixonante, onde a natureza felizmente ainda impera. Prova disso são os magníficos lagares rupestres espalhados pela região, testemunhas dos tempos romanos e pré-romanos. Aliás, a este respeito, cumpre elogiar a recente certificação da produção de vinhos em Lagares Rupestres, sendo esta designação exclusiva para a região, existindo actualmente no mercado 5 vinhos produzidos por esta metodologia, devidamente certificados como tal. Contudo, apesar deste legado, a demarcação de Trás-os-Montes como DO de vinhos é recente.
Primeiro, em 1989, Valpaços, Planalto Mirandês e Chaves, foram reconhecidos como indicação de proveniência regulamentada. Depois, em 1997, foi criada a Comissão Vitivinícola Regional. Já no novo milénio, mais propriamente em 2006, surgiu o reconhecimento como DO, precisamente com os referidos 3 territórios como sub-regiões DOC (ou seja, Valpaços, Planalto Mirandês e Chaves) com ligeiros ajustes de áreas e circunscrições. Actualmente, são 10.000 hectares de vinha, num espaço onde, como nos confirmou Rui Cunha — enólogo na região há 25 anos, sempre no produtor Valle Pradinhos — o minifúndio ainda impera e as tradições na vinificação, com maior ou menor conservadorismo e até amadorismo, são a regra. Com efeito, falamos de apenas 1.100 hectares de vinha cadastrada e certificada para a produção da DO (inclui IG Transmontano), representando a actividade de nada menos que 3.000 viticultores e 4 adegas cooperativas, o que dá, naturalmente, uma média de vinha muito pequena por produtor.
A região produz maioritariamente vinhos tintos, sendo os brancos apenas 1/3 de todo o vinho produzido, e os rosés, tal como os espumantes e licorosos, practicamente residuais. As principais castas usadas para a sua produção, são, no caso das tintas que nos interessam mais para este texto, Tinta-Amarela, Bastardo, Touriga-Nacional, Tinta-Roriz e, com menor expressão, Tinta-Barroca e Tinta-Carvalha. Ainda para Rui Cunha, que conhece bem as sub-regiões de Valpaços e Planalto Mirandês, o desafio da região de Trás-os-Montes é esse mesmo: conseguir aproveitar o fantástico património vitícola de que dispõe, o que implica maior formação de todos os intervenientes e maior divulgação das suas particularidades. “O resto, ou seja, a excelência da matéria-prima, está lá” diz-nos orgulhosamente. Outro enólogo há muitos anos na região é Francisco Gonçalves, técnico que começou no Douro, mas que assessora agora diversos produtores em Trás-os-Montes, tendo inclusivamente escolhido a região, e Montalegre em particular, para fundar o seu projecto pessoal. Tal como Rui Cunha, concorda que a região tem um potencial impressionante, e que bastaria alguma modernização, na viticultura e enologia, para que rapidamente fosse mais reconhecida. Diz-nos mesmo que os vinhos brancos dos terroirs graníticos transmontanos mais frescos podem vir a ser dos melhores do país, mas isso ficará para outro texto, pois aqui falamos de tintos.
 Comecemos, então, pela distinção mais tradicional da região de Trás-os-Montes, que é entre a ‘Terra Fria’ e a ‘Terra Quente’. Da primeira, em maior altitude (a vinha mais alta está plantada a uma cota de 1070m em Montalegre) e com verões mais temperados e frescos, fazem parte os concelhos situados ao longo da fronteira nordeste com Espanha (de Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda e Mogadouro), sendo Vidago um dos principais centros vinhateiros, excelente para vinhos frescos e com bastante acidez natural. A fama dos vinhos da sub-região de Chaves (inserida na ‘Terra Fria’), capazes de corrigir naturalmente (entenda-se: contribuir com acidez) vinhos de outras regiões é antiga, sobretudo em brancos e bases para espumantes. Na transição para a ‘Terra Quente’ encontramos Macedo de Cavaleiros, outro polo vinícola, que alberga o produtor Valle Pradinhos já referido. Com solos de natureza mais xistosa, altitudes que raramente ultrapassam os 500m, e com maior influência do vale do rio Douro, a ‘Terra Quente’ é caracterizada pelos verões escaldantes. Alguns dos mais relevantes concelhos que englobam a sub-região são Mirandela, Murça (parte), Vinhais, e o próprio Valpaços.
Comecemos, então, pela distinção mais tradicional da região de Trás-os-Montes, que é entre a ‘Terra Fria’ e a ‘Terra Quente’. Da primeira, em maior altitude (a vinha mais alta está plantada a uma cota de 1070m em Montalegre) e com verões mais temperados e frescos, fazem parte os concelhos situados ao longo da fronteira nordeste com Espanha (de Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda e Mogadouro), sendo Vidago um dos principais centros vinhateiros, excelente para vinhos frescos e com bastante acidez natural. A fama dos vinhos da sub-região de Chaves (inserida na ‘Terra Fria’), capazes de corrigir naturalmente (entenda-se: contribuir com acidez) vinhos de outras regiões é antiga, sobretudo em brancos e bases para espumantes. Na transição para a ‘Terra Quente’ encontramos Macedo de Cavaleiros, outro polo vinícola, que alberga o produtor Valle Pradinhos já referido. Com solos de natureza mais xistosa, altitudes que raramente ultrapassam os 500m, e com maior influência do vale do rio Douro, a ‘Terra Quente’ é caracterizada pelos verões escaldantes. Alguns dos mais relevantes concelhos que englobam a sub-região são Mirandela, Murça (parte), Vinhais, e o próprio Valpaços.
Mas outra distinção da região, diríamos menos tradicional, mas mais formal, é, precisamente, a divisão oficial em 3 sub-regiões: Valpaços, Planalto Mirandês e Chaves. Comecemos pela última. A noroeste, Chaves é a sub-região mais fresca, com um clima mais chuvoso e vinhas (verdadeiramente) em altitude, cujos solos tendencialmente graníticos propiciam perfis com mais acidez e elegância. Por sua vez, a sub-região de Valpaços é, como já referimos, marcada por elevadas temperaturas durante o verão, e um clima seco durante grande parte do ano, sobretudo nas terras com menor altitude, entre os 350-400 metros, terroirs marcadamente favoráveis a tintos com maturação elevada, com solos xistosos e afloramentos graníticos. Valpaços é, claramente, a sub-região que apresenta maior produtividade, reflexo das condições naturais e da área plantada, mas também da constante evolução da vitivinicultura da zona (renovação/restruturação de vinhas à cabeça), em grande parte por efeito das práticas das adegas modernas do Douro ‘ali ao lado’, aspecto ao qual voltaremos ainda neste texto. Por fim, temos o Planalto Mirandês, a sub-região com a continentalidade mais pronunciada, marcada a este pela geografia selvagem típica do rio Douro internacional, com solos maioritariamente xistosos. Com pouca chuva, quase nada nas terras quase desérticas na fronteira, predominam cotas altas entre os 750m e os 800m, sendo Miranda do Douro e Mogadouro os centros vínicos por excelência. O enólogo Paulo Nunes, que para o projecto Costa Boal faz um vinho neste território, confirma o calor diário nos meses estivais, mas salienta a frescura das noites mesmo no Verão, algo que não encontra, por exemplo, no vale do Douro. Por isso, diz-nos, a vindima nessa sub-região é sempre tardia, por vezes em Outubro, e os teores alcoólicos raramente ultrapassam os 13,5%.
Provados mais de 2 dezenas de vinhos, das 3 sub-regiões descritas, conseguimos retirar várias conclusões. Em primeiro lugar, que o modelo de tinto encorpado e com teor alcoólico acima dos 14% ainda predomina na região, sobretudo nos topos de gama. Muito deles provém da sub-região de Valpaços, o que se justifica pelas próprias condições naturais de maior calor e solos xistosos, mas também pela proximidade ao Douro. Essa proximidade trouxe, com efeito, um fenómeno de mimetização, bem presente no próprio encepamento (com as duas Tourigas à cabeça, mais Tinta Roriz e Tinta Barroca) e nas práticas enológicas iniciadas no final dos anos ’90 com os modernos tintos durienses. São vinhos ambiciosos, bem feitos e generosos no perfil intenso, mas que não se distinguem significativamente dos produzidos na região vizinha (e o consumidor que procura Douro vai certamente comprar Douro).
Por outro lado, encontrámos um perfil mais tradicional, com várias matizes rústicas, centradas em castas muito habituadas ao local — exemplo maior para a Tinta Amarela —, ainda que vindimadas, porventura, tardiamente, comprometendo a acidez natural que a região pode proporcionar. Em ambos os perfis, a longevidade dos vinhos é notável, sendo que os néctares mais antigos em prova — um da colheita de 2012, e dois de 2014 — se apresentam em grande forma, dificilmente reconhecidos como vinhos com “idade”… Por fim, provámos alguns vinhos cujo perfil mais facilmente a região pode produzir — assim nos confirmaram vários enólogos e produtores — e garantir sucesso para o futuro. Falamos de vinhos mais frescos, feitos a partir de uvas de vinhas velhas e a partir de castas pouco difundidas no restante país vitícola, mais a mais plantadas a uma altitude pouco comum. No modelo de vinho mais aberto e vivo, Vidago (na sub-região de Chaves) pode mesmo vir a ser, entre outros, um lugar-chave, sendo que dois dos vencedores da prova advém precisamente desse terroir fresco e único. O vinho Lés-a-Lés emerge de uma vinha velha, rodeada de pinheiros, “que cheira a caruma, e lembra o Dão”, diz-nos o enólogo Rui Lopes que assina o vinho juntamente com Jorge Rosa Santos. Não por acaso, parte das uvas do lote são Tinta-Pinheira e Baga… Outro vencedor é o Grande Reserva da Quinta de Arcossó, um vinho que sai da pena de Amílcar Salgado e Francisco Montenegro, e que é originado a partir de uma das vinhas mais bonitas e bem cuidadas da região, para não dizer do país.
À laia de conclusão, com uma dimensão significativa de vinhas velhas, e uma altitude pouco habitual no nosso país, solos de granito e xisto, a região tem tudo para se afirmar e liderar em mais do que um perfil, sem perder a noção de frescura com a qual pode triunfar sobre outras regiões. Acresce, que as suas condições naturais permitem uma expressiva agricultura integrada e até biológica, dado a média anual muito baixa de tratamentos. Com mais enólogos jovens a chegar à região, tudo aponta para um “futuro risonho”, como espera a enóloga Joana Pinhão (na Quinta Valle Madruga desde 2021). Joana não tem dúvidas que a grande heterogeneidade entre as 3 sub-regiões de Trás-os-Montes é uma virtude, dependendo do tipo de vinho que se pretende produzir, sendo que nesse mesmo sentido milita a opinião de Paulo Nunes. Também nós, pelos vinhos provados, não temos dúvidas da qualidade e originalidade da região, dois vectores que, como em todas as regiões, têm de ser permanentemente estimulados e trabalhados. Com condições excepcionais para a produção de vinhos, Trás-os-Montes tem tudo para vir a ser uma estrela entre os vinhos de Portugal.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
-
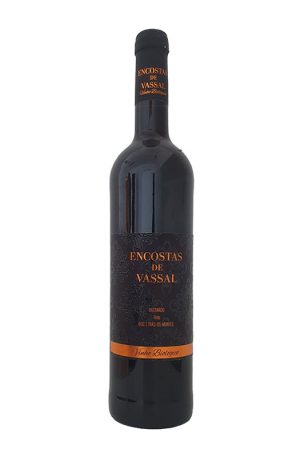
Encostas de Vassal
Tinto - 2019 -
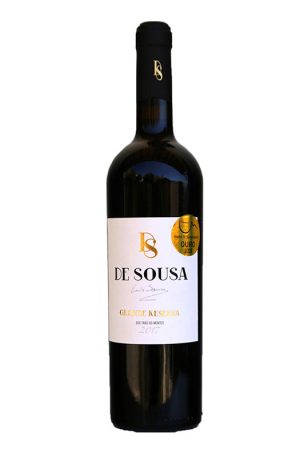
De Sousa
Tinto - 2017 -
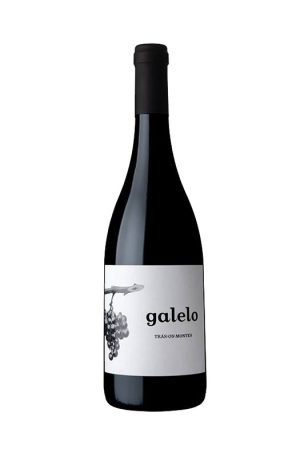
Galelo
Tinto - 2020 -

Vinha dos Mortos
Tinto - 2020 -

Villela Seca
Tinto - 2020 -

Terras do Mogadouro
Tinto - 2019 -
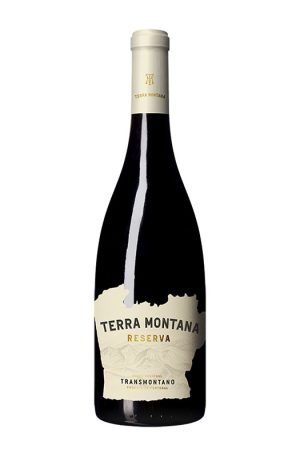
Terra Montana
Tinto - 2019 -
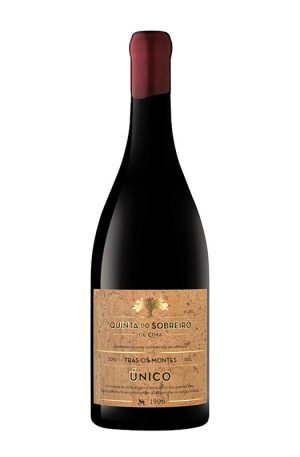
Quinta do Sobreiró de Cima Único
Tinto - 2015 -
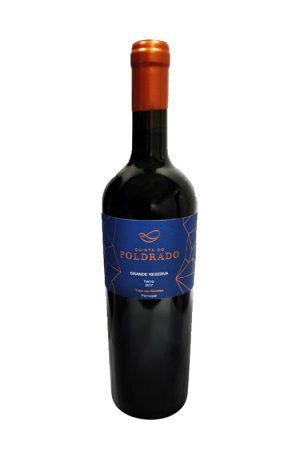
Quinta do Poldrado
Tinto - 2017 -
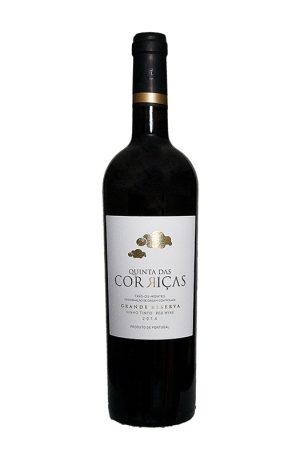
Quinta das Corriças
Tinto - 2014 -

Palmeirim D’ Inglaterra
Tinto - 2019 -

Bago de Ouro Edição Limitada
Tinto - 2021 -
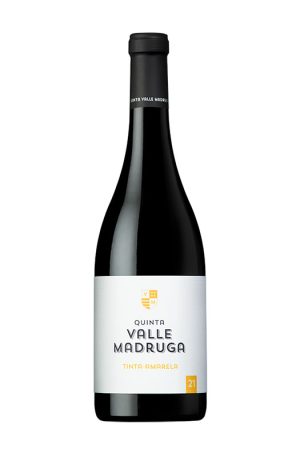
Quinta Valle Madruga
Tinto - 2021 -

Secret Spot
Tinto - 2014 -

Persistente
Tinto - 2017 -
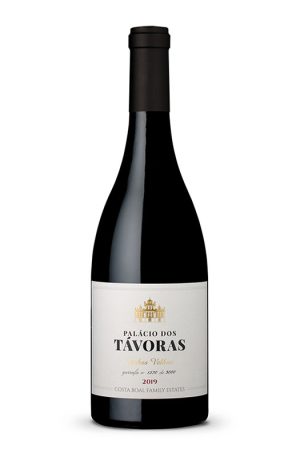
Palácio dos Távoras
Tinto - 2019 -

Maria Gins Vinhas Velhas
Tinto - 2019 -

José Preto
Tinto - 2018 -
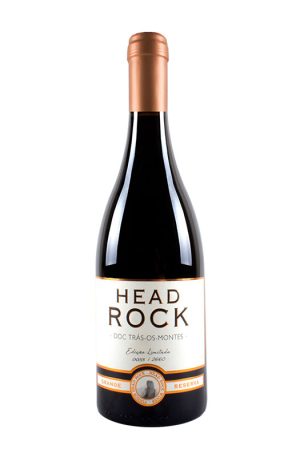
Head Rock
Tinto - 2015
Aforista Reserva Branco 2021 eleito Melhor Vinho da Beira Interior

A entrega de prémios do 16º Concurso de Vinhos da Beira Interior realizou-se no passado sábado, em Marialva, onde o vinho Aforista Reserva branco 2021 recebeu o prémio de “Melhor Vinho” da região. Além deste galardão, o júri do concurso, que aconteceu nos dias 19 e 20 de Junho, na Guarda, atribuiu várias distinções, incluindo […]
A entrega de prémios do 16º Concurso de Vinhos da Beira Interior realizou-se no passado sábado, em Marialva, onde o vinho Aforista Reserva branco 2021 recebeu o prémio de “Melhor Vinho” da região. Além deste galardão, o júri do concurso, que aconteceu nos dias 19 e 20 de Junho, na Guarda, atribuiu várias distinções, incluindo os prémios “Melhor Vinho no Feminino”, “Melhor Imagem” e “Melhor Imagem no Feminino”. Ao todo, 92 vinhos, de 34 produtores da região, estiveram a concurso, resultando em 17 medalhas de Ouro e 11 medalhas de Prata.
O presidente da CVR (Comissão Vitivinícola Regional) da Beira Interior, Rodolfo Queirós, destacou a importância deste tipo de eventos para a promoção da Rota dos Vinhos da Beira Interior, salientando que a escolha da aldeia histórica de Marialva contribui para a valorização de todo o território. Já o presidente do Município de Mêda, João Mourato, expressou satisfação pelo facto da gala de entrega de prémios ter ocorrido pela primeira vez no seu concelho, realçando a produtiva parceria entre a CVR da Beira Interior e o Município de Mêda.
A cerimónia foi presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com raízes no concelho de Mêda, que sublinhou a importância do sector vitivinícola na coesão territorial, na atracção de investimentos e na fixação de pessoas. A Ministra enalteceu, ainda, o papel desempenhado pela CVR da Beira Interior como elo de ligação entre os 20 concelhos que compõem a região.
16º Concurso de Vinhos da Beira Interior
MEDALHAS DE OURO
Adega 23 IG Terras da Beira branco 2020
Aforista DOC Beira Interior Reserva branco 2021
Beyra DOC Beira Interior Grande Reserva tinto 2021
Marquês D’Almeida DOC Beira Interior Reserva tinto 2018
Quinta Vale do Ruivo DOC Beira Interior branco 2020
Torre de Pinhel – 75º Vindima DOC Beira Interior Reserva Especial tinto 2018
Alvinho DOC Beira Interior Colheita Selecionada branco 2021
Aforista DOC Beira Interior branco 2021
Convento de Marialva DOC Beira Interior Reserva tinto 2021
Quinta do Cardo DOC Beira Interior Grande Reserva Biológico Síria branco 2021
Souvall DOC Beira Interior Reserva branco 2022
Beyra DOC Beira Interior Vinhas Velhas branco 2022
Pombo Bravo DOC Beira Interior Reserva Touriga Nacional e Tinta Roriz rosado 2021
1808 Portugal – Field Blend DOC Beira Interior Biológico tinto 2018
Torre de Pinhel IG Terras da Beira tinto 2020
Quinta dos Currais DOC Beira Interior Colheita Selecionada branco 2021
Beyra DOC Beira Interior Reserva Tinta Roriz e Jaen tinto 2021
MEDALHAS DE PRATA
Quinta da Arrancada DOC Beira Interior Reserva Branco 2022
Quinta dos Currais DOC Beira Interior Reserva tinto 2019
doispontocinco DOC Beira Interior tinto 2018
Folhas Caídas DOC Beira Interior Chardonnay Branco 2022
Quinta das Senhoras – Dona Maria de Deus DOC Beira Interior Grande Reserva tinto 2019
Portas D’El Rei DOC Beira Interior Colheita Selecionada tinto 2020
Quinta da Arrancada DOC Beira Interior Grande Reserva tinto 2020
Quinta dos Termos DOC Beira Interior Reserva Talhão da Serra tinto 2020
Quinta dos Currais DOC Beira Interior Síria Branco 2021
Entrevinhas DOC Beira Interior Touriga Nacional tinto 2021
Quinta da Arrancada – Açor DOC Beira Interior Reserva tinto 2020
“O Douro Merece Melhor”: grupo de produtores une-se em carta aberta e pede reformas urgentes

Ontem, dia 12 de Julho, um grupo de 26 signatários divulgou uma carta aberta intitulada “O Douro Merece Melhor”. Na carta, que pode ser lida na íntegra em baixo, os signatários — que constituem um grupo muito significativo de pessoas directamente ligadas ao sector do vinho na região do Douro — alertam para “a inacção […]
Ontem, dia 12 de Julho, um grupo de 26 signatários divulgou uma carta aberta intitulada “O Douro Merece Melhor”.
Na carta, que pode ser lida na íntegra em baixo, os signatários — que constituem um grupo muito significativo de pessoas directamente ligadas ao sector do vinho na região do Douro — alertam para “a inacção das instituições competentes no que toca às urgentes reformas necessárias para o quadro regulamentar que rege a produção de vinhos no Douro”.
Entretanto, juntaram-se aos signatários originais muitas outras individualidades. A lista de todos os signatários pode ser consultada em www.odouromerecemelhor.pt.
“O DOURO MERECE MELHOR
A Região Demarcada do Douro é conhecida internacionalmente por ser uma das maravilhas do mundo do vinho. Contém mais de metade das vinhas de montanha à escala global. Tem o estatuto de Património Mundial da UNESCO. Não há região comparável em qualquer país. Mais de 19,000 viticultores e 1,000 empresas cultivam empenhadamente estas vinhas desafiantes, produzindo dois vinhos altamente reconhecidos: o Vinho do Porto e o vinho DOC Douro.
Contudo, os últimos vinte anos foram caracterizados por uma descida de quase 25% no volume de vendas de Vinho do Porto, para 7,8 milhões de caixas de 9 litros. No mesmo período, as vendas dos vinhos DOC Douro cresceram significativamente para 5,2 milhões de caixas.
Apesar destas mudanças profundas, o quadro regulamentar não teve qualquer alteração, permanecendo, na sua essência, imutável há quase 100 anos. O sistema atual está a promover distorções devastadoras que estão a impactar não só no preço das uvas, mas também na sustentabilidade socioeconómica dos viticultores, das empresas, e no futuro dos seus vinhos nos mercados internacionais.
O sistema de ‘benefício’ – introduzido nos anos 1930 – estabelece a quantidade de uvas destinadas à produção de Vinho do Porto. Este limite é ajustado anualmente, dependendo de um conjunto de fatores, nomeadamente a qualidade e os níveis de oferta e de procura. Um sistema semelhante é praticado nas mais importantes regiões vitivinícolas europeias. Contudo, as uvas para vinho DOC Douro são comercializadas no mercado livre e, regra geral, num ambiente de excesso de oferta.
O Douro está a sofrer devido à redução dos volumes de Vinho do Porto e um contexto regulamentar desa-tualizado. Consequentemente muitas uvas são vendidas abaixo do seu custo de produção. O prejuízo para os viticultores é óbvio, resultando no abandono da vinha e no despovoamento da região. Uma situação agravada pelas alterações climáticas que estão a impactar seriamente a nossa região.
Igualmente grave é o facto de demasiados vinhos estarem à venda internacionalmente com preços comparáveis aos mais baratos do mundo – algo que nunca seria possivel se os viticultores recebessem um preço justo pelas suas uvas. Estamos a passar a mensagem que o Douro produz vinhos baratos, quando nada poderia estar mais longe da verdade. O nosso custo de produção, por kg, situa-se entre os mais elevados do mundo, e o rendimento por hectare é entre os mais baixos – por causa das características únicas da vinha de montanha no Douro.
Ao longo dos últimos 15 anos, vários estudos realizados por entidades de renome, incluindo a UTAD (Univer-sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), concluíram que o Douro não é sustentável nestas circunstâncias e que necessita de reforma no seu quadro regulamentar. Mas nada foi feito, apesar das promessas do Estado.
Nenhuma região de vinho aguenta tanto tempo neste desequilíbrio, sofrendo tantos danos na sua imagem e na economia das suas comunidades. A incompreensível inação está a prejudicar uma das mais históricas, belas e desafiantes regiões vinícolas do mundo. Existem, porém, soluções que estão ao nosso alcance, nomeadamente medidas de emergência, de curto prazo e outras, mais estruturantes, de médio e longo prazo. O Douro necessita de uma estratégia para o futuro construída numa base científica liderada por uma entidade independente, em consulta com os stakeholders chave da região.
Apelamos aos produtores, aos viticultores, aos comerciantes e respetivas Associações, ao Ministério da Agricultura, à CIM do Douro, e ao Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, para enfrentarem esta situação com urgência. Deveríamos sentir orgulho no Douro, na sua gente e nos seus vinhos, mas atualmente não conseguimos senão sentir frustração e tristeza pelos danos graves e desnecessários que a inércia na alteração do quadro regulamentar e institucional está a provocar.
O Douro Merece Melhor
António Filipe, António Saraiva, Christian Seely, Cristiano van Zeller, Dirk Niepoort, Emídio Gomes, Fernando da Cunha Guedes, Francisco Spratley Ferreira, Francisco Olazabal, João Álvares Ribeiro, João Nicolau de Almeida, João Rebelo, John Graham, Jorge Dias, Jorge Moreira, Jorge Rosas, Jorge Serôdio Borges, Luís Sottomayor, Luisa Amorim, Mário Artur Lopes, Olga Martins, Oscar Quevedo, Paul Symington, Pedro Braga, Sandra Tavares, Sophia Bergqvist”
Maçanita: Nascidos de antigas cepas

Da ilha do Pico (com a Azores Wine Company) até ao Douro (com sua irmã Joana Maçanita), passando pela Madeira e Porto Santo (com a Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões) e pelo Alentejo, (Fitapreta), estes vinhos de vinhas velhas, engarrafados, por vezes, em diminutas quantidades, são especialmente acarinhados por António […]
Da ilha do Pico (com a Azores Wine Company) até ao Douro (com sua irmã Joana Maçanita), passando pela Madeira e Porto Santo (com a Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões) e pelo Alentejo, (Fitapreta), estes vinhos de vinhas velhas, engarrafados, por vezes, em diminutas quantidades, são especialmente acarinhados por António Maçanita. São vinhos de vinha, ou melhor de parcela. Vinhos que são o que são porque têm origem naquelas mesmas videiras e não noutras plantadas a umas centenas de metros de distância. Cada uma destas vinhas foi uma descoberta. E cada uma tem uma história que merece ser contada. Vamos contá-las, pois, com a ajuda das notas e da memória de António Maçanita.
PORTO SANTO E MADEIRA
Na ilha da Madeira chamam “profetas” aos porto-santenses; e estes retribuem apelidando os madeirenses de “villões”, alcunha derivada de “habitante da vila”. Seja como for, um belo nome para o projecto que António Maçanita ali criou com o seu amigo Nuno Faria. Foi este último que, em 2020, convenceu António a visitar um conjunto de vinhas nas duas ilhas. Despertado o interesse, “o próximo passo foi tentar convencer o Sr. Cardina a vender-nos uvas. Foi difícil, resistiu, mas lá aceitou no final. O Sr. Cardina é um dos mais respeitados viticultores e um acérrimo defensor da história do vinho do Porto Santo, tendo construído o museu do Vinho Cardina, com vários objetos do trabalho da vinha e vinho”, diz António Maçanita.
A ilha de Porto Santo é, em termos geológicos, uma das mais antigas dos arquipélagos portugueses, tendo emergido há 14 milhões de anos no oceano Atlântico. Foi também a primeira a ser descoberta por Gonçalves Zarco em 1418. A plantação da vinha data dos primeiros tempos da colonização, tendo Gaspar Frutuoso, em 1580, acentuado a abundância de vinhedos existente ao longo da costa, inclusive nas zonas mais arenosas. “Na história recente, os antigos contam que era aqui onde se vinham buscar as uvas mais maduras para dar grau ao vinho Madeira. Hoje restam menos de 14 hectares, cultivados por um punhado de resistentes”, refere Maçanita.
Os solos, arenitos calcários de origem marinha, apresentam um pH bastante elevado, em torno dos 8,5 (por comparação, nos Açores, este indicador anda pelos 5,5/6) e o clima fortemente atlântico implica uma condução rasteira das videiras, protegidas dos ventos e maresia por muros ou habilidosas estruturas de canas. A vinha do Sr. Cardina, com mais de 80 anos, está assente em calcários franco-arenosos. Plantada com a casta Listrão (conhecida em Jerez por Palomino Fino) dali saem, desde 2020, os vinhos Listrão dos Profetas e Listrão Vinho da Corda. Em 2021 António e Nuno persistiram na busca de mais vinhedos e hoje recebem uvas de 15 viticultores. São tudo vinhas entre 40 e 80 anos de idade, algumas delas nas Fazendas da Areia, zonas de pura areia calcária. Plantadas com a casta Caracol, dão origem aos vinhos Caracol dos Profetas e Caracol dos Profetas Fazendas da Areia.
Já na ilha da Madeira (a terra dos “vilões”…), o terroir muda totalmente. Os solos vulcânicos são bem mais ácidos e as videiras orientadas em latada. Os dois amigos escolheram o Estreito da Câmara de Lobos e a Tinta Negra como local e casta de eleição. A primeira vindima, em 2020, correu mal: a cuba caiu no transporte entre adegas. Avançaram de novo no ano seguinte e conseguiram comprar uvas a um viticultor com um vinhedo de Tinta Negra com mais de 40 anos. E nasceu o Tinta Negra dos Villões.
PICO
Fundada, em 2014, a Azores Wine Company (AWC) veio revolucionar a produção de uva e vinho na ilha do Pico e, em boa verdade, directa ou indirectamente, em todas ilhas vinícolas açorianas, pela criação de valor gerada desde então. A história da empresa já foi contada mais do que uma vez nestas páginas, pelo que vamos ao que interessa: as vinhas velhas. No que ao tema respeita, Filipe Rocha e António Maçanita, os sócios da AWC, elegem como “centro de tudo” a zona do lajido (lajes de lava) da Criação Velha, um dos dois locais picoenses classificados como Património Mundial pela Unesco. “A Criação Velha é a guardiã do património genético original da ilha e dos Açores”, diz António Maçanita. Este é, na verdade, um “spot” muito especial, e não apenas pela paisagem. António Maçanita refere as particularidades climáticas: distando 16 km do centro do vulcão do Pico, beneficia de mais horas de sol, pois o Pico bloqueia as nuvens; a sua baixa altitude, entre 6-35 metros, faz com que as raízes estejam a utilizar água “salobra”; e, por último, o mar ali tão perto acentua o carácter atlântico dos vinhos. Mas também, historicamente, a Criação Velha é especial: os seus vinhedos pertenciam a gentes do Faial, pela proximidade ao porto da Horta, ali em frente, do outro lado do canal, já que eram eles os principais produtores e comerciantes de vinhos.
Na Criação Velha, a AWC trabalha três áreas distintas que originam distintos vinhos, todos eles com a casta Arinto dos Açores largamente predominante. A chamada Vinha da Canada do Monte, é constituída por duas parcelas que encostam na Canada do Monte, que é o caminho que vai desde o tão fotografado moinho vermelho do Frade até ao Monte (pequeno relevo de terreno). Esta estrada marca também uma distância ao mar de cerca de 580 m e uma altitude de 35 metros. Depois, temos a Vinha Centenária, como o nome indica, uma das vinhas mais antigas da ilha, com idade compreendida entre 100-120 anos, situada também na linha da Canada do Monte. “Está na mesma família há várias gerações e é uma das mais bem tratadas que conhecemos no Pico”, refere António. Aqui encontramos também, ao lado do Arinto dos Açores, diversas cepas com Bual, Verdelho, Donzelinho e Alicante Branco. Finalmente, a Vinha dos Utras, hoje quase tão famosa quanto o moinho vermelho. Trata-se de uma pequena parcela que encosta mesmo ao mar (os chamados “1os Jeirões”), num local onde se consegue a maior exposição solar e concentração. Os Utras (deturpação do nome de Joss Hurtere, um flamengo que foi Capitão Donatário do Pico e do Faial) são uma família que chegou aos Açores em 1465 e se tornaram determinantes para o desenvolvimento do vinho e da vinha das ilhas.
Conta António Maçanita: “Adquirimos a vinha aos seus descendentes, a família Dutra, em 2018. Diziam os donos que o mar lhes causava muito danos na vinha. Viemos a aprender isso mesmo, pois em outubro de 2019 o mar roubou 40 metros à vinha; e em 2021 a maresia salgada queimou toda a produção…”
ALENTEJO
Apesar de o seu trabalho com os vinhos açorianos, em anos recentes, ter contribuído em muito para projectar a “marca” António Maçanita, a verdade é que a grande base da actividade vitivinícola deste irrequieto produtor e enólogo está no Alentejo, região onde iniciou a sua carreira profissional e onde, a partir de 2004, criou o projecto Fitapreta. Num portefólio alentejano de mais de 30 referências, destaca-se no topo a linha Chão dos Eremitas que inclui um blend (o notável Os Paulistas) e cinco varietais. “Descobri esta vinha através de um professor meu do ISA, o professor Mira. De início a ideia era arrendar, mas depois surgiu a hipótese de a adquirir e não hesitei, o meu ‘feeling’ é que era mesmo algo diferente”, conta.
O Chão dos Eremitas, situa-se no sopé da Serra d’Ossa. Refere António que há provas da produção ininterrupta de vinho naquele local desde o séc. XIV, quando a Bula Papal de 1397 isentou os Pauperes Eremitas de tributos nas vinhas. Uma escavação arqueológica recente desenterrou a escassos metros da vinha uma ânfora fenícia do séc. VIII a.C., debaixo da Anta da Candeeira, demonstrando que ali havia vinho 800 anos antes da chegada dos romanos. “Este lugar é muito especial, sente-se!”, exclama António Maçanita. “Percebe-se que era aqui que se plantava a vinha, junto a dois riachos que trazem da serra as águas das chuvas, mantendo o chão fresco e o nível freático alto.”
A vinha Chão dos Eremitas foi plantada em 1970, e tem uma composição de castas tintas e brancas que, em tempos, dominaram a paisagem vitícola da região: Tinta Carvalha, Castelão, Alfrocheiro Preto, Moreto, Trincadeira, Alicante Branco, Trincadeira das Pratas (Tamarez), Roupeiro e Fernão Pires.
Os irmãos Maçanita encontraram em Carlão, no planalto de Alijó, um conjunto de vinhas quase abandonadas, nas quais viram enorme potencial para fazer vinhos diferenciadores.
DOURO
A Maçanita Vinhos é um projecto de dois irmãos e enólogos, Joana e António. Os Maçanita procuraram tirar partido do clássico sistema de classificação dos vinhedos durienses (de A a F), focando-se nos extremos, ou seja, nas parcelas mais “nobres”, com maior maturação (letra A), no fundo dos vales do Douro e seus afluentes, e nas mais “desprezadas”, de maturação mais difícil, situadas nas zonas altas e fronteiriças, no limite da região (letra F). Nestas últimas encontraram em Carlão, no planalto de Alijó, um conjunto de vinhas quase abandonadas, nas quais viram enorme potencial para fazer vinhos diferenciadores. “Chegámos a esta região pela mão do chef André Magalhães que nos dizia que o seu pai tinha uma vinha velha e vendia mal as uvas. Um dia fomos visitar a dita vinha (chamada As Olgas) e ficámos encantados. A partir daí temos passado muito tempo nesta zona onde temos encontrado parcelas mágicas”, comenta António Maçanita. Nas vinhas de Carlão, o difícil acesso implica trabalho “à antiga”, ou seja, homem e cavalo. Nas parcelas misturam-se diversas castas brancas e tintas. Estando na transição entre granito e xisto, o terreno varia muito. No entanto há dominância dos solos graníticos, com alto teor de quartzo. A vinha Canivéis tem entre 80 e 92 anos, está a 510 metros de altitude e mistura 11 castas; a vinha As Olgas, de 90 a 110 anos, tem o mesmo número de castas e está a 480 metros. A Pala Pinta é a mais antiga vinha de Carlão. Com 110 a 130 anos de idade, estende-se entre os 580 e os 720 metros de altitude, com 20 castas distintas.
Porto Santo, Madeira, Pico, Alentejo, Douro. Em todas estas regiões existem lugares especiais que albergam vinhas singulares. E delas nascem vinhos que não deixam ninguém indiferente.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
-
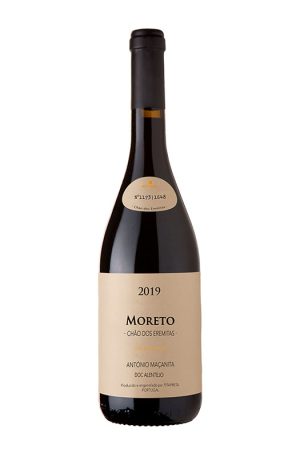
António Maçanita Chão dos Eremitas
- 2019 -

Da pedra se fez espumante Cuvée nº2
- -

Maçanita Pala Pinta
Tinto - 2019 -

Maçanita As Olgas
Tinto - 2020 -

Maçanita Os Canivéis
Tinto - 2020 -
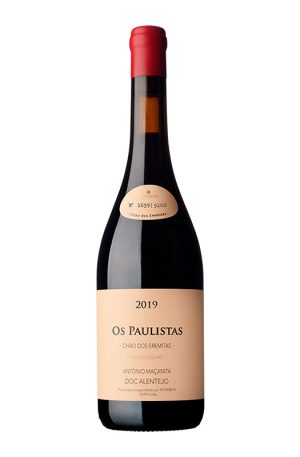
Chão dos Eremitas Os Paulistas
Tinto - 2019 -
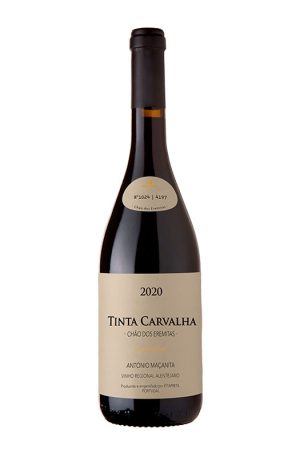
António Maçanita Chão dos Eremitas
Tinto - 2020 -
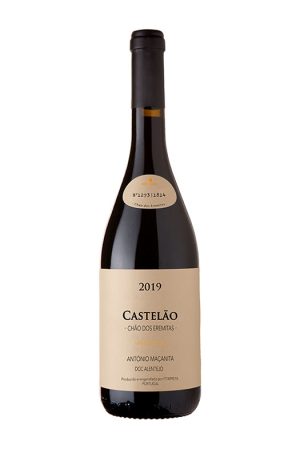
António Maçanita Chão dos Eremitas
Tinto - 2019 -

Vinha dos Utras Criação Velha 1ºs Jeirões
Branco - 2020 -

Vinha Centenária
Branco - 2020 -

Canada do Monte
Branco - 2020 -

Tinta Negra dos Villões
Tinto - 2021 -

Listrão dos Profetas
Branco - 2021 -

Caracol dos Profetas Fazendas da Areia
Branco - 2021 -

Caracol dos Profetas
Branco - 2021