Rufete ou Tinta Pinheira: A casta das serranias

O mais recente livro de João Afonso, uma obra de grande fôlego dedicada às castas usadas em Portugal, confirma, se tal era preciso, que o universo das variedades usadas por cá é isso mesmo: um universo imenso, confuso, ainda pouco estudado. Mas não nos podemos queixar, já que temos em Portugal equipas que se dedicam […]
O mais recente livro de João Afonso, uma obra de grande fôlego dedicada às castas usadas em Portugal, confirma, se tal era preciso, que o universo das variedades usadas por cá é isso mesmo: um universo imenso, confuso, ainda pouco estudado. Mas não nos podemos queixar, já que temos em Portugal equipas que se dedicam ao estudo científico das castas e à preservação das mesmas para memória futura.
O problema é que elas são tantas e chegaram a ter tão desvairados nomes e sinónimos que não fica facilitado o trabalho da PORVID, a empresa que estuda clones, faz análises genéticas e mantém um enorme campo clonal em Pegões. A casta de que hoje nos ocupamos é a Rufete, que também usa o nome de Tinta Pinheira. Usada sobretudo no Dão e na Beira Interior, presente residualmente no Douro, sobretudo nas vinhas velhas e em alegre convívio com dezenas de outras, a Rufete já esteve na lista das indesejáveis.
Como nos lembra Paulo Nunes, enólogo da Passarela, as fragilidades de outrora são as virtudes de hoje. E explica: até há pouco tempo era considerada uma casta menor porque não tinha cor, porque a componente vegetal se sobrepunha à fruta, porque a fragilidade não permitia uma boa ligação à barrica nova; ora tudo isso se alterou e hoje é apreciada exactamente porque origina vinhos mais elegantes, menos corados, menos alcoólicos e a componente mais vegetal é, agora, especialmente apreciada. Ganhou quem a conservou, porque é uma variedade que mostra muita originalidade e tem tudo para agradar aos novos consumidores.
Os enólogos com quem falámos são unânimes em considerar que o traço mais comum da casta é precisamente a pouca intensidade corante. No entanto, João Afonso conta-nos a história do tinto de Rufete que produziu, em 1995 na zona de Pinhel, e que originou um vinho muito carregado de cor. Duas hipóteses se levantam: ou era outro clone da casta Rufete ou era outra casta. Afonso mantém a dúvida: na altura o classificador “afiançou” que era a mesma casta mas que naquela zona se tinha desenvolvido outro clone.
A dúvida irá permanecer até à análise do ADN comparativo das duas variantes, algo que está por fazer. Mesmo que se tratasse de outro clone, a verdade é que ele não está presente nos vinhos disponíveis no mercado. Iremos continuar a associar a Rufete com este estilo elegante, vegetal e que contribui com notas de pinheiro para o aroma do vinho; podemos até levantar a dúvida sobre se não advirá daí o nome de Tinta Pinheira. Os vinhos que provámos confirmam este perfil.
“Se o ano for quente, surge com um pouco mais de cor, mas em climas mais frescos, como no Dão, a Tinta Pinheira ganha notas vegetais que até lembram Pinot Noir.” – Jorge Moreira
Uma casta feita princesa
Na vinha e na adega, a Rufete é casta caprichosa. Na vinha pode, em virtude da finura da película, ser atreita a míldio e oídio e, como se não bastasse, com golpes de calor desidrata facilmente e com chuva apodrece. Como se vê, tem tudo para ser variedade pouco amiga do agricultor. A pequena quantidade de cepas que existem no Dão “não permite que haja muitos vinhos varietais”, diz-nos Luís Lopes, enólogo na Quinta das Marias e no Domínio do Açor mas, acrescenta, no Açor “estamos a plantar mais umas linhas de Rufete que irão substituir as de Tinta Roriz que lá estavam”.
Sobretudo no Dão, ela sempre foi usada para compor os lotes, dando mais vibração vegetal, nomeadamente à Touriga Nacional. A cor pode variar um pouco em função do clima do ano. Como nos recorda Jorge Moreira, que trabalha a casta no Douro, na Real Companhia Velha, mas também no Dão, “se o ano for quente ela surge com um pouco mais de cor, mas em climas mais frescos, como o Dão, e em anos de menos calor, a Tinta Pinheira surge com umas notas vegetais que até lembram Pinot Noir”, uma ideia que também nos foi confirmada pelo enólogo do Domínio do Açor. O apreço que as castas mais vegetais e menos tintureiras está a ter no mercado, até faz com que aquele comentário possa ser usado para falar de muitas outras variedades.
O perfil mais fino e elegante exige na adega alguns cuidados e os enólogos com quem falámos estão de acordo: se queremos que a casta expresse as suas virtudes, são de evitar fermentações com muita maceração e extracção e também é de evitar o recurso a barricas novas para o estágio; barricas usadas, tonéis ou mesmo depósitos de cimento são os mais aconselháveis para a casta, que tem de resto muita capacidade para se mostrar bem com pouco tempo de estágio. Daqui poder-se-ia inferir que não é variedade para ser conservada em cave.
Era essa a ideia que Jorge Moreira tinha da casta, mas confessa que ficou surpreendido com a evolução dos vinhos em garrafa e hoje acredita que o vinho poderá durar 5 e mais anos. Temos, assim, como balanço, algumas notas a registar: é casta fácil de trabalhar mas exigente na vinha, sobretudo com a escolha do momento certo de ser colhida; na adega exige pouco e dá-se bem com estágios curtos e que permitam exprimir a sua componente vegetal; para lote pode ser indispensável para a Jaen, para segurar a acidez e equilibrar os “excessos” da Touriga Nacional e tem, last but not least, aquele Je ne sais quoi que recolhe a preferência de muitos consumidores.
Os vinhos provados não escondem as virtudes: fáceis de gostar, muito gastronómicos, pertencem ao grupo dos tintos consensuais que agradarão a todos. Como se disse no início do texto, fez-se da fraqueza, força. E a verdade é que temos muitas outras castas que pertencem a este clube, algumas já em fase de recuperação, sobretudo no Douro. Já nas zonas da Dão e Beiras, outras há que esperam a sua vez, como a Alvarelhão, só para citar um exemplo. Estes vinhos são um bom exemplo do que é expectável da Tinta Pinheira/Rufete: elegância, evidente componente vegetal, capacidade para dar prazer na prova, mesmo com tenra idade, e ser excelente companhia para a mesa.
(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)
-

Quinta dos Termos Talhão da Serra
- 2020 -

Beyra
Tinto - 2018 -

Adega de Penalva
Tinto - 2020 -

Quinta da Ribeira da Pêga
Tinto - 2021 -

Casas do Côro
Rosé - 2019 -

Casas Altas
Tinto - 2020 -

Vieira de Sousa
Tinto - 2021 -

Real Companhia Velha Séries
Tinto - 2018 -

Quinta do Pessegueiro
Tinto - 2020 -

Quinta Dona Sancha
Tinto - 2019 -

Casa da Passarella O Fugitivo
Tinto - 2018 -

Domínio do Açor
Tinto - 2021
Quinta da Roeda: A single jóia da Croft

Num longo passeio pelas vinhas, na companhia do responsável de enologia do grupo, David Guimaraens, e do responsável de viticultura, António Magalhães, deu para ver o estado saudável das videiras, mesmo na altura em que muitos já se estão a queixar da seca. Segundo David Guimaraens “o Porto Vintage é a máxima expressão da região”. […]
Num longo passeio pelas vinhas, na companhia do responsável de enologia do grupo, David Guimaraens, e do responsável de viticultura, António Magalhães, deu para ver o estado saudável das videiras, mesmo na altura em que muitos já se estão a queixar da seca.
Segundo David Guimaraens “o Porto Vintage é a máxima expressão da região”. Assim, um Vintage Single Quinta é a máxima expressão de uma propriedade. Permite cruzar as características de um local com as condições de um ano vitícola. Na Croft, o Vintage Port quinta da Roeda é declarado nos anos que não coincidem com as declarações clássicas, mas “o Vintage Croft é muito Roeda (85-90%)”. David lembra-se que em 2007 a identidade da Roeda foi tão forte que a decisão entre o Vintage clássico e single quinta foi difícil. Os single quinta normalmente são mais acessíveis e prontos para beber mais cedo. Como diz David Guimaraens, “é bom que os Vintage single quinta evoluam mais depressa, podemos bebê-los ainda na nossa vida”.

A Quinta da Roeda e o seu património vitícola
As primeiras vinhas na Quinta da Roeda foram plantadas em 1811. Em 1844 a quinta foi adquirida pela, já conhecida na altura, empresa Taylor, Fladgate & Yeatman, poucos anos antes do ataque de oídio. Na década de 1860, quando a quinta pertencia a John Fladgate, a área de vinha foi aumentada através de aquisição de terrenos vizinhos. Em 1889, a Croft comprou a propriedade e iniciou a replantação das vinhas que sofreram com a praga desastrosa da filoxera. As várias fases da replantação tiveram lugar na última década do século XIX e no início do século XX. Estas vinhas ainda fazem (a melhor) parte do património vitícola da propriedade.
A vida deu uma volta e em 2001 o grupo Taylor/Fonseca comprou a Croft, ficando novamente com a Quinta da Roeda. Foi uma aquisição estratégica. No Inverno de 2001 para 2002, António Magalhães, uma autêntica enciclopédia da vinha duriense, com a sua equipa começou a tomar conta da herança vitícola da Roeda. Ao mesmo tempo, tomando partido da experiência que tinham nas outras quintas do grupo, David Guimaraens apostou na construção de lagares de granito para vinificar vinho do Porto. Um Porto feito em inox resulta numa fruta mais exuberante e num perfil mais suave; no lagar fica mais fechado e mais denso. Nos lagares recorrem à pisa a pé, mas também dispõem de pisadores robóticos para trabalharem à noite. Desta forma têm o melhor dos dois mundos: o moderno permite aliviar a penosidade do trabalho humano. Destes lagares saiu o primeiro Vintage da Quinta da Roeda, de 2002, depois da aquisição. Foi simbólico e importante para a assinalar o início de uma nova era desta propriedade.
“As Quintas distinguem-se pelas castas minoritárias, sobretudo devido ao excesso de tourigas (nacional e francesa)” – David Guimaraens
Dos 76 hectares da vinha da Quinta da Roeda, 23% são ainda da primeira geração de plantações pós-filoxera. As vinhas pós-filoxéricas como a vinha da Benedita ou da Ferradura, com uma grande densidade de plantação, tendo apenas 1m2 por videira, são autênticas jóias entre as parcelas da quinta. As videiras são torcidas mas de boa saúde e com mortalidade muito baixa. As vinhas antigas convivem lado a lado com vinha ao alto, plantada em 2006. Esta também é uma boa solução desde que a inclinação de terreno permita (até 35%). Durante os últimos anos, têm replantado a vinha, desdobrando os patamares com taludes muito altos para ficarem só com 1,5m de largura. Assim, já renovaram ¼ da vinha da quinta da Roeda. São mecanizáveis, com possibilidade de passagem de um tractor pequeno. A ideia é adaptar a máquina à vinha e não ao contrário, como foi feito na altura dos PDRITM. Com estas replantações conseguem aumentar a ocupação do solo com videiras em 36,5%, passando das 3500 videiras por hectare para 6000, e aumentar a eficiência e segurança do trabalho mecânico.
Relativamente às castas, David Guimaraens e António Magalhães concordam que não se deve limitar a plantação a apenas duas ou três variedades. “As quintas distinguem-se pelas castas minoritárias, sobretudo hoje em dia com o excesso de Tourigas (Nacional e Francesa)”, afirma David. A Tinta Francisca tem uma grande importância nas vinhas velhas da Roeda. Não apresenta uma identidade tão óbvia quanto as Tourigas mas tem personalidade muito própria. Nas replantações foram buscar Tinta Francisca ao banco genético da vinha da Benedita. A Rufete plantou-se a partir de material genético de um viticultor com quem trabalham. “É o terreno que pede a casta” explica António Magalhães e mostra o exemplo com linhas alternadas de castas conforme as particularidades do terreno. Touriga Nacional fica na zona mais fértil. Junto com Tinto Cão podem ficar mais expostas ao sol porque naturalmente preservam bem a acidez, enquanto a Tinta Barroca, rica em açúcares, tem de ser plantada em sítios mais frescos, mais altos e virados a norte. A Tinta Amarela, plantada mais alto, precisa do terreno nem muito fértil, nem muito quente.
Um prelúdio à prova vertical
A prova vertical dos Vintage da Quinta da Roeda teve uma parte não oficial no dia anterior, onde provámos os Vintage 1914, 1960 e 1980. Estavam todos bem vivos, mas o 1914 impressionou mais. Com uma cor muito aberta, quase translúcida, aromas delicados de notas medicinais, farmácia, xarope de rosa espinhosa, especiaria. Pareceu untuoso e delicado, desenvolvendo notas de cedro, resinas e alperce seco. Apesar da sua idade avançada, ainda tinha bela presença, com certa força e frescura que conseguiu preservar durante mais de um século. Só havia três garrafas na Quinta e foi muito didáctico provarmos esta relíquia, porque deu para perceber uma coisa sobre o estilo dos Vintage da Quinta da Roeda: a sua aparente macieza e perfil arredondado não compromete a longevidade.

Segundo David Guimaraens “O Porto Vintage é a máxima expressão da região”. Assim, um Vintage “Single Quinta” é a máxima expressão de uma propriedade.
A influência e a expressão dos anos
O clima no Douro traduz-se ao longo de dois anos. Na expressão de David, “2002 foi um ano trapalhão”. A seguir ao 1970 foi o ano mais árido. Além do Inverno seco, a temperatura esteve de tal forma baixa que o rio Pinhão gelou completamente no período do Natal. Mas como em 2001 choveu quase o triplo do normal (1600mm/ano), criou-se um “pulmão” que permitiu aguentar o ano árido. António Magalhães confessa que se tivesse de escolher o seu ano preferido, seria o 2004 (a seguir ao 1985). Um ano seco, com poucas doenças e pragas, onde tudo correu muito bem e pareceu um ano clássico à porta. Mas é o que acontece (ou acontecia…) quando há anos muito bons consecutivos – não foi considerado clássico.
2005 foi o ano que se destacou por ser extraordinariamente quente e seco. Em termos de índice de aridez, este ano passou do habitual semi-árido para árido. A videira defendeu-se restringindo o vigor e produzindo cachos mais pequenos com bagos também mais pequenos. O processo de maturação foi mais lento, aliviando-se a pressão da seca pela precipitação que ocorreu entre os dias 6 e 9 de Setembro, permitindo uma colheita perfeitamente equilibrada.
2008 foi um ano desalinhado do normal. Depois do Inverno mais seco e frio do que o habitual, o mês de Abril (com águas mil) reabasteceu as reservas de águas subterrâneas. A floração ocorreu em condições húmidas e frias o que, obviamente, resultou em rendimento mais baixo, mas com uma grande concentração de sabor. A temperatura média, que normalmente ronda os 15˚C, foi mais baixa durante todo o ano. Não foi chuvoso, mas uma chuva regular bem distribuída resultou num ano que nem semi-árido foi. Dias quentes combinados com noites frias permitiram uma óptima maturação das uvas.
2012 foi um óptimo ano, mas ficou na sombra de 2011. Começou com o Inverno muito seco, mas as chuvas de Abril e Maio salvaram o ano. Devido ao Inverno seco e Primavera mais fresca, as vinhas apresentavam baixo vigor. A vinha regulou-se pelo tamanho do bago, que não ultrapassava de uma moeda de 1 cêntimo, mas estes eram bem formados. A breve chuva em Setembro não afectou a vindima que decorreu sob perfeitas condições.
2015 pode ser comparado com 2008 em termos de padrão de chuva no que toca à quantidade e a distribuição. A diferença foi a temperatura média 1,2˚C mais quente do que em 2008. À excepção de dois dias de chuva, a 15 e 16 de Setembro, toda a vindima decorreu em excelentes condições, com dias de sol quentes e noites frescas. Baumé elevado, acidez um pouco mais baixa, excelente extracção. A vontade de declarar o 2015 como o ano clássico foi grande, até porque não houve declarações em 2012, 2013 e 2014 (que foi um desastre). Mas na altura já havia o 2016 que mostrou outro apelo. “Era mais fácil declarar o 2017 depois de 2016 do que o 2015 e o 2016 seguidos”, explica David. “Vivemos sempre com este trauma”.

No Inverno de 2001 para 2002, António Magalhães, autêntica enciclopédia da vinha duriense, começou a tomar conta da herança vitivinícola da Roeda.
E chegámos ao fabuloso 2017 que faz lembrar o relatório de vindima de 1945. Foi “impensavelmente árido” segundo António Magalhães, “mas no Douro existe a capacidade de ensanduichar um ano absurdo entre os anos perfeitos”. É o caso de 2017. Começou com a Primavera muito seca, apenas alguns milímetros de chuva caíram em Abril. As temperaturas estiveram acima da média e as condições secas continuaram durante todo o Verão e até o final de Setembro. Felizmente, as temperaturas em Agosto caíram para níveis mais moderados, principalmente à noite, dando equilíbrio à colheita. A vindima na Quinta da Roeda começou no dia 31 de Agosto, o início mais cedo nos últimos 70 anos. Já na adega os mostos demonstraram uma densidade excepcional.
A empresa declarou como clássico o 2017 Vintage Croft, mas a impressionante dimensão e riqueza dos vinhos provenientes das parcelas mais velhas merecia um destaque. Assim, quatro lotes resultaram num vinho memorável, do qual foram produzidos apenas 2200 litros. Basicamente foi um Single Quinta clássico… apelidado de Sérikos numa referência histórica à produção de seda na Quinta da Roeda nos anos seguintes à devastação pela filoxera e também ao seu carácter sedoso.
2018 começou extremamente seco dada a pouca chuva no ano anterior. Felizmente o stress nas videiras foi aliviado em Março graças a chuvas fortes. Junho frio e húmido, Julho seco e relativamente ameno e Agosto com temperaturas bem acima dos 40˚C. As abundantes reservas de água no solo, construídas na Primavera, permitiram que as uvas amadurecessem de maneira uniforme e gradual, apesar das condições quentes.
Em 2019, as condições relativamente frescas e a ausência de picos de calor traduziram-se na elegância, acidez vivaz, cor acima do normal e aromas muito atractivos. Este Vintage, anunciado em 2021, ainda não foi disponibilizado para o mercado, irá permanecer em cave durante mais alguns anos…
(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)
-

Croft Quinta da Roeda Sérikos
- 2017 -

Croft Quinta da Roeda
- 2019 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2018 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2015 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2012 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2008 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2005 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2004 -

Croft Quinta da Roeda
Fortificado/ Licoroso - 2002
Tintos de Verão: Enfrentar o calor em tons carmesim

Há, cada vez menos, um padrão entre os tintos sobre os quais acabamos a dizer que ficariam mesmo bem a acompanhar umas sardinhas ou uma pizza. A relação do vinho com uma temperatura de serviço mais baixa, a expressão da fruta, a estrutura e os taninos são alguns dos elementos que entram na equação quando […]
Há, cada vez menos, um padrão entre os tintos sobre os quais acabamos a dizer que ficariam mesmo bem a acompanhar umas sardinhas ou uma pizza. A relação do vinho com uma temperatura de serviço mais baixa, a expressão da fruta, a estrutura e os taninos são alguns dos elementos que entram na equação quando o assunto é beber tinto em tempos quentes.
Mas então, o que pode ser, no copo, um tinto de Verão? Em linhas gerais, um vinho que a nível de corpo se encontre entre o leve e o médio, no qual a relação entre boa acidez e estrutura resulte em frescura natural (ou seja, numa aparente frescura ainda antes de lhe baixarmos a temperatura), que tenha aromas expressivos e taninos suaves.
E na produção, como é que isto se consegue? Resumindo, pode depender de vários factores, conjugados ou não, sendo os mais comuns as castas (ou casta) utilizadas, que originem, só por si, tintos mais leves e com menos cor; a localização da vinha a uma maior altitude; ou uma vinificação menos extractiva. Voltando ao resultado no copo, a boa estrutura é muito importante porque, se não existir, quando refrescarmos o vinho, este vai saber a pouco, como aconteceu no início da febre dos Pinot Noir portugueses, há uns 7 ou 8 anos atrás, em que muitos deles pareciam uma água tingida a vermelho com acidez. Felizmente, isso rapidamente mudou e hoje fazem-se belíssimos Pinot Noir em Portugal, sobretudo nas zonas litorais e com mais influência atlântica.
AdegaMãe (Torres Vedras), Casal Sta. Maria (Colares) ou Vicentino (Zambujeira do Mar), são alguns dos produtores portugueses com Pinot Noir deste perfil mais leve, e muito bem executados. Mas nem só de Pinot Noir se fazem tintos bons para a estação estival. Nos últimos anos, alguns enólogos com raízes minhotas têm vindo a recuperar um perfil tradicional (em bom…) de vinho tinto da região dos Vinhos Verdes, como é o caso de Anselmo Mendes, Constantino Ramos ou Márcio Lopes. Estes tintos são feitos de castas antigas ou já raras, algumas encontradas em vinhas velhas em ramada, como Alvarelhão, Borraçal (Cainho tinto), Doçal, Pedral, Verdelho Feijão (Verdelho tinto) ou Vinhão.
Já no Douro, um tinto de Verão é, acima de tudo, proveniente de zonas altas ou fruto de uma menor extracção. Exemplo da primeira realidade é o Andreza Altitude, que nasce no planalto de Alijó, em vinhas localizadas acima dos 450 metros. Já o Poças Fora da Série Vinho da Roga é produto de uma menor extracção e maceração.
Não adstritos a uma região específica, também os tintos claretes merecem aqui menção, obtidos através da mistura de castas tintas e brancas, com regras que diferem de região para região. Do Tejo, o Quinta da Lapa Retro é um lote de Castelão e Fernão Pires, fermentados em conjunto, com as películas. Da Bairrada, o Luís Pato Vinhas Velhas é mais uma demonstração da versatilidade da Baga, aqui numa personalidade silvestre, fresca e suave.
Temperatura é chave
A temperatura a que se deve servir um tinto de Verão, ou no Verão, depende do perfil do vinho, mas a regra geral é “refrescar sempre”, não só para o efeito directo de frescura ao beber, mas também para que possamos diminuir a percepção alcoólica do vinho e tensionar-lhe a estrutura, dando-lhe aquele “grip” que (quase) nos mata a sede. A vantagem é que não há como errar, porque um tinto que esteve demasiado tempo no frio, aquecerá rapidamente no copo nesta altura do ano. Numa faixa dos 11º aos 16ºC, mais coisa, menos coisa, e de forma simplificada e facilmente compreensível, puxamos os mais translúcidos e expressivos para baixo e os mais escuros e complexos para cima, mas sempre jogando com o nosso gosto pessoal. Para quem gosta de fazer a olho, (como eu, na verdade) num frigorífico comum, 30 a 45 minutos antes de servir (aqui depende do estilo do tinto mas também da grossura do vidro da garrafa), será óptimo.
No fim de contas, tudo isto são apenas directivas para potencialmente melhorar a experiência. Esta é a magia do vinho: a regra dentro da ausência da regra. Porque um bom vinho para um determinado momento, é o vinho que nós quisermos e, sobretudo, aquele que nos souber bem.
(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)
-
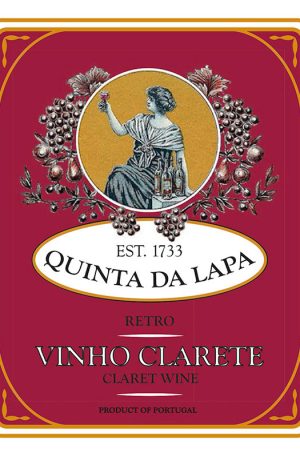
Quinta da Lapa Retro Clarete
N/a - 2020 -

Andreza Altitude
Tinto - 2019 -

Herdade do Lousial Tinto à Antiga
Tinto - 2020 -

Susana Esteban Sem Vergonha
Tinto - 2020 -
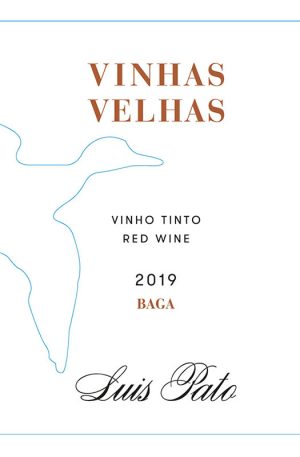
Luis Pato Vinhas Velhas
Tinto - 2019 -

AdegaMãe Tinto Atlântico
Tinto - 2020 -

Poças Fora da Série Vinho da Roga
Tinto - 2020 -
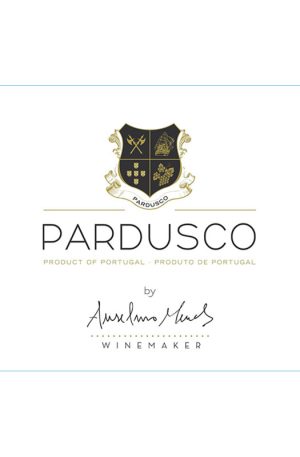
Pardusco
Tinto - 2020 -

Musgo
Tinto - 2019 -

Pequenos Rebentos Atlântico
Tinto - 2020 -

Zafirah Vinha da Rocha
Tinto - 2019 -

Lucita
Tinto - 2017
Luísa Amorim: “O primeiro passo para ter enoturismo é abrir a porta”

Como é que a família Amorim entrou no vinho? Foi em 1999, com a compra da Burmester, que detinha a Quinta Nova. Já havia a vontade de entrar no vinho, estando nós na cortiça, em concreto no vinho do Porto e Douro, porque já se percebia que era uma região de futuro. Sempre se respeitou […]
Como é que a família Amorim entrou no vinho?
Foi em 1999, com a compra da Burmester, que detinha a Quinta Nova. Já havia a vontade de entrar no vinho, estando nós na cortiça, em concreto no vinho do Porto e Douro, porque já se percebia que era uma região de futuro. Sempre se respeitou e gostou muito do vinho do Porto nesta família, mas rapidamente se percebeu que o mercado, em dinâmica, não estava tão aberto ao vinho do Porto como estava ao vinho DOC Douro. Por isso, houve uma aposta cada vez maior no vinho do Douro.
Onde estava a Luísa nessa altura?
Nos Estados Unidos, a estudar Marketing. Mas acabei por entrar para a Burmester em 2000, para fazer reorganização internacional dos canais de distribuição e marketing. Entretanto, fiz ainda outras coisas no grupo Amorim, e mais tarde, em 2005, decidimos vender a Burmester e ficar com a Quinta Nova, incluindo os stocks de Vintage da quinta.
Foram pioneiros do enoturismo “à séria” no Douro. O que vos fez investir nessa componente do vinho, numa altura em que pouco se falava disso?
O nosso projecto de enoturismo começou precisamente em 2005. Foi vender e nascer. Tive oportunidade de fazer um grande tour pelo Mundo, porque comecei a trabalhar muito nova, com 21 anos. Conheci muita gente do sector do vinho e visitei muitas adegas lá fora. Depois de visitar algumas vezes os Estados Unidos, reparei que claramente havia um movimento muito forte, sobretudo em Napa Valley, mas também em Stellenbosch, na África do Sul. Olhava também muito para o modelo das caves de vinho do Porto. Neste campo, tenho de fazer justiça ao George Sandeman, que viveu muitos anos nos EUA e trouxe um conceito de sucesso para as caves em Gaia. Eu, por exemplo, aprendi muito a trabalhar no mundo do vinho do Porto, ainda nos tempos da Burmester, porque há uma coisa que as empresas de vinho do Porto têm como ninguém, que é o estilo da casa.
No grupo Amorim, sempre recebemos muitos clientes e eu cresci até a receber clientes em casa. Por tudo isto, e não só, começámos então a desenvolver na Quinta Nova o conceito de turismo rural, com hotel, e todo o enoturismo, na verdade, as experiências.

Mas nessa altura não havia ainda muita gente a ir ao Douro…
Pois não, era dificílimo. Foi uma aposta um bocado cega, passavam-se dias e dias sem ninguém vir aqui. Começámos com uma estagiária de turismo, uma senhora que fazia a comida e uma pequeníssima equipa de limpeza, tudo pessoas de cá. Todos os anos crescíamos um bocadinho. Hoje temos mais de 40 funcionários só no enoturismo, e podemos dizer, com muito gosto, que somos uma escola. Mas o primeiro passo para ter enoturismo é abrir a porta, e foi o que nós fizemos. Tínhamos a porta aberta sempre, sete dias por semana. Isto foi uma das nossas mais valias, porque nessa altura as outras quintas fechavam quase todas ao fim-de-semana. Eu tinha amigos que me perguntavam, “gostava de ir ao Douro, o que posso fazer aí?”, e eu tinha imensa dificuldade, tinha de falar com os donos de empresas de vinho que conhecia e pedir para fazerem um programa especial. Também não havia empresas de barcos. E não dava para fazer parcerias, porque se tínhamos vinhos eramos concorrentes de outros produtores, se tínhamos hotel eramos concorrentes de outros hotéis e de restaurantes. Com o tempo, começámos a entrar em guias internacionais, nalguns clubes de enoturismo da altura, os distribuidores também iam falando lá fora, recebemos alguns jornalistas, por isso a palavra passou. Entretanto, quando a Ryanair abriu no Porto, a cidade explodiu e consequentemente o Douro. Mas só há uns 5 ou 6 anos é que as grandes empresas de vinho do Porto apostam à séria no Douro e a região começa a ser vista como um destino turístico. Notou-se quando as pessoas começaram a passar mais do que uma noite no Douro, por haver já mais coisas para fazer e sítios para ir. E o enoturismo é um sucesso garantido, porque é um tipo de turismo muito descontraído e que ajuda a descomprimir. Quem é que não gosta de comer e beber?
Não me desafio nada com coisas já feitas. O que me move é fazer, é a parte de que eu mais gosto, desenvolver, criar.
Mas ainda falta muita infra-estrutura ao Douro…
Falta imenso alojamento, restauração e oferta cultural. Falta muita coisa. Um turista pode ter muita capacidade económica, mas se passar quatro dias a visitar quintas, às vezes mais do que uma num dia, e a provar vinhos, cansa-se. No entanto, também há bastantes turistas que vêm para não fazer nada… apenas para se sentar com um copo de vinho e descansar. E embora tenhamos uma oferta grande de experiências, também incentivamos essa parte, e é por isso que muitos dos nossos clientes dizem que aqui se sentem em casa. No fundo, é pensarmos no que nós próprios queremos quando somos hóspedes ou clientes.
Quem é a Luísa Amorim, a pessoa fora do trabalho?
Sou uma pessoa de família, extremamente ligada às minhas filhas e ao meu marido. Sou uma pessoa de trabalho, gosto imenso de trabalhar. Sou extremamente criativa, estou sempre a “inventar” e a criar novos projectos. Sou de portugalidade, adoro Portugal e de viajar dentro do país e fora dele. Gosto de me sentar numa esplanada e observar as pessoas e o seu comportamento, de perceber as tendências e como as pessoas estão a evoluir no Mundo.
Como se equilibra uma vida profissional tão exigente e consumidora de tempo, com a pessoal?
Há uma frase que é fundamental para isso, que é “ter os pés na terra”, em vários sentidos. E isto é válido para o que é de mais e para o menos. Equilibra-nos. E eu gosto mais de pôr os pés na relva do que na areia, sinto que a energia fica muito mais tempo comigo. Não é fácil equilibrar tudo, mas temos de fazer por isso e por sermos felizes. A felicidade não é como uma árvore de onde simplesmente caem frutos. E temos de agradecer, darmos graças pelo que temos, e perceber que as adversidades vão sempre existir, mas que nos tornam mais fortes. A vida é um caminho de pequenas conquistas… Não está escrito em lado nenhum o que vamos sentir em determinadas fases marcantes da vida: os nossos pais envelhecem, os nossos filhos saem de casa, alguns amigos vão deixando de cá estar. E é nestes momentos que nos temos de reequilibrar. Tudo isto nos coloca em perspectiva.
Já mencionou algumas vezes a relação próxima que tem com as suas filhas adolescentes. Como é essa relação?
Sou, acima de tudo, muito amiga das minhas filhas. Sempre tentei dar-lhes mundo, desde pequenas que viajam, e formá-las para um Mundo difícil, que não é tão fácil como foi o meu. Não acredito que os filhos se conquistam com a materialidade, pelo contrário, acho que temos de lhes dar experiências e temos de os formar para serem mais rijos, trabalharem o sacrifício e a disciplina. Porque nada na vida se consegue sem esforço, e faço-as perceber que isto tanto é válido para mim como para elas. Hoje, a sociedade está um bocadinho “em falta”, e para termos sucesso e sermos felizes, temos de ser muito resilientes. Tento passar-lhes isso porque eu sou, e é fundamental na formação. Mas passo também alegria, métodos para resolver momentos da vida, e muito carinho, que é fundamental. Por vezes não é o tempo que se dá, mas a qualidade do tempo que se dá. Temos de estar lá quando os filhos mais precisam, e estar atentos e ter abertura para virem ter connosco em qualquer adversidade, porque é isto que mexe com a segurança e a auto-estima deles.
O projecto alentejano Aldeia de Cima é ainda mais pessoal, seu e do seu marido Francisco. Liga-se talvez a essa necessidade de “pé na relva” e na terra…
O Alentejo tem uma coisa que é a imensidão. Uma pessoa passa dois dias no Alentejo e fica lavada mentalmente. É lá que temos uma casa nossa, onde recebemos amigos. É um escape para mim, muito importante.

De onde vem essa ligação ao Alentejo, e porquê ali, na serra do Mendro?
A Herdade Aldeia de Cima era do meu pai, e eu sempre fui para o Alentejo em miúda, nas férias e não só. Ele tinha várias propriedades ali, mas esta foi onde plantou mais sobreiros. Sempre adorei os alentejanos e a cozinha alentejana. Quando chegaram os confinamentos do Covid, foi para lá que fomos, e tivemos mais tempo para absorver a cultura alentejana. O Alentejo tem uma identidade muito própria, extremamente forte. É uma região onde as mulheres têm um papel muito, muito importante. A mulher é um símbolo alentejano.
Todo este envolvimento teve também a ver com a fase em que o meu pai estava, no final da sua vida. Eu pensava muito, e às vezes falava com ele sobre isso, que quando fosse mais velha, mais para a altura da reforma, faria uma vinha no Alentejo. Mas a pensar que seria mesmo muito mais tarde. Acabei por querer fazer mais cedo. Mas com que dimensão? O Alentejo já tem tanta coisa, onde é que nós nos vamos encaixar? Quais as castas que iriamos usar? Obviamente que fomos para as locais e tradicionais, nunca uso castas “estrangeiras” nos meus projectos. E sabia que não queria usar Touriga Nacional, porque embora seja uma excelente casta, mascara as outras e iguala os lotes. Mas encarei este projecto muito como “se der, dá, se não der, paciência, tentei”. Acabou por dar, e fiz pequenino, como eu queria, para usufruir.
Todos temos o nosso papel, e todos os modelos de negócio são válidos, desde que dêem dinheiro. Se não, não são bons negócios.
Porquê fazer a vinha em patamares no Alentejo?
Como estamos ali na Serra do Mendro, com aquela altitude, e tivemos de escolher os pedaços de terra onde não havia sobreiros, naquele sítio foi o que se adequou mais. Pouco terreno ali era plano. O meu marido perguntava-me, “mas onde é que tu vais plantar vinha?!”, e eu respondia-lhe, “eu acho que dá… um bocadinho aqui, outro ali…” [risos].
A Taboadella, no Dão, representou um grande desafio para si e para a equipa técnica, sair da zona de conforto e ir de encontro ao desconhecido. Porquê o Dão?
Nós e as nossas equipas sempre visitámos outras regiões vitivinícolas, e houve um dia, em 2008, que fomos ao Dão. Houve duas ou três coisas que me saltaram à vista: uma, foi o Alfrocheiro, que me encantou imenso. Outra, foi o preço baixo dos vinhos. E a terceira, o potencial da região, ali estava tudo por fazer. A região estava adormecida. E eu tenho de dizer: eu acho que anda toda a gente distraída em relação ao Dão. Não entendo a falta de investimento na região. Lá fora, todos a conhecem, os vinhos são fabulosos, brancos e tintos. Sustentável por natureza, porque produz bem, e na Taboadella não temos um pingo de rega. Mais mão-de-obra do que nas outras. Há licenças para plantar e muitas pequenas parcelas que podem produzir vinhos fabulosos, por vezes em sítios que ninguém imagina. Está rodeada por cinco montanhas. Está a menos de hora e meia do Porto. Por tudo isto, eu não compreendo a falta de investimento no Dão.
É isso que a move? Estar tudo por fazer?
Sim. Não me desafio nada com coisas já feitas. O que me move é fazer, é a parte de que eu mais gosto, desenvolver, criar. E aquela quinta, onde agora é a Taboadella, estava quase em hasta pública quando a fomos ver. Quando lá chegámos, adorámos o que vimos. Estava a precisar de muita coisa, mas era forte, tinha uma energia… E havia lá umas cubas de inox, com vinho tinto. Provámo-lo e pensámos, “se isto está assim, com estas condições… com melhores…”, e foi isto que nos fez, na verdade, comprar a quinta. E desde o início que soubemos que o nosso projecto seria para um segmento superior, de aposta no Encruzado e na Touriga Nacional, claro, mas também de fazer vinhos com outras não tão utilizadas, até porque, sobretudo no que toca ao Encruzado, o encepamento desta casta não é infinito, por isso achamos importante fazer vinhos com outras castas do Dão. Por isso também replantámos uma parte da quinta, sobretudo para termos mais brancos, acima de tudo, Encruzado.
Talvez o maior desafio no Dão seja vender os topos de gama. Há poucos produtores a produzi-los de forma consistente, como noutras regiões. E eu volto a dizer: estão todos distraídos. Andam todos a olhar para outras coisas, que são importantes, mas o Dão, no futuro, tem todas as condições para ser importantíssima em Portugal. Quem não gosta de vinhos do Dão? Mesmo lá fora, outros produtores de grandes regiões, todos os adoram.
Talvez o maior desafio no Dão seja vender os topos de gama. Há poucos produtores a produzi-los de forma consistente, como noutras regiões.
Como foi ser um “estrangeiro” no Dão, com ambições de criar um projecto vitivinícola desta envergadura?
Correu muito bem, fomos acarinhados por todos, mas também porque entrámos com respeito, e com um bom propósito, que era o de investir na região. Depois, sempre estivemos abertos a receber as pessoas do Dão e elas perceberam isso. Não fizemos nada de diferente na íntegra, porque também acreditamos no trabalho que está a ser feito nos vinhos da região. O que fizemos de diferente foi introduzir mais métodos de vinificação e tecnologia, para nós o cimento era obrigatório. percebemos que os vinhos do Dão não precisam de muita madeira, e é uma pena quando têm demasiada. E criámos um portefólio com bastantes vinhos, e isso foi logo um grande desafio. De repente chegámos ao mercado com 8 vinhos do Dão, e isso pode ter chocado um bocado.
Nós temos de pensar que ao fazermos um projecto, ele tem de viver o local. Temos de ter a identidade. Temos de estudar, ir as raízes, a história, falar com as pessoas da região e de perto, para nos inspirarmos. Não é só inspirar no estético, no belo, mas também nas pessoas e no vinho. Tem de haver uma inspiração, uma matriz. Uma gama tem de respirar uma quinta. Por isso é que os nossos projectos são muito diferentes uns dos outros.
Os projectos vitivinícolas com “assinatura” Luísa Amorim têm todos um standard de qualidade muito alto, desde a viticultura às garrafas, passando pelo no turismo, pela adega e até pela própria arquitectura e decoração dos espaços. Esta exigência vem de onde?
Vem da cultura da minha família, do que nos foi incutido a todos, e da sorte de eu gostar muito de fazer desta forma. Nós, para nos metermos num projecto, numa nova quinta, tem de ser bom. porque “mais ou menos” não é linguagem para nós. Temos de acreditar no que vemos. Eu não sei trabalhar por trabalhar. Mas é tão válido um trabalho de baixo preço como de alto preço, são duas especialidades diferentes. E eu não sei trabalhar no baixo preço, não sei mesmo. A minha especialidade é trabalhar este conceito premium, pelo desafio, sobretudo. Eu não sou especialista em negociação de preço, mas sim na criatividade, na inovação, no contexto. Todos temos o nosso papel, e todos os modelos de negócio são válidos, desde que dêem dinheiro. Se não, não são bons negócios.

A pior coisa que se pode fazer é adormecer no sucesso. Quando não se sente necessidade de evoluir, está o caldo entornado...
A Luísa fundou a IPSS Bagos d’Ouro. O que deu origem a esse “chamamento” social ligado à região?
Quem mais me cativou para fundar a Bagos d’Ouro foi o meu marido. Ele via que eu poderia fazer alguma coisa neste sentido, no Douro, pelo que eu via aqui na região e conversava em casa. Um dia decidi avançar, e o meu amigo Padre Amadeu aceitou fazê-lo comigo. Decidimos trabalhar com crianças, porque serão elas o futuro da região. Começámos pequenos, com garrafas Quinta Nova solidárias e jantares solidários. Quando consegui juntar fundos suficientes, contratámos duas pessoas, especialistas na parte técnica social. A partir daí, fomos crescendo, já são 13 anos e é um trabalho muito bonito, maravilhoso. Precisamos sempre de juntar fundos, porque temos zero dependência do Estado. É uma Associação que presta contas, mas à sociedade, e a mais ninguém. Mas é assustador ao mesmo tempo, porque agora não podemos falhar, somos responsáveis por muitos jovens e crianças, e não as podemos desiludir.
Temos o sonho de fazer algo no Alentejo, não exactamente a mesma coisa, mas algo que achamos que ainda falta na região. Mas ainda vai demorar…
Ao longo de todos destes 23 anos no mundo do vinho, fazem-se muitos amigos?
Acho que sim, houve muita gente que me deu a mão, e que tem a minha mão. É um mundo de mais amigos do que inimigos. Sobretudo porque todos sabemos que é um trabalho difícil, onde o sucesso é difícil de alcançar. Sabemos que temos de nos proteger uns aos outros, no que toca às relações governamentais, comerciais, humanas… temos de ser abertos no know-how e na passagem dele. Se não partilharmos, não crescemos. O mundo do vinho está sempre a evoluir: a garrafa é a mesma, mas o vinho não é o mesmo. A gastronomia está sempre a mudar. Se o que se come muda, o que se bebe também. Parece mentira, mas há 30 anos era difícil encontrar uma bolonhesa em Portugal. Comia-se massa, sim, mas não era à bolonhesa. Há muito menos anos do que isso, qual era o português que comia sushi? Todos nós evoluímos, e o mundo do vinho tem isso, estamos sempre a ser desafiados e incentivados a melhorar. Uma pessoa acaba de engarrafar um vinho, e já está a pensar que no próximo fará diferente. A pior coisa que se pode fazer é adormecer no sucesso. Quando não se sente necessidade de evoluir, está o caldo entornado…
Enquanto acharem que uma empresa pode produzir de tudo, do baixo ao alto, a região não vai crescer em preço.
O que é que ainda falta fazer, a nível profissional? Qual o próximo passo? Expandir o negócio do vinho para mais regiões?
Não gosto muito desta pergunta, até porque eu sou uma pessoa que, apesar de gostar muito de criar e de fazer, não pensa muito no futuro. Porque por vezes aparecem coisas de que não estávamos à espera, ou não temos oportunidade de fazer aquelas que pensámos fazer. Se me perguntarem o que falta fazer no que já tenho, aqui na Quinta Nova falta muita coisa. Por ser a nossa mais antiga, está no ponto de rebuçado para refazer. O estatuto e a marca que tem, também o exige.
E na região do Douro, o que falta?
Falta imenso. Temos um preço médio muito baixo, temos de o subir, é um preço-médio irreal. É urgente fazê-lo. Acho que é preciso as empresas perceberem que, no mercado, ou têm uma oferta, ou outra. Porque enquanto acharem que uma empresa pode produzir de tudo, do baixo ao alto, a região não vai crescer em preço. Porque o cliente vai querer sempre o preço mais barato. Temos de assumir se somos de nicho ou não. E acho que é por isso que o Douro não se assume mais, internacionalmente. Porque não se organiza, temos de querer mais, reformular as adegas, e dizer “não, eu isto não faço”.
Mesmo as pessoas que no Douro já estão orientadas no mercado, orientadas com a sua marca, com as suas contas confortáveis, têm de estar disponíveis para investir novamente. O investimento no Douro ainda não acabou… de todo. Há a ideia de que “Portugal tem tão bons vinhos, nem precisa de exportação”. Portugal tem bons vinhos, como todo o mundo tem. Desculpem-me, sou portuguesa e amo o meu país, mas não nos chega ter bons vinhos. Qualquer pessoa com vontade e um bom pedaço de terra, faz vinho. Mas falta mais do que isso. Porque fazer um grande vinho, sem investimento, só se faz uma vez. Nós não podemos pensar o vinho como pensávamos há 20 anos atrás, nem a vinificação, nem a parte comercial. Produtores novos surgem todos os dias, temos de ser mais aguerridos. Reforço que não podemos abdicar do preço. É muito duro, é difícil. Mas é um caminho que temos de definir. O produtor de nicho não pode estar em todos os canais, como o produtor de massas. Em Itália, na Toscânia, o “Super Toscano” foi um fenómeno que demorou 40 anos a construir. O Douro merecia algo assim, algo que nos levasse a mais notoriedade no mercado externo.

Gostava que me perguntassem, que perguntassem aos produtores de vinho do Douro, o que acham que o vinho do Porto poderia fazer para vender mais, e vice-versa.
Porto ou Douro, ou ambos?
Há até quem ache que a região deveria ser só para o vinho do Porto, o que é totalmente errado. As uvas para vinho DOC Douro têm vindo a subir o preço, e o mercado pede-o tanto, que provavelmente haverá um problema de matéria-prima no futuro. E tirando aqueles vinhos do Porto muito envelhecidos, os preços não são assim tão diferentes… os topos de gama do Douro estão a 150 e 250 euros. Quantos Porto Vintage estão a estes preços à primeira? A DOC Douro, apesar de não comercializar vinhos velhos, como tawnies velhos e colheitas antigas, tem um preço médio apenas 13,5% abaixo do vinho do Porto.
Na verdade, para mim o Douro é duas regiões, a de vinho do Porto e a de vinho DOC Douro. Sou produtora de vinho do Douro e tenho de dizer que não faço mais vinho do Porto porque não vendo. O Douro tem de separar bem as coisas, homogeneizar a legislação para um lado e para o outro. Fala-se muito de um lado, mas não se fala do outro. E eu quero dizer aqui que nas grandes notícias sobre a estratégia para a região, são sempre os grandes senhores do vinho do Porto, e ninguém do vinho Douro fala. Porque não há voz, não há instituições, não há isto e não há aquilo. Não se pode negar que os vinhos Douro são estruturantes para a região.
Dizem que o Douro tem muita vinha. Isso é mentira. Se pegarmos na produção de vinho do Douro e de vinho do Porto, como dois sectores, vemos que afinal não é tanto. Na verdade, a vinha disponível para cada tipo de produto é de cerca de 20 mil ha. E quantidade de vinha que tem vindo a ser abandonada, e a que está cadastrada, mas abandonada…
Não há uma voz igualitária, nem os dois são ouvidos da mesma maneira. Não se está a tentar consertar o melhor caminho entre os dois lados. Ninguém pergunta a um produtor de vinho do Douro o que pensa da região, ou que estratégias é que se poderiam tomar. Isto é um assunto que me preocupa muito. Gostava que me perguntassem, que perguntassem aos produtores de vinho do Douro, o que acham que o vinho do Porto poderia fazer para vender mais, e vice-versa.
Se lhe perguntassem isso, qual seria a resposta?
Uma das minhas “teimosias”, é que não deveria haver stock mínimo de vinho do Porto. Hoje, uma pessoa jovem tem de pensar duas, três, quatro, oito vezes, antes de produzir vinho do Porto. E não se produz mais vinho do Porto por causa destas coisas. Não tenho nada contra a lei do terço, tenho contra não haver liberdade. Se fizermos as contas a 75 mil litros de vinho parado… as pipas, o armazém, o líquido parado. Mas alguém tem dinheiro para isto? É um luxo arábico. Algum jovem vai ser burro ao ponto de se meter nisto? E já falei várias vezes para o sector, “vocês não vêem o que estão a fazer, a matar o sector do vinho do Porto?”. Daqui a 15 anos vai-se precisar de mais enólogos de vinho do Porto, e as empresas vão ver-se aflitas para os arranjar… Ter este peso, de que é um sector super-estruturado e super-legislado, que não se pode mudar, não vai ser bom para ninguém. Tem de haver mais gente a fazer e vender vinho do Porto porque, mesmo com 2 séculos de história, este perde quota nos últimos 20 anos para o DOC Douro, que não pára de crescer. Segundo o Ranking de 2022, a região do Douro tinha 535 empresas a comercializar DOC Douro e apenas 133 empresas a comercializar Porto. Mas é interessante que, apesar de tudo, haja jovens empresas com vontade de oferecer ao mercado vinho do Porto, mesmo não sendo fácil de vender.
Por isso, acho que temos de ser livres, não acho que faça sentido ter de pedir uma licença para vinho do Porto e outra para vinho do Douro. Eu tenho de ser livre para das minhas uvas fazer um produto ou o outro. Mas, quem tem a vinha abandonada no Douro, não pode nem deve ter licenças. A fiscalização deve estar aqui, a intervir. Os vinhos do Douro são os que têm dado notoriedade ao nome “Douro”. Em 20 anos, já fizemos o mais difícil. Mas onde nos queremos posicionar? E o que temos de fazer para isso? Também não podemos estar mais 20 anos neste cenário, temos de progredir. Mas não estamos todos a remar para o mesmo lado. Se queremos apanhar o próximo comboio, o vinho do Porto e o vinho do Douro têm de estar juntos, de mãos dadas.
Se queremos apanhar o próximo comboio, o vinho do Porto e o vinho do Douro têm de estar juntos, de mãos dadas.
Um conselho para os jovens empreendedores, que queiram fazer vida profissional no mundo do vinho.
Estudar bem o mercado. Não chega ser criativo. Temos de ser humildes, respeitar o que já lá está, e perceber onde nos podemos diferenciar. Se quero entrar, tenho de acrescentar. Depois, ter capacidade de trabalho, e dar muita importância à área comercial e ao marketing, fazer o mercado. Para vender um vinho, tenho de vender um contexto. E atenção às adegas! Aconselho a não fazer logo uma adega de início ou, a fazer, uma mais pequena e simples. Por último, nunca desistir. O mundo do vinho demora muitos anos, talvez dez, no mínimo, e vinte para ter sucesso…
(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)
XXVI Talhas: O legado de Mestre Daniel

Vila Ruiva, a aldeia onde minha mãe nasceu e que deixou ainda adolescente para ir estudar em Lisboa, está ali, a apenas 3 quilómetros. Cresci a ouvir contar histórias das rivalidades entre Vila Ruiva e Vila Alva e dos bailes de sábado à noite numa ou noutra destas povoações do concelho de Cuba, os quais […]
Vila Ruiva, a aldeia onde minha mãe nasceu e que deixou ainda adolescente para ir estudar em Lisboa, está ali, a apenas 3 quilómetros. Cresci a ouvir contar histórias das rivalidades entre Vila Ruiva e Vila Alva e dos bailes de sábado à noite numa ou noutra destas povoações do concelho de Cuba, os quais terminavam invariavelmente em pancadaria entre os locais e os “estrangeiros”. A primeira vez que visitei Vila Ruiva foi em 1988 ou 89. Gostei tanto que acabei por comprar e reconstruir uma pequena e velha casa no centro da vila.
Com o tempo e as frequentes visitas, aprendi a amar igualmente as duas aldeias e fiz amigos em ambas. Amigos que, em cada visita, me levavam a tomar uns copos de vinho de talha, acompanhados do imprescindível “petisco”, nas tabernas que há 30 anos ainda existiam nestas localidades. As de Vila Ruiva desapareceram, entretanto. Em Vila Alva, porém, a arte do vinho de talha manteve-se, mais discreta, sem porta aberta, na casa de alguns teimosos que em cada vindima enchiam um ou dois potes. Até que, em 2018, um grupo de jovens resolveu lançar-se “à séria” na produção de vinhos de talha, reactivando uma das mais famosas adegas da vila, a do Mestre Daniel. Cinco anos depois, Vila Alva tornou-se uma referência incontornável nos vinhos de talha do Alentejo, com animação constante ao partir do São Martinho e, cada vez mais, o ano todo.

Daniel António Tabaquinho dos Santos, nascido em 1923, era carpinteiro e, como acontece ainda hoje no Alentejo mais recôndito, o seu jeito para o ofício granjeou-lhe o estatuto de Mestre, algo que se alcança não pelo grau académico, mas sim pelo reconhecimento da população. É o povo que decide se fulano ou beltrano é ou não Mestre. E quando passa a tratá-lo como tal, o designativo fica para a vida, associado ao nome próprio. Mestre Daniel, portanto, fazia a sua carpintaria na adega onde também fazia o vinho, seguindo a tradição familiar. Durante três décadas produziu e vendeu vinho, a partir de 22 talhas de barro de diferentes tamanhos (algumas do século XIX) e 4 talhas de cimento armado construídas nos anos 30, ali mesmo, em Vila Alva. Após o seu falecimento, em 1985, as talhas ainda viram uvas durante alguns anos, mas a adega acabaria por fechar as portas em 1990.
Até que, em 2018, seus netos Alda e Daniel Parreira, decidiram recuperar a tradição e o legado de Mestre Daniel. Para tal, desafiaram outros dois jovens, tal como eles nascidos e criados em Vila Alva e acostumados à “cultura da talha”: o designer Samuel Pernicha e o enólogo Ricardo Santos, este último com um percurso profissional que passou pela Herdade Grande, Califórnia, Nova Zelândia, Malo Wines e Quinta do Carneiro. A eles juntou-se Luis Garcia, marido da Alda, que “ajuda em tudo um pouco” e dinamiza o enoturismo.
“Sempre foi um sonho que tivemos desde a infância”, dizem. “O objectivo, para além de reactivar adega do Mestre Daniel, sempre foi o de promover a nossa aldeia e a grande tradição do vinho de talha, com mais de 2000 anos e que tem vindo a passar de geração em geração até aos dias de hoje. Acreditamos que o vinho de talha pode trazer uma nova vida a Vila Alva.”
Quando se lançaram, em 2018, não faziam a mínima ideia de como o mercado iria reagir. A “onda” do vinho de talha estava ainda no início, pelo que foi com algum receio que fizeram apenas sete ou oito talhas nessa vindima. No ano de 2022 vinificaram já em todas as 26 talhas da adega, enchendo 24 mil garrafas. A distribuição a nível nacional, feita pela Vinalda, tem vindo a dar também outra envergadura ao projecto.
Uvas, só da freguesia…
O perfil bastante clássico dos vinhos da XXVI Talhas exige uvas muito específicas desta sub-região da Vidigueira. O projecto assenta assim em algumas pequenas parcelas de vinha das famílias de Ricardo Santos e dos irmãos Parreira e também em uva comprada a viticultores locais. Quando digo locais, é locais mesmo. “Só queremos uvas da freguesia de Vila Alva”, acentua Ricardo Santos. “E apenas de vinhas antigas, não regadas, plantadas nas zonas de xisto e granito, com castas misturadas e enxertadas no local.” Um caderno de encargos que, apesar de tudo, não é difícil de cumprir, já que, por um lado, nos arredores de Vila Alva existem diversas vinhas com estas características; e, por outro, muitos pequenos viticultores da freguesia, de idade já avançada, veem no entusiasmo destes jovens uma forma de manter as suas parcelas. As castas são o mais tradicional possível: Antão Vaz, Perrum, Roupeiro, Diagalves, Manteúdo, Trincadeira, Aragonez, Tinta Grossa.
“A aceitação dos nossos vinhos e o interesse pelo nosso projecto têm sido fantásticos”, referem. “Para além do lançamento de vários vinhos e das visitas à adega, conseguimos em maio último organizar em Vila Alva o evento ‘Vinho na Vila’, com 32 produtores e 600 visitantes, cumprindo assim o nosso outro propósito: promover a nossa aldeia”.

A paixão por Vila Alva, pela sua história e cultura, está presente em todas as conversas com os membros da XXVI Talhas. E não apenas nas palavras, também nas acções. “Quando recebemos clientes ou amigos na nossa adega tentamos sempre mostrar a aldeia e outras adegas onde se produz vinho de talha, mesmo que não seja para comercialização”, dizem-me. “Saber que em breve haverá mais produtores de Vila Alva, que vão passar a certificar e a engarrafar vinho de talha, ainda nos deixa mais orgulhosos e motivados. E ideias não nos faltam para continuar a fazer mais e melhor”.
O projecto da XXVI Talhas tem todos os ovos no mesmo cesto, ou seja, só produz vinho de talha, um vinho com perfil muito específico e para um nicho de consumidores especiais. Será arriscar muito? “Penso que não”, afirma Ricardo Santos. “Estamos optimistas com o panorama actual, com cada vez mais produtores e adegas a apostar nesta técnica. E a nível internacional vemos uma procura crescente por parte de um consumidor que procura vinhos genuínos e diferenciados. O interesse das pessoas em visitar as adegas tradicionais ajuda a consolidar tudo isto. Pela nossa parte, tudo faremos para que o vinho de talha não seja apenas uma moda, mas sim algo que possa fidelizar consumidores.” E, já agora, acrescento eu, trazer gente a conhecer Vila Alva. Sem esquecer que Vila Ruiva, tão linda, está mesmo ali ao lado…
(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)
Editorial: Rosa

rosa, rosae rosae, rosarum rosae, rosis rosam, rosas rosa, rosae rosa, rosis Editorial da edição nrº 75 (Agosto 2023) Parece impossível, mas passado tanto tempo desde o antigo sétimo ano dos liceus, a primeira das cinco declinações latinas que tanto me custaram aprender ainda surge, fresca, na minha cabeça sempre que se falam de […]
rosa, rosae
rosae, rosarum
rosae, rosis
rosam, rosas
rosa, rosae
rosa, rosis
Editorial da edição nrº 75 (Agosto 2023)
Parece impossível, mas passado tanto tempo desde o antigo sétimo ano dos liceus, a primeira das cinco declinações latinas que tanto me custaram aprender ainda surge, fresca, na minha cabeça sempre que se falam de rosas ou, já agora, de rosés. A inutilidade da coisa sempre me surpreendeu. Porque diabo continuo a guardar no cérebro espaço para isto? Mas, provavelmente, estarei a ser injusto com o meu esforçado professor de latim. A verdade é que os rudimentos da língua morta que me ficaram na memória tiveram algum préstimo ao longo da vida, ajudando a mais facilmente navegar pelos vocabulários de outras línguas, sobretudo as de origem latina, mas não só. No caso concreto, serviu-me também para introduzir o assunto dos vinhos com a cor das rosas, ou melhor, a cor que é suposto as rosas terem. Vinhos esses que são tema de capa desta edição de agosto da Grandes Escolhas.
Tão complexas e diversas são as declinações latinas quanto o mundo dos rosés. Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. “No princípio era o Mateus”, parafraseando o versículo bíblico. Exaltado no estrangeiro, vilipendiado em Portugal, acusado de ser “vinho de senhoras” (curioso “insulto” este…) ou, pior ainda, nem ser vinho. Certo é que o velhinho Mateus continua a dar cartas e, acreditem, na sua versão “dry” bate muitíssimos rosés bem mais caros e engalanados.
Mas os rosés são, como acima disse, um mundo. Há-os de todas as tonalidades, intensidades, qualidades, castas, origens, teores de álcool ou açúcar. E a diversidade estende-se também ao nível de ambição. Nos últimos cinco ou seis anos são cada vez mais os rosés portugueses que se instalam, não nas competições distritais, mas na liga dos campeões. Entre os 52 rosés que Valéria Zeferino provou para esta edição, cerca de metade custa mais de €15. E muitos estão bem acima dos €20. E o melhor de tudo? Valem bem o que se paga por eles!
Já tive algumas vezes oportunidade de provar, com amigos estrangeiros que fazem da escrita de vinhos profissão, alguns dos melhores rosés nacionais ao lado de nomes grandes da Provence, incluindo a marca preferida de Uma Thurman (e os gostos da gloriosa Uma merecem toda a minha atenção). E cada uma dessas vezes eu, que em nada sou adepto do “nacional é bom”, constatei com imenso gozo a coça que os franceses levaram.
Há quem diga e escreva que o rosé é um tinto que quer ser branco ou um branco que quer ser tinto, não conseguindo nunca fazer tudo o que um tinto ou branco fazem. Permitam-me discordar com veemência. Um rosé de topo não é um mero substituto para os dias de calor. Quando é grande, é grande, tal como um branco ou um tinto. Apenas, num aspecto deixo o benefício da dúvida. Sempre acreditei que um vinho para ser grande necessita passar a prova do tempo. Acontece que o histórico de Portugal em rosés de topo é recente. Mas ainda assim, tenho em casa rosés de que gosto, com quatro ou cinco anos de idade, e que se mostram melhores do que nunca. Vamos deixá-los estar e conversamos depois.
Outros Prazeres: Lunes, sangria de espumante

Confesso-me um detractor de sangrias. Não por princípio canónico, e muito menos por fidelidade canina ao vinho. Antes por experiência de décadas a provar sangrias demasiado doces e consistentemente malfeitas, em via de regra, segundo um estranho ritual de adicionar a um vinho tinto básico todas as demais bebidas disponíveis ao balcão; mais gelo e […]
Confesso-me um detractor de sangrias. Não por princípio canónico, e muito menos por fidelidade canina ao vinho. Antes por experiência de décadas a provar sangrias demasiado doces e consistentemente malfeitas, em via de regra, segundo um estranho ritual de adicionar a um vinho tinto básico todas as demais bebidas disponíveis ao balcão; mais gelo e soda, frutas da temporada, e por vezes canela e outros mistérios. Poder-se-á argumentar que existe, na sangria, uma certa alquimia, mas isso não é verdade, pelo menos nos restaurantes e bares que conheço. Alquimia existe nos bons vermutes e nos cocktails, mesmo aqueles em que se utiliza Champagne. Por isso, os melhores vermutes são feitos por enólogos, e os melhores cocktails por mixologistas. Com efeito, o problema principal da sangria é a falta de uma receita ou fórmula que fixe as melhores matérias-primas e as devidas proporções. Alguns dirão que há um fenómeno de democratização da sangria. Eu, que sou democrata, acho que o fenómeno é de abandalhamento. O pouco profissionalismo em redor da sangria explica-se, em parte pela sazonalidade do seu consumo, parte pela pouca formação de alguns profissionais do sector, aspecto que, importa realçar, tem melhorado muito nos últimos anos, precisamente devido à formação superior. No nosso país, todos fazem sangria, e de forma diferente. A regra é não a haver. Muda de restaurante para restaurante. E no mesmo restaurante, altera de dia para dia, conforme os ingredientes disponíveis e o pessoal responsável pela sua execução.

Certo que a sangria de espumante pode ser uma categoria à parte, desde que bem feita, entenda-se. Com um bom espumante seco de base, que possa contrabalançar a doçura da fruta a ser adicionada, e o vinho tinto jovem, e nada de licores calóricos capazes de baralhar qualquer papila gustativa. Mas a sangria de espumante, que tem uma vivacidade que a mera sangria não tem, também não deve ser sujeita a amadorismos. Mais a mais, com as tendências actuais bem determinadas, como seja, baixo grau alcoólico, baixo grau calórico, privilegiando-se um perfil de acidez vibrante e evitando os açucares adicionais. Por isso fiquei feliz por constatar que apareceu, recentemente, no mercado, a Lunes (ou Lu-nes). Define-se como uma sangria de espumante “ready-to-drink” e “ready-to-serve”, o que, em português, quer significar que pode ser bebida a solo ou servir de base para outras bebidas. Provada, podemos confirmar que serve ambos os propósitos. A solo, privilegia no aroma notas a hortelã da ribeira e um perfil vegetal e especiado, enquanto na boca revela referências a goiaba e hibisco, com uma boa acidez a amparar alguma doçura frutada. Como base para um cocktail, ou até para uma sangria de espumante 2.0, a imaginação ditará as regras, sendo que a base já lá está a ajudar a definir o produto final, como sucede com tantos cocktails. O consumidor de sangrias, ou de até de espumantes, já sabe com o que poderá contar sempre que pedir uma Lunes; não irá ao engano, e isso já me parece muito bom. Se pensarmos no potencial de crescimento, mais a mais com uma marca de semblante totalmente ibérico (Lunes significa segunda-feira em espanhol) e o turismo a atingir recordes no nosso país, ficamos com pena de não termos sido nós a ter a ideia… Gostei tanto que falei com os responsáveis do projecto que confirmaram o que a minha intuição pressagiava: um sucesso de vendas, incluindo na exportação, e o desenvolvimento em curso de novos produtos, o primeiro dos quais uma versão sangria espumante branca.
 Ainda sobre a Lunes, a sua apresentação é óptima, com a bebida dentro de uma garrafa típica de espumante de qualidade (lembra-me algumas garrafas daquela que é para mim a melhor região de espumantes de Itália: Franciacorta), sendo toda a imagem inspiradora sobretudo para os dias de Verão. Quem se lembra da imagem das primeiras sangrias no mercado pode ficar com a ideia de que esta é totalmente diferenciadora, para melhor. Quanto ao espumante utilizado, o mesmo foi diluído para uns civilizados e consensuais 7% vol., e a pressão mantida entre os 5 bar, ou seja, média-baixa, outra tendência actual, sobretudo junto da restauração. Confirmo que duas pedras de gelo afectam – para melhor – a performance desta fascinante bebida, aconselhando também o seu serviço num copo a rigor, de preferência mais largo que as habituais flutes, pois os aromas exuberantes desta sangria de espumante merecem serem devidamente expostos. Termino como comecei: confesso-me um detrator de sangrias. Contudo, a experiência recente com a Lunes fez-me aproximar da variante sangria de espumante. Lunes ao sol!
Ainda sobre a Lunes, a sua apresentação é óptima, com a bebida dentro de uma garrafa típica de espumante de qualidade (lembra-me algumas garrafas daquela que é para mim a melhor região de espumantes de Itália: Franciacorta), sendo toda a imagem inspiradora sobretudo para os dias de Verão. Quem se lembra da imagem das primeiras sangrias no mercado pode ficar com a ideia de que esta é totalmente diferenciadora, para melhor. Quanto ao espumante utilizado, o mesmo foi diluído para uns civilizados e consensuais 7% vol., e a pressão mantida entre os 5 bar, ou seja, média-baixa, outra tendência actual, sobretudo junto da restauração. Confirmo que duas pedras de gelo afectam – para melhor – a performance desta fascinante bebida, aconselhando também o seu serviço num copo a rigor, de preferência mais largo que as habituais flutes, pois os aromas exuberantes desta sangria de espumante merecem serem devidamente expostos. Termino como comecei: confesso-me um detrator de sangrias. Contudo, a experiência recente com a Lunes fez-me aproximar da variante sangria de espumante. Lunes ao sol!
(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)
Vinhos & Sabores 2023: Já são conhecidas as Provas Especiais

Já é conhecida a lista de PROVAS ESPECIAIS COMENTADAS a decorrer durante o VINHOS & SABORES (14 a 16 de Outubro, na FIL, em Lisboa) As Provas Especiais são um momento único dentro do Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores. Autênticas Masterclasses concebidas para consumidores que querem aprofundar os seus conhecimentos ou viver uma experiência […]
Já é conhecida a lista de PROVAS ESPECIAIS COMENTADAS a decorrer durante o VINHOS & SABORES (14 a 16 de Outubro, na FIL, em Lisboa)
As Provas Especiais são um momento único dentro do Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores. Autênticas Masterclasses concebidas para consumidores que querem aprofundar os seus conhecimentos ou viver uma experiência memorável de provar vinhos raros, a maior parte deles não acessíveis no mercado, comentados pelos seus criadores.
Lista das Provas e bilhetes já disponíveis AQUI . Os lugares são muito limitados! Assegure já o seu.














