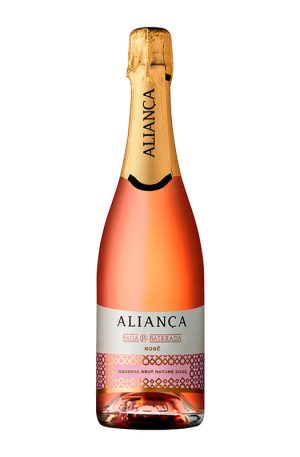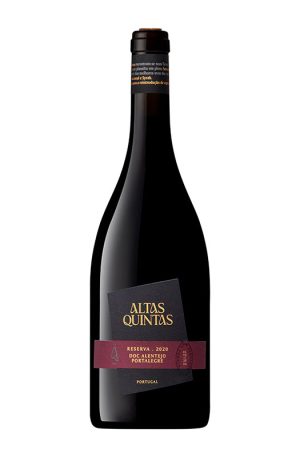Monte d’Oiro com marcas novas

O projecto foi iniciado por José Bento dos Santos e, na altura, ninguém o referenciava como estando ligado à produção vinhos. De facto, a ligação era mais emocional e gastronómica, uma vez que era comprador habitual de vinhos, sobretudo franceses, e a sua longa experiência entre tachos e fornos ajudavam, depois, a que os vinhos […]
O projecto foi iniciado por José Bento dos Santos e, na altura, ninguém o referenciava como estando ligado à produção vinhos. De facto, a ligação era mais emocional e gastronómica, uma vez que era comprador habitual de vinhos, sobretudo franceses, e a sua longa experiência entre tachos e fornos ajudavam, depois, a que os vinhos ganhassem mais esplendor com a sofisticação culinária que praticava. A quinta foi adquirida em 1987 e, com pequena área de vinha e objectivos ainda incertos, estudou-se o terreno, consultou-se quem sabia, analisaram-se castas e estilos e conseguiu-se chegar ao primeiro vinho, em 1997. Fechou-se assim o primeiro ciclo da história da quinta. Na primeira vindima participou o filho, Francisco, no mesmo ano em que entrou para a faculdade, ajudando o pai na quinta, mas sem qualquer intuito de vir a ser o continuador.
De 1997 a 2007 abriu-se um novo ciclo, com a construção da adega, houve um sucesso óbvio junto da crítica e dos consumidores, continuando a fase da experimentação. A ligação ao célebre produtor do Rhône, Michel Chapoutier, e a Grégory Viennois, abre um novo ciclo a partir de 2007. Planta-se muito mais vinha, inicia-se a experimentação em bio e Francisco vê-se cada vez mais envolvido. Houve um clic? Houve sim, como nos contou.
Quando foi pai e por via da profissão da mulher ser freelancer e não ter licença de parto, Francisco teve direito a cinco meses de licença, o que o levou a ter mais empenho na quinta, também porque Sophie Mrejen (Directora de marketing) também estava de licença de parto. A passagem do testemunho de pai em filho foi natural e óbvia e Francisco ficou a tempo inteiro a partir de 2012.
Fica sempre a pergunta: a passagem a bio valeu a pena? Há diferenças significativas? Francisco não tem dúvidas sobre a valia do método, pela maior resistência das plantas às adversidades climáticas. Mas alerta que isso só é possível porque tem alguém que passa todo o dia nas vinhas, controlando tudo o que se passa. Reconhece o mérito do bio mas, também diz, “é impossível marcar uma reunião com o João Duarte (o homem da viticultura), já que ele nunca está no escritório…”.
Actualmente estão a entrar na quarta década, agora com 30 ha de vinha, o que levou também a que se alargasse o portefólio para entrar na distribuição moderna: há agora a marca Monte d’Oiro, onde pontificam castas nacionais, o que se tornou importante, sobretudo nos mercados externos, e uma nova marca, Oiro, com uma pepita no rótulo, que podem ser varietais, com uvas das vinhas mais novas. A nova coqueluche é o Cabernet Franc e, diz Francisco, “não têm conta as garrafas desta casta que provámos de todo o mundo para perceber o que era e o que deveríamos fazer, claro, com a Graça Gonçalves, a nossa enóloga. O meu pai também participou nessa fase, que foi muito entusiasmante”.
Em termos de mercados externos, a China é um dos principais destinos do Reserva tinto. “Chegam a ir 15 000 garrafas de uma vez”, mas o vinho está um pouco por todo o lado, com a Mistral (Brasil) a ser a importadora mais antiga. Mas também tem vinho nos EUA, Canadá, Suíça. Hoje ainda se estão a lamber as feridas causadas pelo COVID 19, com perdas brutais na facturação. Mas a recuperação está em marcha. O ex-libris da casa? Continua a ser o Syrah do Monte d’Oiro Reserva, “apesar de não ser uma casta portuguesa”. Ao contrário de muitas vozes reprovadoras noutras regiões, aqui continua-se também a apostar na Tinta Roriz, a tal variedade que tem tanto de enigmática e maravilhosa, como de traiçoeira. E Francisco arrependeu-se da decisão de abandonar o trabalho que tinha nas águas de Portugal? “Nem pensar, nem me vejo a fazer outra coisa. Adoro este trabalho”, responde. Isto para o pai, confesso melómano, deverá ser (dizermos nós) música celestial…
(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2024)
QUINTA DO QUETZAL: Deus do Ar, da Terra e da Vinha da Coroa!

O Quetzal é uma das aves mais belas do continente americano, sagrada para todas as culturas mesoamericanas, porque neste animal se fundem o céu e a terra. Em várias das suas línguas, o termo pode também significar “precioso” ou “sagrado”. As penas verdes iridescentes na cauda simbolizavam igualmente o crescimento das plantas na Primavera para […]
O Quetzal é uma das aves mais belas do continente americano, sagrada para todas as culturas mesoamericanas, porque neste animal se fundem o céu e a terra. Em várias das suas línguas, o termo pode também significar “precioso” ou “sagrado”. As penas verdes iridescentes na cauda simbolizavam igualmente o crescimento das plantas na Primavera para os Aztecas e Maias, que viam o Quetzal como o “Deus do Ar” e um símbolo de bondade e luz.
A Quinta do Quetzal fica no coração da região do Alentejo, nas encostas da Vidigueira e nas imediações da mais antiga adega romana do Sudoeste da Península Ibérica. O seu microclima e as suas colinas criam as condições ideais para um terroir único, distinto da típica propriedade alentejana. Os solos xistosos, as diferentes exposições solares e altitudes, permitidas pela topografia em colina, e as áreas plantadas com vinhas velhas, formam uma combinação única no cenário da planície alentejana.
A região da Vidigueira é solarenga e quente. Mas, por estar no sopé Sul da Serra do Mendro, beneficia de ventos frescos veiculados pela serra a partir do oceano Atlântico. Estas condições, que se traduzem em elevadas amplitudes térmicas diárias, dão às plantas o calor que precisam para amadurecer as uvas e o fresco para recuperarem. A sua qualidade, aliada a um trabalho de enologia alicerçado na experiência e no conhecimento profundo de cada planta que compõe os 52 hectares de vinha, permite produzir vinhos que expressam verdadeiramente o carácter da região envolvente.
O vinho da empresa estagia no subsolo a uma temperatura naturalmente fresca, e ao som de uma instalação site-specific de Susan Philipsz.
A colecção da família
Como elemento fundamental da experiência Quetzal foi criado, de raiz, o edifício que inclui o restaurante, a loja e o Centro de Arte. O xisto que reveste as suas paredes destaca-se e integra-se com fluidez na paisagem envolvente, enquanto o espaço circundante foi concebido para incorporar plantas nativas naturais, de modo a maximizar a experiência do habitat natural do Alentejo.
Cees e Inge de Bruin são colecionadores e patrocinadores de arte contemporânea. Mantêm, há mais de 40 anos, juntamente com a família, uma forte ligação a Portugal. O projecto da Quinta do Quetzal expressa a sua paixão pela cultura, natureza, gastronomia e vinhos portugueses, que gostam de partilhar.
Todos os anos, em colaboração com a sua filha, Aveline de Bruin, organizam uma nova exposição na propriedade, em que o ponto de partida é a colecção privada da família (Coleção de Bruin-Heijn) e as suas ligações ao mundo da arte. Até final do passado mês de Setembro, a exposição colectiva “Echoes of Our Stories” (Ecos das Nossas Histórias) reuniu obras de Claudia Martínez Garay, Diana Policarpo, Jennifer Tee, Agnes Waruguru e Müge Yilmaz. As cinco artistas contaram histórias que nos fazem olhar para o mundo à nossa volta de maneira diferente da perspetiva ocidental dominante e nos ajudam a compreender esse mundo. Elas propuseram novas cosmovisões, alternativas espirituais, curativas e futurísticas, nas quais as rígidas dicotomias humano-natureza, acima-abaixo e centro-margem foram subvertidas.
Mas o Centro de Arte Quetzal também apresenta duas instalações site-specific de Susan Philipsz: “Tomorrow’s Sky” (O Céu de Amanhã) e “Sleep Close and Fast” (Dorme Perto e Profundamente), ambas de 2019, revestindo, a primeira, de elevado valor sentimental e motivo de especial orgulho para Inge de Bruin, assim como, hoje, para os seus filhos. Sobre esta peça, a sua autora salienta que o “pássaro Quetzal é o símbolo desta vinha e uma das características da paisagem envolvente é o seu vazio e silêncio”, acrescentando que imaginou, nesta instalação sonora em três canais, “o pássaro conjurado pelo som, abrindo as suas asas sobre a paisagem ao mesmo tempo que esta se funde com o som”.
Surpresa durante o silêncio
Em frente do Centro de Arte, e do restaurante, com a sua janela imensa, no topo da colina da Vinha da Coroa, com as três árvores, a instalação de som começa a cada dez minutos, surpreendendo quem por lá fica a desfrutar do silêncio e a contemplar a serra do Mendro, a Vidigueira, Vila de Frades, a Ermida de Nª Senhora de Guadalupe e, em dias mesmo limpos, a própria cidade de Beja. Foi neste contexto de arte, vinha e beleza natural que fomos recebidos por Reto Jörg, director geral da Quinta do Quetzal, José Portela, enólogo, e Ricardo Tavares, director comercial.
Todos os vinhos da Quinta do Quetzal são produzidos exclusivamente com uvas próprias, numa propriedade dividida em parcelas que definem o carácter da uva juntamente com as suas diferentes exposições solares e tipos de solo, desde os pobres de granito, ao abundante xisto e às terras mais férteis e planas, com alguma argila e algo arenosas.
A propriedade foi adquirida no ano de 2001 e estabelecida por Cees e Inge de Bruin em 2003. Hoje, totaliza 52 hectares de vinha, 70% dos quais com castas tintas (Trincadeira, Aragonez, Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon, Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Syrah e Petit Syrah) e 30% com brancas (Antão Vaz, Arinto, Verdelho e Roupeiro). Destacam-se cerca de 2,5 hectares de vinhas velhas (com mais de 40 anos), que se caracterizam por uma baixa produção, resultando numa forte concentração de aromas, e cerca de 30 hectares de vinhas com idade avançada (com cerca de 20 anos), que se caracterizam por uma produção de uva moderada e espelham, de forma fiel, o terroir da Vidigueira.
Som de embalar na cave de barricas
Na moderna adega, as uvas são introduzidas, pela pura ação natural da gravidade, num processo de vini¬ficação, que abrange cinco pisos, para reduzir o seu manuseio mecânico e a possibilidade de oxidação. O vinho que originam pode envelhecer gradualmente nas caves que se localizam no subsolo, a uma temperatura naturalmente fresca e ao som da segunda instalação site-specific de Susan Philipsz.
A ideia de “Sleep Close and Fast”, instalação de som de canal único, surgiu depois de Susan ter tido conhecimento que se tocava música para as barricas da Quinta do Quetzal, enquanto o vinho nelas estagiava. “Pensei que esta era uma ideia bonita e assim surgiu, imediatamente, o propósito de cantar uma canção de embalar para as barricas”, explica.
A enologia está a cargo de José Portela, enólogo residente desde o início, que mostra um conhecimento profundo e detalhado do Quetzal, que teve Paulo Laureano, primeiro, e Rui Reguinga, depois, como enólogos consultores. Da vindima de 2024, já finalizada aquando da nossa visita, destacou as boas produções das uvas brancas, na ordem das 6/7 ton/ha, “o bom desempenho da Alfrocheiro, Syrah e Petit Syrah e a boa concentração da Aragonez”. Apenas o Alicante Bouschet se ressentiu “do escaldão da segunda quinzena de Agosto”, e “não houve problemas de grau nem de açúcares.”
A Quinta do Quetzal oferece um portefólio diversificado. Começa nos vinhos Guadalupe, que oferecem um excelente equilíbrio entre elegância e frescura nas suas variedades branca, rosé e tinta, e constituem uma boa escolha em termos de custo-benefício, ideais para o consumo diário. Os Guadalupe Winemakers Selection, nas suas versões branca e tinta, oferecem uma complexidade subtil, tendo sido envelhecidos em barricas usadas. Acrescem duas edições especiais, o Quinta do Quetzal rosé, monovarietal de Trincadeira da Vinha da Coroa, e o Quinta do Quetzal Terroir branco, um single-vineyard de Arinto e Roupeiro, com 15 dias de maceração pelicular e envelhecimento em barricas de acácia.
O Quinta do Quetzal Brut é um espumante fresco e elegante, elaborado através do método tradicional a partir de um lote das castas Arinto, Antão Vaz e Perrum, com estágio de 24 meses sobre borras.
Os ícones da propriedade
Os vinhos Reserva representam a porta de entrada da gama Premium da Quinta. São elaborados a partir das melhores uvas selecionadas nos vinhedos da propriedade e envelhecidos em barricas novas de carvalho francês. Os vinhos Família são os ícones da propriedade, produzidos exclusivamente em anos de qualidade excepcional. Longamente amadurecidos, estes vinhos de edição limitada estão disponíveis em garrafas numeradas, reflectindo o compromisso inabalável da família com a sua visão de produzir vinhos ¬elegantes, que se juntam a arte e gastronomia de excepção.
Por fim, a gama Quetzal Rich constitui a oferta fortificada da Quinta, feita à moda do vinho do Porto através de fortificação com aguardente vínica com 77% de álcool. Nas suas versões Rich White, é produzido a partir de uvas Antão Vaz. Na Rich Red, a partir de Alicante Bouschet, sendo ambos envelhecidos em barricas de carvalho francês durante 16 meses.
“A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são”, disse um dia Fernando Pessoa. Talvez seja isto mesmo a experiência Quetzal, a maneira como a família de Bruin sente a Vidigueira, o Alentejo, o vinho e a gastronomia, a propriedade. Nada mais nada menos que a sua representação artística. Brindemos, pois!
(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2024)
-

Quinta do Quetzal Rich White
Fortificado/ Licoroso - 2014 -

Quinta do Quetzal Família
Tinto - 2017 -

Quinta do Quetzal Família
Branco - 2017 -

Quinta do Quetzal Arte Selection
Tinto - 2021 -

Quinta do Quetzal Arte Selection
Branco - 2023 -

Quinta do Quetzal Terroir
Branco - 2021 -

Quinta do Quetzal
Rosé - 2021 -

Quinta do Quetzal
Espumante - 2020
Espumantes Rosé: Bolhas em tons rosa

Novidade, notícia, atenção: este é o primeiro texto com uma seleção exclusivamente dedicada a espumantes rosés portugueses na nossa revista! E os resultados são, no mínimo, excelentes! De tal forma se deram tão bem em prova, que cabe interrogar-nos porque razão não fizemos antes este tipo de seleção? Em primeiro lugar há que dizer que […]
Novidade, notícia, atenção: este é o primeiro texto com uma seleção exclusivamente dedicada a espumantes rosés portugueses na nossa revista! E os resultados são, no mínimo, excelentes! De tal forma se deram tão bem em prova, que cabe interrogar-nos porque razão não fizemos antes este tipo de seleção? Em primeiro lugar há que dizer que provamos muitos espumantes rosés ao longo do ano. Simplesmente não sintetizamos essa prova num único texto. O mesmo se poderá dizer, claro está, quanto a outro tipo muito específico de vinho, do Vinho de Talha ao Porto LBV, que podem merecer tantas vezes uma seleção à parte, mas, por regra, saem mais dispersamente ao longo de várias edições.
Depois, talvez seja melhor colocar já o dedo na ferida, e apesar dos excelentes exemplares nacionais, todos nós – consumidores, vendedores, críticos e produtores – não andamos a prestar a atenção devida à categoria dos rosés espumantes. Salve-nos, a esse respeito, não ser uma falha exclusivamente nossa, uma vez que em Champagne – pináculo da produção de vinhos espumantes – só muito tempo depois do monge Dom Pérignon aprender a controlar a segunda fermentação, é que se passou a valorizar a respetiva versão rosada. Hoje, ao invés, e dependendo das marcas, a versão rosé dos Champagnes (e em alguns Franciacorta italianos) pode ser mesmo mais exclusiva do que os brancos, em parte devido à sua muito menor produção, em parte por alguns exemplares serem absolutamente magníficos (com distribuição em Portugal recomendamos o mítico Cristal rosé, o gastronómico Gosset Grand Rosé e o sensual Billecart-Salmon rosé).
Uma questão de estilo
Como é evidente, um bom espumante rosé em nada fica atrás de um bom espumante branco (não nos referimos aqui aos tintos que deixamos para outra altura). É uma questão de estilo. Aliás, quando um dos melhores produtores de rosé em Portugal, a empresa bairradina Kompassus, quis iniciar-se em espumantes topos de gama, fê-lo em versão rosés, quer com Baga e Pinot Noir juntas, quer com cada uma das castas em estreme. E assim o é, desde logo, porque a partir de uma casta tinta se pode fazer espumante branco ou rosé. Com efeito, quanto à cor e perfil, e não querendo entrar em muitos detalhes, trata-se de uma opção de vinificação do produtor, sendo que uma uva tinta, dependendo da variedade, naturalmente, pode conduzir a um mosto mais claro do que uma uva branca. De resto, a carga fenólica de grande parte das uvas tintas com que se faz espumante é menor do que a das castas brancas (simplificando, esmagando uvas de Pinot Noir e de Chardonnay lado a lado, o mais provável é que o sumo desta última tenha mais cor do que o da primeira). Por isso, e como escrevíamos, a versão rosé depende da escolha na adega, nomeadamente no que respeita ao tempo de contacto do mosto com as películas da uva. Para os vinhos mais delicados utiliza-se apenas o mosto lágrima (tête de cuvée) utilizando-se o método de bica aberta sem contacto com as películas. Em Champagne pode-se utilizar este mesmo método para os rosés, com maior ou menor contacto com as películas, ou produzir espumantes brancos e tintos que são depois misturados. Não sendo este um método maioritário, contribui para alguns dos champanhes rosés com mais carácter.
Rosés de eleição
Mas voltemos à nossa premissa inicial. Não existe nenhum motivo para não eleger um espumante rosé quando nos apetece bolhas, seja a solo, de aperitivo, ou a acompanhar uma refeição. É verdade que a sua produção continua a ser residual face aos brancos, e é verdade que quem pretende um espumante centrado em notas de panificação, ou até com perfil mais cítrico ou floral, não pensa imediatamente numa bebida com tons rosados. E pode ser até que os espumantes rosés tenham herdado, por parte do público, algum do preconceito que existe em relação à generalidade dos vinhos rosés (preconceito que nos afigura estar a desvanecer). Em todo o caso, provando os vinhos, nas suas melhores versões (vários dos recomendados são topos de gama), é impossível ficar indiferente a uma sedução ligeiramente frutada que equilibra as notas fermentativas típicas de uma segunda fermentação e atenua os matizes mais barrocos provocados pela “reação de Maillard”.
Pois bem, quanto à nossa recomendação, não vale a pena guardar segredo e avancemos para a conclusão que já temos vindo a desvendar nos parágrafos anteriores: temos mais espumantes rosés de excelência em Portugal do que pensamos e, definitivamente, do que andamos a beber. Produto ainda valorizado para momentos festivos, acaba muitas vezes esquecido dentro do coffret (palavra francesa para a caixa decorativa em que os champagnes de edição limitada são comercializados) na dispensa. Todavia, e depois de provarmos muitos vinhos e de selecionarmos mais de uma dúzia, não temos dúvida em classificá-los como o melhor acompanhamento à mesa com uma piza (melhor ainda se for levemente picante), com almondegas ou outros pratos à base de carne picada, mas também, e noutro polo, com peixes secos e para maridagens com pratos exóticos (caril em especial). De preferência quando o espumante rosé é bruto natural como grande parte dos que aqui selecionámos, com uma mousse cremosa, cordão vivo e pressão média.
Há, pois, que valorizar os espumantes nacionais, incluindo os rosés, o que passa por compreender que produzir um espumante é muito mais difícil do que produzir um vinho tinto, por exemplo. Outra coisa que por vezes se esquece é que uma premissa base para um bom espumante é a qualidade das uvas que estão na sua génese. Devem ser uvas destinadas exclusivamente a espumante tendo em consideração o álcool provável, pH e acidez total. Uvas demasiado maduras contribuirão para espumantes com demasiado carácter varietal (o que não se pretende) pelo que se deve privilegiar regiões frias para a sua produção ou, nas menos frias, optar por uma vindima precoce. O vinho base para um espumante deve ter entre 10,5% e 11,5% de álcool, uma acidez total entre os 9 a 10 g/l e um pH preferencialmente abaixo dos três. Não espanta, assim, que a produção de espumante, espalhada por todo o território, se concentre em duas regiões onde não falta frescura: a atlântica Bairrada e a montanhosa Távora-Varosa. Na nossa seleção, os vinhos destas regiões puxaram dos pergaminhos (muito bem o Baga-Bairrada da Aliança, que já produz 65.000 garrafas a um preço imbatível), seguidos por regiões de clima também temperado e húmido como Lisboa (sobretudo nos solos calcários) e os Vinhos Verdes. Mas terminamos como começámos, concluindo que em todo o nosso território se produzem grandes espumantes e também na versão rosé que em nada fica atrás da versão branca. Em alguns casos, bem pelo contrário!
Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
(Artigo publicado na edição de Dezembro de 2024)
Grande Prova: Tintos do Alentejo

Se há região presente nos corações dos apreciadores de vinho em Portugal é o Alentejo. E não é só no nosso país, pois há mercados importantes como Brasil e Angola a elegerem a região do sul como a sua favorita. E mesmo aqui ao lado, na vizinha Espanha, já não é raro algum consumo de […]
Se há região presente nos corações dos apreciadores de vinho em Portugal é o Alentejo. E não é só no nosso país, pois há mercados importantes como Brasil e Angola a elegerem a região do sul como a sua favorita. E mesmo aqui ao lado, na vizinha Espanha, já não é raro algum consumo de vinhos alentejanos, sobretudo nos territórios mais próximos da fronteira. O Alentejo é, sem dúvida, uma região firme e regular no que respeita a escolhas dos consumidores.
Nas últimas três décadas, o Alentejo impôs-se graças a um estilo atrativo com produtos de grande qualidade e preços competitivos, tendo sido uma das primeiras regiões a modernizar-se, seja na replantação de vinha apta a produzir quantidade com qualidade, seja na apresentação acessível e excitante das garrafas ao consumidor. Com efeito, na década de 90 do século passado, enquanto outras regiões lusitanas faziam ensaios ou apresentavam os seus primeiros vinhos considerados modernos, já o Alentejo fidelizava clientes com vinhos e marcas irrepreensíveis como Esporão e Monte Velho, Alabastro e Quinta da Terrugem, Tapada de Coelheiros, Marquês de Borba, Cartuxa, Couteiro-Mor, Herdade Grande, ou Quinta do Carmo, sem esquecer o trabalho muito profissional que já se fazia na maioria das cooperativas. Longe da rusticidade, e de vinhos com fenóis típicos de décadas anteriores, os anos 90 colocaram o Alentejo no topo das escolhas dos enófilos que buscavam um perfil mais contemporâneo, em alguns casos até com inspiração internacional. A este respeito, a introdução de castas de fora da região teve a sua quota-parte de importância nesta ascensão, tanto mais que esse movimento teve, no Alentejo, mais sucesso que em qualquer outra região, com a chegada das Tourigas durienses, e das francesas Syrah e Cabernet Sauvignon (e, pouco depois, mas com menos expressão, de Petit Verdot e, mais residual ainda, de Petite Sirah), não por acaso chamadas de “castas melhoradoras”.
A igualmente “francesa adotada” Alicante Bouschet passou de exclusiva a meia dúzia de produtores (com destaque para Mouchão, Quinta do Carmo e Reynolds), para ser quase a segunda casta mais plantada na região, praticamente omnipresente nos encepamentos da planície, de tal forma que, ainda hoje, é difícil (muito difícil mesmo, com exceção do Pêra-Manca) encontrar um topo de gama alentejano sem a presença desta variedade. E tanto assim o é, que já todos consideramos o Alicante Bouschet como uma casta do Alentejo, e a prová-lo temos o impressionante número de 4.352 hectares ali plantados. A comandar esta tendência de vinhos modernos, com fruta límpida e madura, encontrávamos nomes de profissionais incontornáveis na região, produtores e enólogos, como João Portugal Ramos, Júlio Bastos, Paulo Laureano, Pedro Baptista, Luís Duarte e Rui Reguinga, entre outros. Com a entrada no novo milénio, marcas e empresas de sucesso como Malhadinha, Monte da Ravasqueira, Herdade dos Grous, Tiago Cabaço, Ervideira, Rocim, Fita Preta, Casa Relvas, entre muitas e muitas outras, solidificaram o pedestal alentejano junto dos consumidores.
MODERNO E CLÁSSICO
E, assim, chegámos à atualidade. Grande na dimensão territorial e nos seus quase 2000 viticultores e 250 produtores com produção declarada, o Alentejo produz hoje mais de 85 milhões de litros com certificação DO Alentejo e IG Alentejano, e ultrapassa os 120 milhões no total. Com uma produção média por hectare de 5200 litros, o Alentejo afirmou-se como um dos principais motores vitivinícolas no país, sem dúvida o mais aberto a tendências vindas de fora, sem esquecer a atenção à sustentabilidade graças a um eficaz sistema de gestão ambiental. Perante o cenário já descrito, constatamos que os últimos anos confirmam uma estabilidade notável, sentindo-se uma ligeira consolidação perante o aumento do número de grandes produtores (acima de um milhão de litros), o mesmo se sentindo no número de produtores com uma dimensão entre 100 e 200 hectares, que aumentou ligeiramente. Mas este Alentejo atual não é só números. É cada vez mais uma região cosmopolita, que tanto tem certificação de Vinho de Talha e produz vinhos das suas castas autóctones, como dispõe de produtores junto à costa com vinhos de Sauvignon Blanc, Riesling e Pinot Noir marcadamente atlânticos. É uma região que viu renascer o interesse pelo território e património vitícola da Serra de São Mamede e a valorização das vinhas de sequeiro, uma região que tem castas como Trincadeira e Moreto, mas onde também se produz vinho com Carignan e Grand Noir de cepas velhas. Tudo isto!
Quanto à prova verdadeiramente dita, comecemos pelos aspetos mais positivos que dela ressaltaram. Em primeiro lugar, a boa forma de todos os vinhos provados, daqueles com três anos em garrafa até aos com sete ou oito anos. Todos, sem exceção, encontram-se num bom momento de consumo. Aliás, cabe mesmo elogiar a longevidade dos vinhos provados, vários deles ainda jovens no copo, mesmo aqueles com 10 anos (caso do Segredo de Saturno) ou mais (Gloria Reynolds).
Se alguém ainda duvida da longevidade dos vinhos do Alentejo é porque não anda a provar seriamente os vinhos da região. A este respeito ainda, quero deixar um elogio aos produtores alentejanos que conseguem reter uma ou duas colheitas em casa, colocando os seus vinhos no mercado apenas quando o consideram próximo do seu melhor momento. Na nossa prova, encontrámos vinhos, lançados este ano de 2024, das colheitas de 2021 e 2020, alguns casos até de anos mais antigos. Ora, esta capacidade de retenção, quando se trata de uma decisão e não de uma consequência de stocks volumosos, é de aplaudir e deve servir de exemplo para outras regiões. Outra nota muito positiva para a boa qualidade geral das rolhas, com apenas um residual despiste de TCA.
ÁLCOOL A MODERAR
Quanto aos desafios para a região, a prova demonstrou um padrão maioritário de perfil muito bem definido, com várias semelhanças entre si. Vinhos intensos, exuberantes e capitosos, fantásticos na sedução, mas, em vários casos, parecidos uns com os outros. Numa região com sub-regiões tão diversas, e terroirs diversificados quanto à composição do solo e à altitude, e à proximidade do oceano, seria positivo encontrar mais registos e registos mais diversificados. É verdade que, tal como aconteceu com a prova dos topos de Lisboa na edição de outubro, ou na do Douro, na edição de novembro, os topos de gama tendem a uma uniformização no que respeita ao ponto de maturação fenólica e ao uso de barrica, mas, mesmo assim, teríamos preferido encontrar perfis mais espontâneos e singulares.
Vários dos vinhos mais bem pontuados foram precisamente aqueles que, dentro da extrema qualidade, conseguiram revelar maior originalidade, por resultarem de vinhas muito particulares (Vinha da Micaela e Chão dos Ermitas) ou por representarem um estilo quase único (Reynolds e Marquês de Borba Reserva). E, por fim, um outro ponto sensível ao qual, todavia, não queremos fugir: o grau alcoólico dos vinhos provados. Que fique bem claro que não temos nenhum problema com um vinho com 15 ou 15,5% de álcool, se isso for fruto de um ano especificamente quente ou de maior concentração. Não é esse o tema… O tema é, sim, que em quase 40 vinhos provados, de muitas colheitas e terroirs, diferentes (do Alto ao Baixo Alentejo, Este e Oeste), mais de 15 (ou seja, quase metade) contêm álcool superior a 15% vol. e, alguns deles, acima de 16%. Uma vez mais, não critico o nível do álcool nos vinhos. Mas é de difícil sustentação que, em parte desses vinhos, a partir de 15,5% esse álcool não se sinta em prova. O facto de o Alentejo ser uma região maioritariamente quente faz, em alguns casos, que o álcool se sinta com maior acutilância (utilizemos Espanha como exemplo: é manifestamente diferente provar um Bierzo ou Sierra de Gredos com 14,5%, do que provar um Priorat ou Penedés com a mesma graduação).
Por outras palavras, sendo o Alentejo um território com temperaturas elevadas, sobretudo no Verão, com vinhos de grande entrega e poderosos, o álcool pode ser tão atrativo como distrativo, e prejudicar até alguns mercados de exportação. A título de provocação (positiva), veja-se que, na prova dos topos de gama do Douro da última edição (novembro), a média de álcool era sensivelmente 1% mais baixa do que a desta prova que realizamos. Há cinco anos essa diferença não existia.
Tudo isto para deixar uma mensagem de grande otimismo. É precisamente nos momentos de sucesso e consolidação que se deve preparar o futuro e enfrentar desafios, grande parte deles não exclusivos de uma ou outra região. No que ao Alentejo diz respeito, tem tudo para continuar a triunfar: terrenos com tradição de vinha, castas únicas, vários produtores bravos e alguns visionários, enólogos talentosos, gastronomia e património ímpares.
Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.
Artigo publicado na edição de Dezembro de 2024
-

Vidigueira (A Bonança)
Tinto - 2019 -

Porta da Ravessa
Tinto - 2018 -

Plansel Grande Escolha
Tinto - 2019 -

Aldeias da Juromenha
Tinto - 2021 -

Santos da Casa
Tinto - 2019 -

Reguengos Garrafeira dos Sócios
Tinto - 2019 -

Paço do Conde
Tinto - 2018 -

Monte da Barbosa
Tinto - 2021 -

Herdade Perdigão
Tinto - 2018 -

Freixo Family Collection
Tinto - 2018
Rui Reguinga: Um pioneiro na Serra de São Mamede

Tudo começou quando Rui Reguinga contactou com as vinhas e os vinhos de Portalegre logo no início da sua carreira, na sua primeira vindima como assistente de João Portugal Ramos, o consultor da Tapada do Chaves e da Adega Cooperativa de Portalegre na altura. Decorria o ano de 1991 quando recebeu, pela primeira vez, uvas […]
Tudo começou quando Rui Reguinga contactou com as vinhas e os vinhos de Portalegre logo no início da sua carreira, na sua primeira vindima como assistente de João Portugal Ramos, o consultor da Tapada do Chaves e da Adega Cooperativa de Portalegre na altura. Decorria o ano de 1991 quando recebeu, pela primeira vez, uvas das vinhas velhas da primeira, “as únicas que lá existiam na altura” e as do Reguengo, da Adega de Portalegre, “que eram recebidas todas para a mesma cuba, num dia especial seleccionado para isso”, conta Rui Reguinga, acrescentando que foi nessa altura que fez os primeiros contactos com os produtores de uvas locais.
Concretizar um sonho
Anos mais tarde, já no início do segundo milénio, quando decidiu concretizar o sonho, comum a tantos enólogos, de produzir o seu próprio vinho, decidiu iniciar o projecto com base nas vinhas velhas da Serra de São Mamede, que já conhecia tão bem. Não havia, na altura, a informação actual sobre as vantagens de produzir em altitude para atenuar os efeitos das alterações climáticas na vitivinicultura. Mas Rui Reguinga sabia qual era o potencial das vinhas velhas para produzir vinhos de qualidade com menos álcool, mais frescos e grande potencial de envelhecimento. Por isso comprou barricas, pagou “as uvas mais caras do Alentejo na altura” e a uma adega para fazer o vinho, dando os primeiros passos “sem deixar de ter as dúvidas e incertezas de quem é pioneiro”. E foi assim que surgiu o primeiro vinho, um tinto Reserva da colheita de 2004.
Na época, a moda, no Alentejo, era produzir vinhos com muito álcool e maturação. “Por isso, a segunda vinha que adquiri, perto de Marvão, exposta a norte, que tem quatro hectares, não era reconhecida pelo seu potencial”, conta, acrescentando que havia sempre dúvidas sobre o destino a dar às suas uvas quando estava na Adega Cooperativa de Portalegre. “Mas hoje sei que tem grande capacidade para originar vinhos de enorme qualidade, porque produz uvas com acidez e uma boa maturação”, explica.
O tinto de 2004 teve boa aceitação no mercado. Tinha sido feito com base em uvas colhidas o mais maduras possível, para acompanhar a tendência do mercado na altura. “É um vinho com 14% de álcool, mas uma acidez elevada, perto de 7 e um equilíbrio que me incentivou a ficar na Serra de São Mamede até hoje”, revela o enólogo, acrescentando que a aceitação, pelo mercado, de vinhos mais frescos, com o passar dos anos, lhe tirou as dúvidas que tinha em relação à aventura que tinha iniciado uns anos antes. Mas “aquilo que me fez apostar na região foi sobretudo o potencial das vinhas velhas para originarem vinhos com concentração e frescura, aromas com menos fruta, um carácter mais vegetal, com especiarias, e isso foi bem aceite pelo mercado desde o início”, conta Rui Reguinga.
Controlo da viticultura
Depois de verificado o potencial das vinhas velhas da região para originar vinhos distintos, frescos, de altitude, com grande acidez e capacidade de envelhecimento, era preciso investir na marca, e na compra de vinhas para assegurar a manutenção da produção e evitar o efeito da chegada da concorrência à região na potencial escassez da oferta de matéria prima. Rui Reguinga sabia que precisava de fazer isso se quisesse continuar a desenvolver o seu projecto. “Tinha de ser proprietário para controlar a parte da viticultura, porque nem sempre as uvas dos fornecedores estavam em condições para serem transformadas, porque as vinhas não eram acompanhadas e bem tratadas”, explica. Assim, à medida que ia descobrindo vinhas com potencial, alugava-as, fazia o seu maneio cultural, vindimava as suas uvas e avaliava o seu potencial para gerarem vinhos de qualidade. Só depois é que avançava para a proposta de compra. “De preferência irrecusável, mas não superior ao seu valor real”, revela. E foi assim que chegou às suas oito vinhas actuais.
Não sem dificuldades, sem recusas por parte dos vendedores. Mas sempre com paciência da sua parte, sem desânimos, com muitas visitas e o estabelecimento de relações de confiança com os proprietários das vinhas. “Foi num tempo em que isso era, talvez, mais fácil do que hoje, porque há mais competição, mais empresas e pessoas a adquirir vinhas na região, o que tem levado, inclusive, a que alguns dos locais tenham hoje uma ideia errada sobre o valor das suas vinhas”, conta Rui Reguinga, salientando que nem todas têm potencial para gerarem vinhos de qualidade, ou por má localização ou por algumas delas terem também plantadas uvas de mesa. Este foi o caminho feito no campo.
O valor das vinhas velhas
Mas depois de produzido o primeiro vinho, da colheita de 2004, foi preciso abrir garrafas, fazer provas junto de clientes e consumidores, para o apresentar, e também todo o potencial da Serra de São Mamede para gerar vinhos distintos e de qualidade. “Hoje em dia há mais produtores a fazer o mesmo, o que é benéfico para mim e para a região, mas este foi um trabalho que tive de iniciar sozinho, com as vantagens e desvantagens de ser pioneiro”, salienta o enólogo.
Uma das primeiras dificuldades foi demonstrar que os vinhos de vinhas velhas, que produzem pouco, têm de ser valorizados por isso, pela sua raridade, e pela sua qualidade e características distintas. “De outra forma, o projecto não era rentável e não fazia sentido, dado que este é um negócio e não um hobby”, explica Rui Reguinga. Não foi fácil fazer isso no início, numa altura em que a Adega Cooperativa de Portalegre colocava vinhos DOC Portalegre “a preços baixos, o que gerava alguma confusão no mercado e dificuldades para vender o meu produto”. Foi preciso muita perseverança, muito do chamado “trabalho de comunicação e marketing dos pequenos produtores, que não tem dinheiro para mais”, que passa por abrir garrafas e fazer provas com os clientes, para explicar os vinhos, a sua história e estórias, para firmar o seu nome e dos vinhos da serra no mercado.
Hoje Rui Reguinga tem 15 hectares na Serra de São Mamede, cinco dos quais de vinhas muito velhas, a partir das quais produz entre 10 e 12 mil das cerca de 50 mil garrafas de vinho da região que comercializa. A maior parte são vinhos “Terrenus Clássico”, como Rui Reguinga gosta de lhe chamar, enquanto o restante são vinhos de pequenas produções. O Clos dos Muros, propriedade com 0,6 hectares, produz apenas cerca de 1300 garrafas de vinho, por exemplo.
A descoberta dos brancos
No início, o enólogo focou-se na produção de vinhos tintos. Diz que até se esquecia que tinha castas brancas nas suas vinhas, e que oferecia as suas uvas ao responsável pela viticultura, que produzia vinho de talha com elas. Só fez o primeiro ensaio de produção de branco em 2008, porque achava, até aquele momento, que não tinham potencial para a produção de qualidade. “Mas estava completamente enganado”, afirma, acrescentando que uma das desvantagens de ter sido pioneiro na região foi não ter descoberto, desde logo, aquilo que estava mesmo à frente dos seus olhos: “o potencial da serra para a produção de grandes brancos”. O final do primeiro ensaio, feito com base num field blend (lote de uvas de várias castas colhidas em simultâneo no campo) de uvas brancas, mostrou isso, dando origem “a um branco extraordinário, com boa acidez, complexidade, boca e grande potencial de envelhecimento, tal como os tintos”, conta.
Ainda hoje Rui Reguinga está à procura de vinhas. Por isso, quando alguém o contacta para oferecer as suas, não deixa de as ir ver, como aconteceu este ano, em que vinificou uvas de uma vinha “rodeada de árvores, perdida na serra”. Mas sem pressa, porque hoje o seu projecto “está equilibrado financeiramente, para o número de garrafas que produz e preço médio por unidade”, diz o enólogo. Mas se as vinhas valerem a pena, vai continuar a investir nelas.
A gestão do tempo
Tal como ontem, ainda hoje a parte mais difícil do seu trabalho é a gestão do tempo. Mesmo que tenha criado uma equipa em que delega muito trabalho. E embora a sua aprendizagem agronómica e a sua carreira tenham tido a enologia como foco principal, “a viticultura é inevitável”. Por isso, vai acompanhando a vinha o mais de perto possível, aproveitando os conhecimentos sobre a sua protecção e maneio que aprendeu na universidade e foi melhorando com o tempo, até porque as vinhas velhas têm de ser mantidas e recuperadas. Como é evidente, a vindima mantém-no focado na adega. A seguir, viaja. Vai visitar os mercados externos para fazer provas para os seus importadores e mostrar as novas colheitas. “É um trabalho constante, porque eles gostam da nossa presença e os mercados podem ser perdidos se os deixamos um pouco mais abandonados”, explica, salientando a importância da proximidade ao mercado no sector dos vinhos, que “têm de ter uma cara por detrás”. Foi, há bem pouco, que abriu o seu enoturismo, um espaço com aquele ar sedutor de uma tasca de província de outros tempos, ao lado da sua pequena adega e bem perto das ruínas de Ammaia, grande cidade romana, em São Salvador da Aramenha. É apenas mais um dos sítios onde vale a pena ir, de uma região com muito para visitar.
Artigo publicado na edição de Dezembro de 2024
WineStone com os olhos no topo: Alentejo, Douro, Verdes, Lisboa…

Ligada ao grupo José de Mello, o Winestone Group integra, no seu portfolio, as marcas Ravasqueira (Alentejo), Quinta de Pancas (Lisboa), Paço de Teixeiró (Verdes), Quinta do Côtto (Douro) e Krohn (Vinho do Porto). Foi num ambiente de celebração que fomos recebidos na Quinta do Retiro Novo, onde pontificam os lendários tonéis dos vinhos do […]
Ligada ao grupo José de Mello, o Winestone Group integra, no seu portfolio, as marcas Ravasqueira (Alentejo), Quinta de Pancas (Lisboa), Paço de Teixeiró (Verdes), Quinta do Côtto (Douro) e Krohn (Vinho do Porto). Foi num ambiente de celebração que fomos recebidos na Quinta do Retiro Novo, onde pontificam os lendários tonéis dos vinhos do Porto Krohn e que “em breve fruto da modernização das instalações em curso produzirá também vinhos Douro”. Para o CEO da empresa, Pedro Pereira Gonçalves, “celebrar o primeiro ano da Winestone e podermos partilhar e dar a provar os novos vinhos, é um motivo de enorme satisfação. Queremos estar nas regiões mais importantes de Portugal, criando bases sólidas para o futuro, ambicionando figurar, a curto/médio prazo, no top três do setor dos vinhos, sendo um agente ativo também na promoção além-fronteiras. É o nosso primeiro evento neste local e de comemoração.”
Uma das grandes diretrizes do grupo é a de manter e honrar o legado, inovar e potenciar, sempre com o respeito pelas gerações, preservando o sentido de lugar de cada casa e a identidade de cada quinta, transportando assim a sua autenticidade. Para isso, conta com uma jovem equipa de enologia, local, coordenada a nível nacional pelo experiente David Baverstock.
Com os olhos postos em 2025, a empresa apostará na continuidade da “reorganização de portefólio, reestruturação do património vitivinícola e capacitação de recursos humanos”, e prepara um “investimento relevante” na Quinta do Retiro Novo (Douro) e na Quinta de Pancas (Lisboa).
O kick-off na Ravasqueira
Foi na Ravasqueira onde tudo começou, ou não tivesse sido esta a primeira propriedade adquirida pelo grupo José de Mello. Só este ano o investimento foi de seis milhões “na capacitação das infraestruturas produtivas, espaço e equipamento”, entre outros “em linhas de engarrafamento” no centro de vinificação, uma fatia de um investimento global de 30 milhões de euros em aquisições e recapacitação de ativos, salienta Pedro Pereira Gonçalves. Os vinhos estão cada vez mais afinados e num patamar de qualidade superior, em resultado do trabalho de precisão da enóloga residente, Ana Pereira. Destaque, na prova efetuada, para o sofisticado Ravasqueira Espumante de 2015, produzido exclusivamente da casta Alfrocheiro, o Ravasqueira Alvarinho, fresco e citrino, com complexidade pouco comum fora de Monção e Melgaço ou o tinto 100% Touriga Franca, com uma fruta muito pura e gulosa. Entre outros vinhos naturalmente, como por exemplo os “clássicos” Vinha das Romãs. Qualidade inegável.
Foi na Ravasqueira onde tudo começou, ou não tivesse sido esta a primeira propriedade adquirida pelo grupo José de Mello
Paço de Teixeiró e Quinta do Côtto
Pertencentes anteriormente ao grupo Champalimaud e hoje no seio da Winestone, ambos são projetos com muita tradição e identidade. Sob a batuta da enóloga Mafalda Machado, ganham novo fôlego, a recuperação de referências clássicas e a criação de novas.
A Quinta do Côtto, situada entre Mesão Frio e Peso da Régua, possui uma localização privilegiada com vinhas ancestrais, muitas delas com mais de 100 anos, plantadas entre os 120 e os 430m de altitude. Um terroir onde se produzem há mais de 50 anos alguns dos vinhos mais icónicos da região, repletos de elegância e frescura, o que se veio a comprovar na prova efetuada, onde, nos tintos, se mantém a aposta nos monovarietais Bastardo e Sousão – vinhos realmente especiais e nos lendários Grande Escolha e Vinha do Dote – tintos arrebatadores. Mas é nos brancos que reside a maior novidade, com o regresso dos Côtto Branco e Côtto Reserva branco para completar o portfolio.
O Paço de Teixeiró é a casa da casta Avesso. Situado em Baião, este terroir único está localizado em solos xistosos, ao contrário da maioria dos produtores de Vinho Verde. É o local perfeito para produzir vinhos brancos minerais e de acidez crocante, principalmente a partir das castas Avesso, Loureiro e Alvarinho. A criação da nova gama Teixeiró (blend, Avesso e Alvarinho), com uvas adquiridas a produtores locais, dá origem a “vinhos leves, frescos e acessíveis”, enquanto a gama Paço de Teixeiró acrescenta, ao já seu carismático Avesso, um outro vinho feito exclusivamente da casta Loureiro “permitindo, assim, exprimir as castas por si só, num terroir de eleição”, salienta Mafalda. Mas a grande novidade é a criação, pela primeira vez, de um vinho branco de parcela, o Paço de Teixeiró Vinha de Sousais, um branco delicioso e que dará seguramente que falar, mostrando, na plenitude, a parcela especial que lhe deu origem
Quinta de Pancas, legado de Lisboa
Fundada em 1945, a Quinta de Pancas fica uma propriedade histórica que remonta ao século XV. Com uma área total de 75 hectares, tem mais de 60 hectares de vinhas situadas em Alenquer, a 35 quilómetros a leste do Oceano Atlântico. As vinhas estão plantadas numa paisagem protegida pela Serra de Montejunto. Com Vasco Costa à frente da enologia, o objetivo passa por resgatar o legado de “um terroir único, que produz alguns dos melhores Cabernet Sauvignon e Chardonnay de Portugal”. Para já assistimos a uma imagem mais clean e renovada da marca, onde pontificam branco, tinto e rosé, todos reserva, com enorme frescura e equilíbrio, e os monovarietais Chardonnay e Cabernet Sauvignon, num recomeço auspicioso. Ainda em projeto está a construção de uma nova adega, que nascerá de uma intervenção nos edifícios contíguos aos utilizados atualmente. “Queremos dar, à Quinta de Pancas, uma adega como ela nunca teve e transformá-la numa marca de referência da região de Lisboa.”, salienta Pedro Pereira Gonçalves.
A magia dos Vintage da Krohn
Para fim de festa estava destinado o ponto alto do dia, com a prova dos Vintage Krohn numa viagem de mais de 60 anos, entre 1960 e 2022. Se a Krohn é sobejamente conhecida pela qualidade dos seu Porto Colheita, ficou claro que, nos Vintage, a magia também está presente. Vintages deliciosos, em que o equilíbrio doçura/acidez foi notório em toda a prova. Assim, tivemos oportunidade de apreciar o 2022, ainda em amostra de cuba, naturalmente nesta fase bastante exuberante nas notas de fruta vermelha e preta, mas com frescura e elegância, a prometer muito. O Krohn Vintage 2017, de um ano clássico, tem fruta de muita qualidade, notas de esteva e perfumes florais, taninos lineares, saboroso expressivo, com a profundidade e intensidade desta vindima (18,5 pontos). Já o Vintage de 2003 revela cor negra bem carregada, aromas concentrados de fruta madura e algum fruto seco, num registo encorpado e carnudo (17,5). Em grande forma o 1970, muito complexo, fruto seco, café, notas de farmácia e vinagrinho a engrandecer um conjunto de final extremamente longo (19). A prova terminou em beleza com o Krohn Vintage 1960. Seis décadas em garrafa num Vintage delicado e etéreo, que exibe discretas notas de especiarias sobre um fundo de aroma de caramelo e noz, e algum vinagrinho. Mais morno que o 1970, mas igualmente esplendoroso (19).
No conjunto, a Winestone pode hoje orgulhar-se de deter cinco marcas de prestígio que correspondem a outras tantas denominações de origem espalhadas pelo país vinícola. E, tendo em conta o objetivo anunciado de chegar ao top três nacional em volume e faturação, certamente não vai ficar por aqui…
Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
Artigo publicado na edição de Dezembro de 2024
Sovibor: Mamoré de primeira grandeza

A sede da Sovibor fica no centro de Borba, em instalações com mais de dois séculos e foi estabelecida em 1968, em resultado da fusão de dois negócios de vinhos de famílias diferentes. Produz vinhos a partir de 80 hectares de vinhas próprias, mais 120 de parceiros, uma parte significativa das quais de vinha velha. […]
A sede da Sovibor fica no centro de Borba, em instalações com mais de dois séculos e foi estabelecida em 1968, em resultado da fusão de dois negócios de vinhos de famílias diferentes. Produz vinhos a partir de 80 hectares de vinhas próprias, mais 120 de parceiros, uma parte significativa das quais de vinha velha.
Chegou a ser uma das maiores empresas da região, mas, com o tempo, foi perdendo relevância e o seu negócio entrou em decadência até ser adquirido, em 2014, pelo empresário Fernando Tavares, proprietário da distribuidora Sotavinhos, que opera a nível nacional. Depois dessa data foram feitos investimentos na melhoria das instalações, e do processo de vinificação e engarrafamento da adega, que permitiram, à empresa, seguir novos padrões de qualidade e criar novas marcas de vinho. “A Mamoré de Borba, criada em 2015, é a nossa referência premium”, conta Rita Tavares, filha de Fernando Tavares e enóloga residente da empresa. Inclui uma gama alargada de vinhos e vinhos de talha, bagaceiras e aguardentes vínicas.
A apresentação da nova colheita do topo de gama tinto, o Mamoré de Borba Grande Reserva 2020, decorreu no restaurante Magano, em Lisboa, um lugar de sabores e aromas apropriado para um evento deste tipo, como se notou na parceria de dois dos petiscos que vieram para a mesa no início com o novo Mamoré de Borba Reserva branco 2023, as saladas de bacalhau com grão e de polvo, que se equilibraram muito bem com a sua textura, volume e frescura de boca, ou os sabores e aromas do cabrito assado no forno, que fizeram grande parceria com o Mamoré de Borba Grande Reserva 2020.
“A marca Mamoré de Borba, criada em 2015, é a nossa referência premium”, diz Rita Tavares, enóloga residente da empresa
O conforto das vinhas velhas
Trata-se somente da segunda colheita desta referência, o topo de gama da Sovibor, produzido a partir das vinhas velhas de sequeiro desta casa. Segundo António Ventura, enólogo consultor da empresa, estão situadas numa zona caracterizada por uma precipitação superior à média do resto do Alentejo, a uma altitude de 420 metros, onde existem sobretudo solos xistosos e argilo-calcários. “As vinhas velhas em causa vegetam sobre xistos castanhos, que são porosos, o que contribui para que se sintam confortáveis, porque têm grande capacidade de retenção da água”. Após a vindima, as uvas destinadas a produzir o Mamoré de Borba Grande Reserva 2020 são refrigeradas em camião frigorífico, pisadas a pé em lagar de mármore duas vezes por dia, com maceração pré e durante a fermentação que decorrer durante 48 e 72 horas. O estágio em madeira durou 18 meses, em barricas de carvalho francês de Allier e de Vosges de 300 e 500 litros, de primeira e segunda utilização, antes do engarrafamento. É um tinto que se pode beber agora ou durante muito mais tempo e merece as honras de figurar como estrela de primeira grandeza, não apenas do portefólio Sovibor, mas entre os vinhos do Alentejo.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2024)
Vinha das Penicas: A colocar Sicó no mapa

A sub-região das Terras de Sicó, localizada na Beira Atlântico, possui uma rica história vitivinícola que remonta a séculos. Esta área, que inclui partes dos concelhos de Condeixa-a-Nova, Penela, Alvaiázere, Ansião, Pombal e Soure, é conhecida pelas suas vinhas antigas e pelo cultivo de castas tradicionais. Durante a era romana, a viticultura já era uma […]
A sub-região das Terras de Sicó, localizada na Beira Atlântico, possui uma rica história vitivinícola que remonta a séculos. Esta área, que inclui partes dos concelhos de Condeixa-a-Nova, Penela, Alvaiázere, Ansião, Pombal e Soure, é conhecida pelas suas vinhas antigas e pelo cultivo de castas tradicionais.
Durante a era romana, a viticultura já era uma atividade próspera na região, em redor de Conímbriga, uma das maiores cidades romanas de Portugal, situada no coração das Terras de Sicó. O cultivo da videira e a produção de vinho sempre estiveram profundamente enraizados na economia familiar destas comunidades. No entanto, ao longo do tempo, as dificuldades económicas e a migração das populações para as cidades levaram ao abandono de muitas vinhas.
A região é marcada por um relevo cheio de encostas e vales. A Serra da Lousã, a leste, contribui para as suas amplitudes térmicas, com altas temperaturas de dia e noites frescas. A Serra de Sicó, embora seja de altitude mais baixa, oferece alguma protecção dos ventos atlânticos e cria diferentes exposições solares. De um modo geral, o clima é menos atlântico e chuvoso nas Terras de Sicó do que na Bairrada. Os solos são essencialmente argilo-calcários com afloramentos de xisto. Estes calcários, formados em antigos ambientes marinhos durante o período Jurássico e Cretácico, quando a Serra de Sicó estava submersa, são ricos em conchas fossilizadas que muitas vezes se encontram nas vinhas.
Paixão pela casta Baga
Terras de Sicó foi delimitada, em 1993, como sub-região da região das Beiras que, na altura, também enquadrava a Beira Alta e a Beira Litoral. Na reorganização institucional do sector, em 2011, passou a fazer parte da IG Beira Atlântico. Nos últimos cinco anos nota-se uma dinâmica nesta sub-região e já existem 15 produtores certificados. É esta a terra de Alberto Almeida, nascido numa pequena aldeia no concelho de Coimbra, onde desde cedo teve contacto com as práticas agrícolas. O seu pai e avô produziam vinho para consumo familiar, e foi nas vinhas que Alberto passou uma boa parte de sua infância, nos anos 70, brincando e participando nas actividades do campo. Naquela época, achava o trabalho na terra muito duro e, assim que pôde, rumou para a cidade em busca de uma vida diferente.
Alberto trabalha na área de saúde mental. É psicodramatista e conduz sessões de terapia em grupo. No entanto, ao aproximar-se dos 30 anos de idade começou a sentir uma nostalgia crescente do campo e da cultura da terra, que “já não era vista apenas na perspectiva de dureza, mas também de magia”. Essa saudade levou-o a juntar-se aos grupos de provas e visitar eventos vínicos, o que lhe ajudou a desenvolver o gosto próprio pelos vinhos elegantes e frescos. Foi neste contexto que descobriu a casta Baga, pela qual se apaixonou.
Em 1997, Alberto decidiu voltar às suas raízes e mudou-se para Podentes, onde descobriu vinhas centenárias que despertaram a sua vontade de reviver o património vinícola da região. Começou por comprar duas parcelas de vinha e agora já tem cinco, de dimensões variadas, de 0,5 até 1 ha. O minifúndio era uma realidade naquele território, e as vinhas suportavam a economia familiar outrora. As castas que tem são as da Bairrada antiga (antes de entrada de castas estrangeiras) e de uma parte do Dão, excluindo a Touriga Nacional. Normalmente estão misturadas, algumas com metade de variedades brancas misturadas com tintas, outras com 90% de castas tintas, onde predomina a Baga. Curiosamente, a Grand Noir está bastante presente nos encepamentos. Presumivelmente “terá sido trazida na altura de construção de caminhos de ferro, há 120-130 anos”, supõe Alberto.
Castas antigas predominam
Como as Terras de Sicó nunca tiveram uma grande expansão comercial, a sub-região ficou imune ao boom de castas estrangeiras, que se sentiu noutras regiões do país. Alberto valoriza muito este facto e, para preservar o seu encepamento histórico, está a fazer a enxertia com o matérial genético das próprias vinhas.
Antigamente, na época da produção familiar, era comum os pisos térreos servirem de adegas. É numa casa destas que, em 2006, começou as primeiras microvinificações. Autodidata e experimentalista, o ainda jovem produtor percebeu que “não é possível fazer vinho sem entender absolutamente nada”. Foi colhendo algum conhecimento técnico através das formações organizadas pela Estação Vitivinícola da Bairrada, para além da muita conversa com os enólogos e produtores. Experimentando diferentes métodos de extracção, tempos de cuba e de estágio, tipos de carvalho (testou, por exemplo o carvalho americano, que não o convenceu), construiu um perfil de vinhos com que se identificou.
Os processos são rudimentares, com improvisos técnicos e investimento limitado. Devido à idade avançada das vinhas não aramadas, a mecanização não é possível e muito trabalho no terreno é feito pelo próprio. A vinificação ocorre em lagar com leveduras indígenas, para o estágio usa barricas de carvalho francês usadas. O seu objetivo “não é criar vinhos excêntricos, mas sim transmitir emoção e desafiar sensações”.
Com pouca pressa e muita paciência, Alberto fez o seu percurso de mais de uma década a experimentar e ensaiar, sem perder de vista o objectivo de lançar um dia o seu próprio vinho certificado. As primeiras colheitas lançadas para o mercado foram um branco e um tinto de 2017 e um espumante de 2018. Agora também tem um branco de curtimenta que chama “À moda antiga”, com 12 dias de fermentação em lagar com películas.
O espumante resulta de uma primeira monda de todas as parcelas. As uvas para o curtimenta são vindimadas uma semana depois nas mesmas parcelas, e um pouco mais tarde colhe uvas para o vinho branco, que tem um contacto pelicular de dois dias em lagar e um estágio posterior em barricas usadas e deposito de cimento.
O projecto tem muito a ver com o seu criador, desde o perfil dos vinhos até à imagem dos rótulos singela, quase naïf, com umas conchas que parece terem saído de um livro para crianças. “Eu brincava com estas conchas na minha infância, na vinha do meu pai. O rótulo é pessoal e tem muito significado para mim. Toda a construção de imagem é pessoal”, explica Alberto.
A produção resume-se a 10 mil garrafas e, este ano, Alberto Almeida estima chegar aos 15 mil. “Não acredito ter condições para crescer pela quantidade de garrafas, o que me obrigava a ir aos limites físicos e de estrutura. Não consigo expandir a adega. Prefiro ir pelo caminho de valorização da marca. Sei que é um jogo de paciência.”
“É demasiado grande para ser um hobby e demasiado pequeno para ser um negócio”, diz o produtor na brincadeira, enquanto procura, não só alcançar os objectivos pessoais, mas também contribuir para colocar a sub-região Terras de Sicó nos mapas vitivinícolas de Portugal, sobretudo no imaginário do consumidor.
(Artigo publicado na edição de Novembro de 2024)