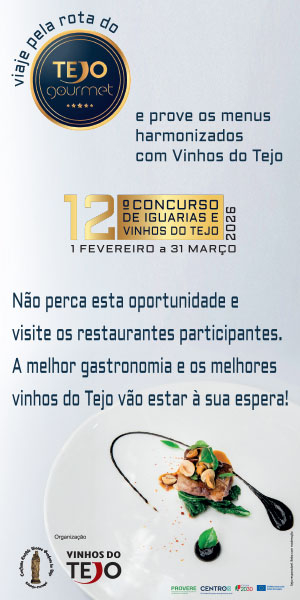Desde a sua criação em 1908, a região dos Vinhos Verdes passou por diversos impulsos de rotura com o passado que possibilitaram saltos importantes no seu desenvolvimento. Actualmente, um conjunto de produtores, grandes e pequenos, está a liderar um desses momentos, criando condições para mudar a forma como olhamos o Vinho Verde.
TEXTO Luís Lopes
Comecei a escrever sobre vinhos em 1989, no início do movimento dos chamados “Verdes de Quinta”. Foi uma verdadeira revolução na região, uma revolução romântica, se quisermos, protagonizada por proprietários de casas e solares minhotos (alguns com muitos séculos de história) que queriam evidenciar a sua singularidade e, ao mesmo tempo, dar um cunho mais pessoal a um vinho assente quase exclusivamente em grandes marcas “sem rosto”.
Solar das Bouças, Casa de Sezim, Paço d’Anha, Casa de Cabanelas, Casa de Compostela, Casa da Senra, Casa de Vila Boa, Casa de Vilaverde, Quinta de S. Cláudio, Quinta do Tamariz ou Quinta de Azevedo foram alguns dos mais de 20 produtores que decidiram romper com o paradigma tradicional do Vinho Verde – vinhos simples, baratos, com gás e doçura – e ambicionar ir mais além, com vinhos secos e mais sérios, que transportavam uma identidade e o conceito de “produtor-engarrafador”. A vaga dos vinhos de quinta, que alastrou depois ao resto do país, teve na região dos Vinhos Verdes a sua locomotiva e hoje poucos se lembram disso. Mas o mercado dos Verdes não estava ainda suficiente maduro para acolher a ousadia e vários destes pioneiros ou desapareceram ou, a dada altura, tiveram que se adaptar a um estilo mais comercial para se manterem no activo. O conceito e o propósito, porém, ficaram.
Hoje, os tempos são outros, o consumidor também e, não menos importante, a viticultura da região está muito melhor preparada para responder aos desafios qualitativos. Ou seja, ao contrário do que a revolução das quintas pensava, para fazer um Verde mais ambicioso na qualidade e no preço não basta tirar o gás e o açúcar, é preciso que esse vinho exprima o melhor das mais nobres castas regionais (Loureiro, Avesso, Arinto e, cada vez mais, Alvarinho) e do carácter da terra que o viu nascer.
Quem estiver minimamente atento terá percebido que o processo de mudança já se iniciou, com o Vinho Verde a assumir, a pouco e pouco, dois estilos bem distintos: o perfil “clássico”, com álcool baixo, gás, leve doçura, e preço a rondar os €3 (acima da média nacional, vale a pena mencionar…); e o perfil “moderno”, elegante, intenso, encorpado, vendido por valores entre os €6 e os €10 a um segmento de apreciadores mais exigente. São duas realidades absolutamente compatíveis e com o seu espaço muito próprio no mercado.
Porém, na construção deste Verde moderno e ambicioso existem caminhos que, em minha opinião, deverão ser evitados. Um deles passa pelo abuso da tecnologia: um vinho branco é tudo menos um sumo de maracujá. O outro, não menos preocupante, é o excesso de álcool (por vezes acima dos 13%), ao qual por vezes se associa a perda de acidez, desvirtuando o carácter da região. Não esqueçamos que o Vinho Verde tem a vantagem de ser, ao mesmo tempo, uma denominação de origem e uma categoria de produto. Um pouco como o Champagne, salvaguardadas as devidas distâncias. Por isso, o principal desafio dos modernos Verdes passa por mostrar que é possível fazer vinhos brancos de superior categoria com álcool moderado e elegante frescura, preservando a sua singularidade. O que é o mesmo que dizer, grandes vinhos brancos que não deixem de ser… Verdes!
Edição Nº15, Julho 2018