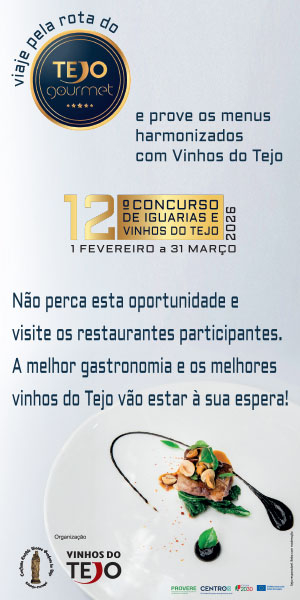Viajámos de Norte a Sul de Portugal para saber onde se produzem as melhores ostras. E descobrimos porque é que os franceses as levam (quase) todas.
TEXTO Ricardo Dias Felner FOTOS Ricardo Palma Veiga
MARGARIDA Simões aponta para uma língua de mar cheia de sedimentos, ladeada por muros de argila, que vem desembocar nos tanques piscícolas. “Na maré vazia este canal fica seco e a exposição ao sol mata tudo o que é e.colis. É um processo depurador natural e é isso que faz com que as nossas ostras sejam únicas”.
A dona do Moinho dos Ilhéus fala com o entusiasmo de um encenador, gestos largos, pose de artista. E não esconde o orgulho no seu produto. O Moinho dos Ilhéus, no Livramento, entre Olhão e Tavira, é apontado por chefs e gastrónomos como tendo das melhores ostras da Ria Formosa e do país. “São diferentes de todas as outras. Disso não tenha dúvidas.”
Tradutora ligada à literatura científica, sexagenária, Margarida só entrou tarde no negócio. A propriedade pertencia à família, que a teve arrendada a uma multinacional norueguesa de aquicultura. Durante duas décadas os tanques serviram para produzir robalos e douradas em regime intensivo. “Fizeram-se aqui muitas maldades. Mas a Ria tem um poder regenerador fantástico”, prossegue. A reabilitação começou em 2013, altura em que se iniciou a sementeira das ostras. Semear é mesmo a palavra. Margarida estudou tudo do zero e aconselhou-se com John Bayse, um especialista inglês, dono de uma maternidade de ostras, que lhe vendeu as melhores sementes de ostra japonesa (crassostrea gigas), a espécie mais popular em todo o mundo, no caso triplóide, ou seja, que não se reproduz.

Em 2014, o guru mundial do comércio de ostras, Thierry Gillardeau, agora aos comandos da empresa familiar fundada em 1898, esteve no Moinho e quis levar logo toda a produção. As ostras de Margarida atingiam o calibre ideal ao m de um ano (em França demoram três), com um peso por unidade entre as 60 e as 100 gramas. Eram lisas e roliças e tinham uma salinidade extraordinária, compensadas com um final adocicado. “É o terroir. O meu terroir é único”, justifica Margarida, apontando para um bando de corvos marinhos.
Este parecia o cenário ideal para Margarida, e na verdade é aquilo que todos os produtores querem. De Aveiro a Tavira, toda a gente procura um comprador que lhe leve toda a produção. Na altura, a Gillardeau, com sede perto de La Rochelle, na costa ocidental francesa, fez com as ostras do Moinho o que faz com muitas outras da Ria Formosa: pagou bem e pagou rápido, agarrou nelas, pôs-lhe o carimbo “Spéciale Gillardeau” e exportou-as para todo o mundo, de Moscovo ao Dubai.

Hoje, o Moinho está focado sobretudo no mercado nacional, mas a maioria dos produtores nacionais continuam a olhar para o estrangeiro. Em Aveiro, por exemplo, mais de 90 por cento da produção vai para fora, sobretudo para França e para a Holanda. A ostra aveirense é da mesma família da do Algarve. O que as distingue é a qualidade das sementes, as características do ambiente aquático (as ostras filtram cerca de 30 litros de água por hora) e o método de produção.
A segundos da mesa
Sandro Sousa, um dos produtores mais experientes de Aveiro, tem a sua propriedade já perto da cidade. Na Ostraveiro, usam-se dois métodos. Para além da técnica mais comum das sacas, parte das ostras está submersa dentro de cilindros. A diferença com as ostras de saco de Sandro é evidente na forma das conchas, polidas pelo movimento de rotação dentro dos cilindros e, por isso, mais atraentes. Há também quem ache, como Sandro, que isso favorece a sua alimentação, tornando-as mais carnudas.
A carne é, aliás, o que toda a gente procura. Uma ostra magra vale pouco. O que se quer é um músculo adutor grande, a encher a concha. Todos os órgãos, e são muitos, devem aparecer bem definidos, com o rebordo preto bem delineado em volta da membrana exterior. O que por vezes parece uma pastilha gelatinosa é, afinal, um bicho com estômago, guelras, ventrículo, intestinos, fígado. Na Ostraveiro, a viagem da ostra da água para a mesa pode demorar segundos. Mesmo junto aos tanques, num ilhéu rodeado de água, está o restaurante (tem de reservar e tem de ir de barco) onde Sandro faz degustações. Apesar de ter uma depuradora, às vezes a tentação de as levar logo à boca é mais forte. “Faço análises regularmente e sei o que estou a comer”, garante. Para além de ostras, serve-se também berbigão dentro de um pão rústico, com molho à Bulhão Pato.

O turismo ligado aos bivalves da Ria pode ser uma solução para um negócio que está longe de ser seguro, devido quer à mão-de-obra que implica, quer ao facto de muitos portugueses ainda desconfiarem de um bicho que se come vivo.
Mesmo os mais insuspeitos temem comê-lo. Margarida Simões, por exemplo, admite. “Antigamente, não as comia. Fui obrigada. A engenheira da Gillardeau que cá veio, logo no início, passou-me um atestado de incompetência e então eu experimentei-as. Mas só gosto das minhas, que não são gelatinosas. E só como das pequeninas. E mastigo. A ostra tem de ser mastigada para ser saboreada. Fico furiosa quando vejo alguém a deglutir as minhas ostras.”
As ostras maiores do Moinho podem chegar às 400 gramas. A intensidade é maior quanto maior a dimensão, trazendo notas mais amargas. Há no entanto mercado para elas, sobretudo entre os chefs. O Moinho vende as pequenas para restaurantes Michelin, do Ocean ao Vista, mas há quem aproveite as grandes — e bem. “A Noélia [do restaurante Noélia & Jerónimo, em Cabanas de Tavira], que é a nossa madrinha, faz com elas um arroz com espumante maravilhoso”, garante Margarida.
A ostra-portuguesa
Outros chefs, contudo, preferem as ostras do Sado. São os casos de André Magalhães, do restaurante Taberna das Flores (Lisboa), e de Tiago Emanuel Santos, do Anna’s (Aveiro), ambos conhecidos pela importância que dão ao produto. Na sua opinião, as ostras de Setúbal, ainda que menos salgadas, são firmes e têm um músculo grande. Tiago enaltece o seu sabor iodado, André a sua complexidade. Os dois preferem as da Neptunpearl, empresa estabelecida na Gâmbia, zona do Estuário do Sado que não está contaminada.

Também aqui é uma mulher quem está à frente do projecto. Célia Rodrigues é uma apaixonada pelo mar e uma defensora fervorosa de uma espécie autóctone: a crassostrea angulata, popularizada em todo o mundo como ostra-portuguesa e, hoje, ameaçada pela introdução da ostra japonesa diplóide.
Célia também tem da japonesa e da plana, mas não entra em competições. O segredo — diz — está na técnica. A NeptunPearl tem sacos mas é das poucas empresas a produzir em regime de fine de claire, uma técnica francesa em que as ostras são trabalhadas fora dos sacos, uma a uma. “É isso que faz com que todas tenham um índice de carne superior a 15 por cento, relativamente ao peso total, tornando-as especiais”, garante.
Daqui decorre que, seja em Aveiro, seja na Ria Formosa, seja em Setúbal, cada produtor tem ostras especiais. O problema, muitas vezes, é conseguir comprá-las antes de um importador deitar-lhes a mão e levá-las além-fronteiras.

Margarida está agora a provar umas de tamanho 3, com umas 80 gramas, numa casa de apoio à exploração. Foram apanhadas de manhã. Olha para ela e vira-a. “A ostra é fantástica. Parece um pedregulho, mas é um ser extraordinário, até limpa a casa. Olhe para esta, tão bonita.”
A história acaba como deve acabar uma história de ostras. Sem concha, o bivalve está agora na mão de Margarida, que o mete na boca. Mastiga ligeiramente, passa a ostra de uma bochecha para a outra, fecha os olhos. “Hummmmm.”